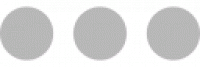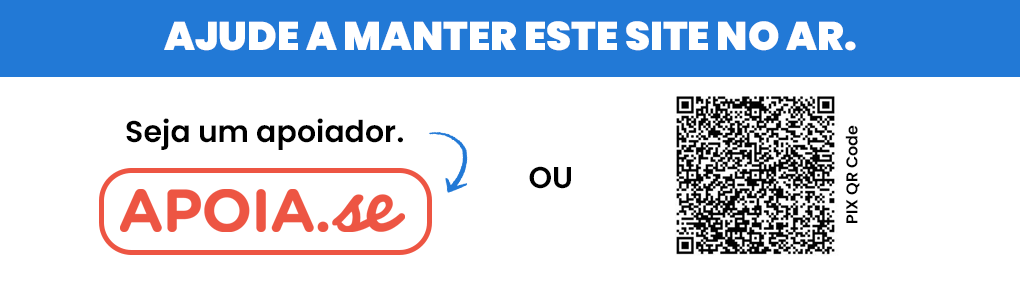A arte da biografia, dizemos nós — no entanto, imediatamente perguntamos: A biografia é uma arte? A pergunta talvez seja tola, e certamente sem graça, considerando o grande prazer que os biógrafos nos têm dado. Contudo, tal pergunta se faz com tanta freqüência que deve haver algo por trás dela. Ela está ali, sempre que uma nova biografia é aberta, lançando sua sombra na página; e parece haver algo mortal nessa sombra, porque afinal de contas, da multidão de vidas que estão escritas, quão poucas são as que sobrevivem!
Contudo, a razão para essa alta taxa de mortalidade, o biógrafo poderia argumentar, é o fto de que a biografia, comparada com as artes da poesia e da ficção, é uma arte jovem. O interesse em nós mesmos e em outras pessoas é parte de um desenvolvimento tardio da mente humana. Só no século XVIII na Inglaterra é que essa curiosidade se expressou ao se escrever sobre a vida de pessoas privadas. Somente no século dezenove a biografia foi plenamente desenvolvida e tournou-se extremamente prolífica. Se é verdade que houve apenas três grandes biógrafos — Johnson, Boswell e Lockhart — a razão, argumentaria o biógrafo, é que o tempo foi curto; e seu apelo, de que a arte da biografia teve pouco tempo para se estabelecer e se desenvolver, é certamente confirmado pelos livros didáticos. Por mais tentador que seja explorar a razão, — o porquê, digamos, o eu que escreve um livro de prosa surgiu tantos séculos depois do eu que escreve um poema, o porquê de Chaucer ter precedido Henry James, — é melhor deixar essa questão insolúvel sem ser abordada, e assim passar para sua próxima razão para a falta de obras-primas. Ocorre que a arte da biografia é a mais restrita de todas as artes. Assim, ele tem sua prova pronta para entregar. Eis aqui no prefácio em que Smith, que escreveu a vida de Jones, aproveita a oportunidade para agradecer aos velhos amigos que lhe emprestaram as cartas, e “por último, mas não menos importante” à Sra. Jones, a viúva, por essa ajuda “sem a qual,”, tal como ele diz, “esta biografia não poderia ter sido escrita”. Ora, o romancista, apontaria o biógrafo, diz simplesmente em seu prefácio que ‘todo personagem deste livro é fictício’. O romancista é livre; o biógrafo está amarrado.
Ali talvez estejamos situados a uma distância de saudação dessa questão demasiada difícil, mais uma vez talvez insolúvel: O que queremos dizer ao chamar um livro de obra de arte? De qualquer modo, aqui está uma distinção entre biografia e ficção — uma prova de que elas diferem no próprio material de que são feitas. Uma é feita com a ajuda de amigos, de fatos; a outra é criada sem nenhuma restrição, exceto aquelas que o artista, por razões que lhe parecem boas, escolhe obedecer. Isso é uma distinção; e há boas razões para pensar que no passado os biógrafos a consideraram não apenas uma distinção, mas uma distinção muito cruel.
A viúva e os amigos foram duros mestres da obra. Suponha, por exemplo, que o homem de gênio fosse imoral, mal-humorado e tivesse jogado as botas na cabeça da empregada. A viúva diria: “Ainda o amo — ele era o pai de meus filhos; e o público, que ama seus livros, não deve, em caso algum, se desiludir. Disfarce; omita”. O biógrafo a obedeceria. E desse modo a maioria das biografias vitorianas são como as figuras de cera hoje conservadas na abadia de Westminster e que eram transportadas em procissões fúnebres pela rua — efígies que têm apenas uma suave semelhança superficial com o corpo no caixão.
Então, no final do século XIX, houve uma mudança. Novamente por razões não fáceis de se descobrir, as viúvas se tornaram mais dispostas, o público mais aguçado; a efígie não mais carregava convicção ou curiosidade satisfeita. O biógrafo certamente ganhou uma medida de liberdade. Pelo menos conseguia insinuar que havia cicatrizes e sulcos no rosto do homem morto. O Carlyle de Froude não é de maneira alguma uma máscara de cera pintada de vermelho-rosado. E, seguindo Froude, estava Sir Edmund Gosse, que ousou dizer que seu próprio pai era um ser humano falível. E após Edmund Gosse, nos primeiros anos do século presente, veio Lytton Strachey.
II
A figura de Lytton Strachey é uma figura tão importante na história da biografia que exige que se faça uma pausa. Pois seus três famosos livros, Vitorianos Eminentes, Rainha Victória, e Elizabeth e Essex, são de uma estatura capaz de mostrar tanto o que a biografia pode fazer quanto o que a biografia não pode fazer. Assim, eles sugerem muitas respostas possíveis à pergunta sobre se a biografia é uma arte e, se não for, por qual razão ela falha em sê-lo.
Lytton Strachey nasceu como um autor em um momento de sorte. Em 1918, quando ele fez sua primeira tentativa, a biografia, com suas novas liberdades, era uma forma que oferecia grandes atrações. Para um escritor como ele, que desejava escrever poesia ou peças de teatro, mas duvidava de seu poder criativo, a biografia parecia oferecer uma alternativa promissora. Porque finalmente era possível dizer a verdade sobre os mortos; e a era vitoriana era rica em figuras notáveis, muitas das quais haviam sido grosseiramente deformadas pelas efígies que haviam sido engessadas em cima delas. Recriá-las, mostrá-las como realmente eram, era uma tarefa que exigia dons análogos aos do poeta ou do romancista, mas não pedia aquele poder inventivo do qual ele se sentia carente.
Valeu bem a pena tentar. E a raiva e o interesse que seus curtos estudos sobre os Eminentes Vitorianos despertaram mostrou que ele foi capaz de fazer Manning, Florence Nightingale, Gordon, e os demais viverem tal como eles não viviam desde que de fato se encontravam em carne e osso. Com efeito, eles foram o centro de uma polêmica. Será que Gordon realmente bebeu, ou isso foi uma invenção? Florence Nightingale recebera a Ordem de Mérito em seu quarto ou em sua sala de estar? Ele despertou o público, apesar de uma guerra européia em fúria, para um interesse espantoso em assuntos de tão pouca importância. A raiva e o riso se misturaram; e as edições se multiplicaram.
Todavia, foram estudos curtos com algo da ênfase exagerada e da premonição das caricaturas. Na vida das duas grandes rainhas, Elizabeth e Victoria, ele tentou uma tarefa muito mais ambiciosa. A biografia nunca tivera uma chance tão justa de mostrar o que poderia fazer. Pois agora ela estava sendo posta à prova por um escritor capaz de fazer uso de todas as liberdades que a biografia havia conquistado: ele era destemido; ele havia provado seu brilhantismo; e havia aprendido seu trabalho. O resultado lança uma grande luz sobre a natureza da biografia. Porque quem pode duvidar, depois de ler os dois livros mais uma vez, um após o outro, que Victória é um sucesso triunfante, e que Elizabeth, por comparação, é um fracasso? Porém também parece, ao compará-los, que não foi Lytton Strachey quem falhou; foi a arte da biografia. Em Victória ele tratou a biografia como um ofício; ele se submeteu a suas limitações. EM Elizabeth, ele tratou a biografia como uma arte; ele desprezou suas limitações.
Entretanto, devemos continuar a perguntar como chegamos a tal conclusão e que razões a sustentam. Em primeiro lugar, é claro que as duas rainhas apresentam problemas muito diferentes para seu biógrafo. Sobre a rainha Victória, tudo era conhecido. Tudo o que ela fazia, quase tudo o que ela pensava, era uma questão de conhecimento comum. Ninguém jamais foi tão bem verificado e autenticado como a rainha Victoria. O biógrafo não pôde inventá-la, porque a cada momento algum documento estava à mão para verificar sua invenção. E, ao escrever sobre Victória, Lytton Strachey se submeteu às condições. Ele usou ao máximo o poder de seleção e relação do biógrafo, mas ele se manteve estritamente dentro do mundo dos fatos. Todas as declarações foram verificadas; todos os fatos foram autenticados. E o resultado é uma vida que, muito possivelmente, fará para a velha rainha o que Boswell fez para o antigo fabricante de dicionários. Com o tempo, a rainha Victória de Lytton Strachey será a rainha Victoria, assim como a Johnson de Boswell é agora o Dr. Johnson. As outras versões se desvanecerão e desaparecerão. Foi uma proeza prodigiosa e, sem dúvida, tendo-a realizado, o autor estava ansioso para pressionar ainda mais. Havia a eainha Victória, sólida, real, palpável. Mas, sem dúvida, ela era limitada. Não poderia a biografia produzir algo da intensidade da poesia, algo da excitação do drama, e ainda assim manter também a virtude peculiar que pertence aos fatos — sua realidade sugestiva, sua própria criatividade particular?
A rainha Elizabeth parecia se emprestar perfeitamente à experiência. Muito pouco se sabia sobre ela. A sociedade em que ela vivia era tão remota que os hábitos, os motivos e até mesmo as ações das pessoas daquela época eram cheios de estranheza e obscuridade. “Por qual arte devemos nos introduzir nesses espíritos estranhos? nesses corpos ainda mais estranhos? Quanto mais claramente o percebemos, mais remoto se torna aquele universo singular”, observou Lytton Strachey em uma das primeiras páginas. No entanto, havia evidentemente uma “história trágica” adormecida, metade revelada, metade escondida, na história d’a Rainha e Essex. Tudo parecia prestar-se à realização de um livro que combinava as vantagens dos dois mundos, que dava ao artista liberdade para inventar, mas que ajudava sua invenção com o apoio de fatos — um livro que não era apenas uma biografia, mas também uma obra de arte.
No entanto, a combinação se mostrou impraticável; fato e ficção se recusaram a se misturar. Elizabeth nunca se tornou real no sentido de que a rainha Victória fora real, mas nunca se tornou fictícia no sentido de que Cleópatra ou Falstaff é fictícia. A razão parece ser que muito pouco se sabia — ele foi incitado a inventar; no entanto, algo se sabia — sua invenção foi verificada. A Rainha se move assim num mundo ambíguo, entre fato e ficção, não encarnado nem desincorporado. Há uma sensação de vacância e esforço, de uma tragédia que não tem crise, de personagens que se encontram mas não se chocam.
Se esse diagnóstico for verdadeiro, somos forçados a dizer que o problema está na própria biografia. Ele impõe condições, e essas condições são a de que ele deve se basear em fatos. E por fato em biografia entendemos fatos que podem ser verificados por outras pessoas além do artista. Se ele inventa fatos como um artista os inventa — fatos que ninguém mais pode verificar — e tenta combiná-los com fatos do outro tipo, eles se destroem uns aos outros.
O próprio Lytton Strachey parece em Rainha Victória ter percebido a necessidade dessa condição, e ter cedido a ela instintivamente. “Os primeiros quarenta e dois anos de vida da Rainha”, escreveu ele, “são iluminados por uma grande e variada quantidade de informações autênticas. Com a morte de Albert, fechou-se um véu”. E quando com a morte de Albert o véu se fechou e a informação autêntica falhou, ele sabia que o biógrafo deveria seguir o exemplo. “Devemos nos contentar com uma breve e sumária relação”, escreveu ele; e os últimos anos são sumariamente descartados. Mas toda a vida de Elizabeth foi vivida atrás de um véu muito mais espesso do que os últimos anos de Victória. E ainda assim, ignorando sua própria admissão, ele passou a escrever, não uma relação breve e sumária, mas um livro inteiro sobre aqueles espíritos estranhos e corpos ainda mais estranhos dos quais faltavam informações autênticas. Por conta própria, a tentativa estava condenada ao fracasso.
III
Assim, quando o biógrafo se queixou de estar amarrado por amigos, cartas e documentos, ele estava pondo o dedo num elemento necessário da biografia; e isso é também uma limitação necessária. Pois o personagem inventado vive em um mundo livre onde os fatos são verificados por uma única pessoa — o próprio artista. Sua autenticidade reside na verdade de sua própria visão. O mundo criado por essa visão é mais raro, mais intenso e mais completo do que o mundo que é em grande parte feito com informações autênticas dadas por outras pessoas. E por causa dessa diferença, os dois tipos de fatos não se misturam; se se tocam, eles se destroem mutuamente. Ninguém, ao que parece a conclusão, pode fazer o melhor dos dois mundos; é preciso escolher, e é preciso respeitar sua escolha.
Mas embora o fracasso de Elizabeth e Essex leve a essa conclusão, tal fracasso, por ser o resultado de uma experiência ousada realizada com magnífica habilidade, leva a novas descobertas. Se ele tivesse vivido, Lytton Strachey teria sem dúvida explorado ele mesmo a veia que tinha aberto. Sem dúvida, ele nos mostrou a maneira pela qual outros podem avançar. O biógrafo está vinculado aos fatos — é assim; mas, se for assim, ele tem direito a todos os fatos que estão disponíveis. Se Jones jogou botas na cabeça da empregada, teve uma amante em Islington, ou foi encontrado bêbado em uma vala após uma noite de escândalo, ele deve ser livre para dizer isso — pelo menos até agora, conforme a lei da calúnia e do senso humano permitem.
Contudo, tais fatos não são como os fatos da ciência — que, uma vez descobertos, são sempre os mesmos. Eles estão sujeitos a mudanças de opinião; as opiniões mudam conforme os tempos mudam. O que se pensava ser um pecado é agora conhecido, pela luz dos fatos conquistados para nós pelos psicólogos, como talvez uma desgraça; talvez uma curiosidade; talvez nem uma coisa nem a outra, mas uma insignificância sem grande importância de um modo ou de outro. A ênfase no sexo mudou no interior da memória viva. Isso leva à destruição de uma grande quantidade de matéria morta que ainda obscurece as verdadeiras características do rosto humano. Muitos dos títulos dos capítulos antigos — vida na faculdade, casamento, carreira — são mostrados como sendo muito arbitrários e de distinções artificiais. A verdadeira corrente da existência do herói tomou, muito provavelmente, um rumo diferente.
Assim, o biógrafo deve ir à frente do resto de nós, como o canário do mineiro, testando a atmosfera, detectando falsidade, irrealidade, e a presença de convenções obsoletas. Seu senso de verdade deve estar vivo e na ponta dos pés. Também, como vivemos em uma época em que mil câmeras são apontadas, por jornais, cartas e diários, em todos os ângulos, ele deve estar preparado para admitir versões contraditórias de um mesmo rosto. A biografia ampliará seu escopo ao pendurar óculos de observação em esquinas estranhas. E no entanto, de toda essa diversidade, ela trará à tona, não um tumulto de confusão, mas uma unidade mais rica. E ainda, uma vez que se sabe muito que antes era desconhecido, a questão agora inevitavelmente se coloca, a de se saber se somente as vidas de grandes homens deveriam ser registradas. Não é digno de biografia alguém que viveu uma vida e deixou um registro dessa vida — tanto os fracassos como os sucessos, tanto os humildes como os ilustres? E o que é a grandeza? E que é a pequenez? É preciso rever nossos padrões de mérito e criar novos heróis para nossa admiração.
IV
Assim, a biografia está apenas no início de sua carreira; ela tem uma vida longa e ativa diante dela, podemos ter certeza — uma vida cheia de dificuldades, perigos e trabalho árduo. No entanto, também podemos ter certeza de que se trata de uma vida diferente da vida da poesia e da ficção — uma vida vivida com um grau de tensão menor. E por essa razão suas criações não são destinadas à imortalidade que o artista de vez em quando alcança para suas criações.
Parece já haver uma certa prova disso. Mesmo o Dr. Johnson tal como criado por Boswell não viverá tanto tempo quanto o Falstaff tal como criado por Shakespeare. Micawber e Miss Bates, podemos ter certeza de que sobreviverão a Sir Walter Scott de Lockhart e a Rainha Victória de Lytton Strachey. Pois eles são feitos de matéria mais duradoura. A imaginação do artista em seu mais intenso fogo, de fato, elimina o que é perecível; ele edifica com o que é durável; mas o biógrafo deve aceitar o perecível, construir com ele, imprimi-lo no próprio tecido de sua obra. Muito perecerá; pouco viverá. E assim chegamos à conclusão de que ele é um artesão, não um artista; e que sua obra não é uma obra de arte, mas algo que fica a meio caminho de o ser.
Todavia, nesse nível inferior, o trabalho do biógrafo é inestimável; não podemos agradecer-lhe o suficiente pelo que ele faz por nós. Pois somos incapazes de viver totalmente no mundo intenso da imaginação. A imaginação é uma faculdade que logo se cansa e precisa descansar e se refrescar. Contudo, para uma imaginação cansada, o alimento adequado não é poesia inferior ou ficção menor, — na verdade, elas a embotam e a destroem, — mas um fato sóbrio, aquela “informação autêntica” da qual, tal como nos mostrou Lytton Strachey, é feita uma boa biografia. Quando e onde o verdadeiro homem vivia; como ele se parecia; se usava botas atadas ou elásticas; quem eram suas tias e seus amigos; como ele assoava o nariz; a quem amava e como; e quando ele veio a morrer, se morreu em sua cama como um cristão, ou …
Ao nos contar os fatos verdadeiros, ao separar o pequeno do grande e moldar o todo para que percebamos o contorno, o biógrafo faz mais para estimular a imaginação do que qualquer poeta ou romancista, exceto os maiores. Porque poucos poetas e romancistas são capazes daquele alto grau de tensão que nos dá a realidade. Todavia, quase qualquer biógrafo, se ele respeitar os fatos, pode nos dar muito mais do que qualquer outro fato que se possa acrescentar à nossa coleção. Ele pode nos dar o fato criativo; o fato fértil; o fato que sugere e engendra. Disso também há certas provas. Pois quantas vezes, quando uma biografia é lida e posta de lado, alguma cena permanece brilhante, alguma figura vive nas profundezas da mente, e nos faz, ao lermos um poema ou um romance, sentir um início de reconhecimento, como se nos lembrássemos de algo no qual já havíamos conhecido antes.
Confira outro texto da Virgínia Woolf publicado em nosso site: Como se Deve Ler um Livro?
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com