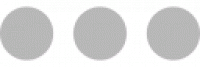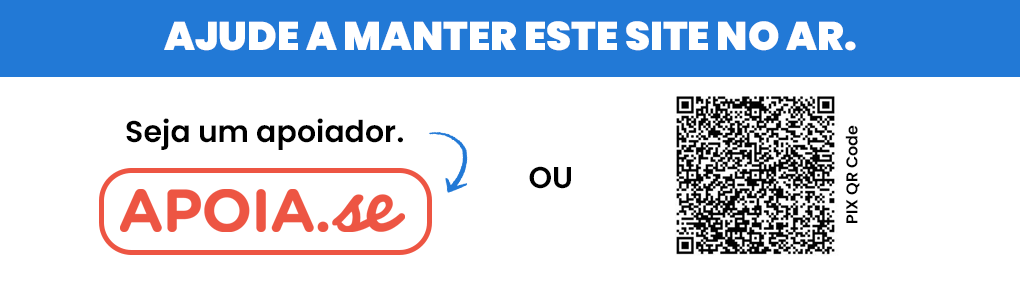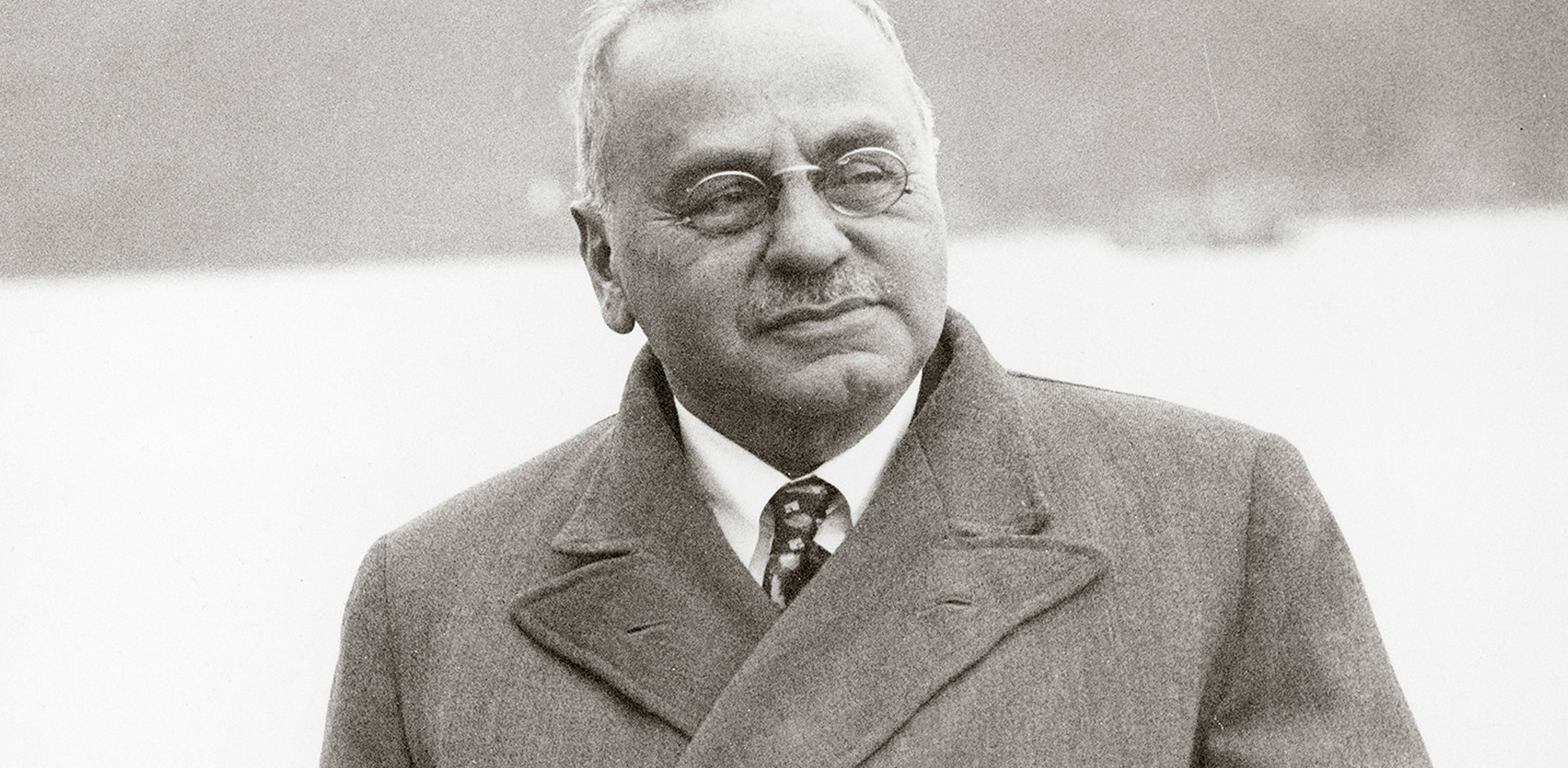“A Relação entre Conhecedor e Conhecido” foi extraído da obra The Meaning of Truth.
Ao longo da história da filosofia, o sujeito e seu objeto têm sido tratados como entidades absolutamente descontínuas; e, com isso, a presença do segundo para o primeiro, ou a “apreensão” do segundo pelo primeiro, assumiu um caráter paradoxal graças ao qual todos os tipos de teorias tiveram de ser inventadas a fim de superá-lo. As teorias representativas introduzem uma ‘representação’ mental, uma ‘imagem’ ou um ‘conteúdo’ na lacuna, como sendo uma espécie de intermediário. As teorias do senso comum deixaram essa lacuna intocada, declarando que nossa mente seria capaz de eliminá-la através de um salto auto-transcendente. As teorias transcendentalistas tornaram impossível a travessia pelos conhecedores finitos, e trouxeram um absoluto para efetuar a realização desse salto abrupto. Durante todo o tempo, no próprio seio da experiência finita, cada conjunção necessária para tornar a relação inteligível é dada na sua totalidade. Tanto o conhecedor quanto o conhecido são:
- o próprio e mesmo pedaço de experiência considerado duas vezes em contextos diferentes; ou eles são
- duas partes de experiência atual que pertencem ao mesmo sujeito, contendo trechos definidos de experiência transicional conjuntiva entre eles; ou
- o conhecido é uma experiência possível, seja daquele sujeito ou de outro, à qual as referidas transições conjuntivas poderiam levar, se fossem suficientemente prolongadas.
Discutir todas as formas pelas quais uma experiência pode funcionar enquanto conhecedor do outro seria incompatível com os limites deste ensaio. Eu tratei do tipo 1, o tipo de conhecimento chamado percepção, em um artigo no Journal of Philosophy, de 1º de setembro de 1904, chamado “A Consciência Existe?”. Esse é o tipo de caso em que a mente desfruta de “contato” direto com um objeto presente. Nos outros tipos, a mente tem ‘conhecimento sobre’ um objeto que não existe imediatamente. O tipo 3 pode sempre ser reduzido formal e hipoteticamente ao tipo 2, portanto, uma breve descrição desse tipo colocará agora o leitor de hoje suficientemente próximo ao meu ponto de vista, e o fará ver qual pode ser o verdadeiro significado da misteriosa relação cognitiva.
Suponha que eu esteja sentado aqui na minha biblioteca em Cambridge, a dez minutos a pé do “Memorial Hall”, e que esteja pensando verdadeiramente neste último objeto. Minha mente pode ter diante dela apenas o nome, ou pode ter uma imagem clara, ou pode ter uma imagem muito fraca do salão, mas uma diferença tão intrínseca na imagem não faz diferença em sua função cognitiva. Certos fenômenos extrínsecos, as experiências especiais de conjunção, são aquilo que confere à imagem, seja ela qual for, seu ofício de conhecimento.
Por exemplo, se você me perguntar a que sala me refiro através de minha imagem, e eu não puder lhe dizer nada; ou se eu falhar em apontar ou guiá-lo em direção ao Delta de Harvard; ou se, sendo guiado por você, eu não tiver certeza se a sala que eu vejo é ou não o que eu tinha em mente; você negaria, com razão, que eu tinha “significado” aquela sala em particular, mesmo que minha imagem mental pudesse, até certo ponto, ter se assemelhado a ela. A semelhança seria considerada, nesse caso, como mera coincidência, pois todos os tipos de coisas se assemelham umas às outras neste mundo sem que, por esse motivo, tenhamos conhecimento de cada uma delas.
Por outro lado, se posso levá-lo ao salão, e contar-lhe sua história e usos do momento; se em sua presença sinto minha idéia, por mais imperfeita que tenha sido, conduzir até aqui e ser agora terminada; se a imagem e o sentimento do salão decorrem paralelamente, de modo que cada termo de um contexto corresponda serialmente, enquanto caminho, a um termo respondente do outro; daí então minha alma foi profética, e minha idéia deve ser, e por consenso comum seria, chamada de conhecimento da realidade. Aquela percepção era o que eu quis dizer, pois nisso minha idéia passou por experiências conjuntivas de similaridade e de intenção preenchida. Não existe qualquer incompatibilidade, mas cada momento posterior continua e corrobora com o anterior.
É nessa continuação e nessa corroboração, não consideradas em sentido transcendental, mas denotando transições definitivamente sentidas, que reside tudo o que o conhecimento de uma percepção através de uma idéia pode possivelmente conter ou significar. Onde quer que tais transições sejam sentidas, a primeira experiência conhece a última. Onde quer que elas não intervenham, ou onde mesmo como possível elas não consigam intervir, não pode haver a pretensão de conhecimento. Nesse último caso, os extremos estarão ligados, se é que estarão ligados de alguma maneira, por relações inferiores — por mera semelhança ou sucessão, ou apenas pela “sagacidade”. O conhecimento de realidades sensíveis ganha, assim, vida dentro do tecido da experiência. Ele é produzido; e é produzido por relações que se desenrolam no tempo. Sempre que certos intermediários são dados, de tal maneira que, à medida que se desenvolvem em direção a seu terminal, há experiência de ponto a ponto de uma direção seguida, e por fim de um processo cumprido, o resultado é que seu ponto de partida se torna assim um conhecedor e seu terminal um objeto significado ou conhecido. Isso é tudo acerca de como o conhecimento (no caso simples considerado) pode ser conhecido-como, ou seja, o todo de sua natureza, colocado em termos experienciais. Sempre que tal é a sequência de nossas experiências, podemos dizer livremente que tivemos o objeto terminal “em mente” desde o início, mesmo que no início nada houvesse em nós a não ser uma parte simples de uma experiência substantiva como qualquer outra, sem nenhuma auto-transcendência a respeito dela, e sem nenhum mistério, exceto o mistério da vinda à existência e do fato de ser gradualmente seguida por outras partes de experiência substantiva, com experiências conjuntivamente transitórias entre elas. Isso é o que queremos dizer aqui com o “estar em mente” do objeto. Quanto a um modo mais real de sua existência na mente, não temos uma concepção positiva e não temos o direito de desacreditar nossa experiência atual ao falar de um tal modo.
Eu sei que muitos leitores se rebelarão contra isso. “Meros intermediários”, será dito, “mesmo que sejam sentimentos de preenchimento em contínuo crescimento, apenas separam o conhecedor do conhecido, enquanto que o que temos em conhecimento é uma espécie de toque imediato de um pelo outro, uma ‘apreensão’ no sentido etimológico da palavra, um salto do abismo como se fosse um relâmpago, um ato pelo qual dois termos são fundidos em um para além da fronteira de sua distinção. Todos esses seus falecidos intermediários estão desligados um do outro, e também fora de seus terminais”.
Mas essas dificuldades dialéticas não nos lembram que o cão deixou cair o osso e rompeu a sua imagem na água1? Se conhecêssemos mais algum tipo real de união aliunde2, talvez tivéssemos o direito de classificar todas as nossas uniões empíricas como uma farsa. Porém, as uniões por transição contínua são as únicas que conhecemos, seja nessa questão do conhecimento que termina em familiarização, seja na identidade pessoal, na previsão lógica através da cópula “é”, seja em outro lugar. Se em qualquer lugar houvesse uniões mais absolutas, elas só poderiam se revelar para nós por meio de tais resultados conjuntivos. É isso que as uniões valem, é tudo o que podemos querer dizer na prática através da união, da continuidade. Não é hora de repetir o que Lotze3 disse sobre as substâncias, que agir como um só é ser um só? Não deveríamos dizer aqui que ser experimentado como contínuo é ser realmente contínuo, em um mundo onde a experiência e a realidade resultam na mesma coisa? Em uma galeria de quadros, um gancho pintado servirá para se pendurar uma corrente pintada, um cabo pintado segurará um navio pintado, em um mundo onde tanto os termos como suas distinções são casos de experiência, conjunções que são vivenciadas devem ser pelo menos tão reais quanto qualquer outra coisa. Elas serão conjunções “absolutamente” reais, se não tivermos um trans-fenomenal absoluto pronto, para derealizar todo o mundo experiente, de uma só vez.
Isso é o que se pode dizer sobre os fundamentos da relação cognitiva em que o conhecimento é conceitual em seu tipo, ou forma conhecimento “sobre” um objeto. Ele consiste em experiências intermediárias (possíveis, se não atuais) de progresso em desenvolvimento contínuo e, finalmente, de plenitude, quando a percepção sensível que é o objeto é alcançada. A percepção aqui não apenas verifica o conceito, ela prova que sua função de conhecer essa percepção é verdadeira, mas a existência da percepção como o fim da cadeia de intermediários cria a função. O que quer que termine essa cadeia era, porque agora prova-se ser, aquilo que o conceito “tinha em mente”.
A grande importância desse tipo de conhecimento para a vida humana reside no fato de que uma experiência que conhece outra pode figurar como sua representativa, não em qualquer sentido “epistemológico” quase milagroso, mas no sentido prático definido de ser sua substituta em várias operações, às vezes físicas e às vezes mentais, que nos levam a seus associados e resultados. Ao experimentarmos nossas idéias sobre a realidade, podemos nos poupar do trabalho de experimentar as experiências reais que elas significam separadamente. As idéias formam sistemas relacionados, que correspondem, ponto por ponto, aos sistemas que as realidades formam; e ao permitir que um termo ideal invoque seus associados sistematicamente, podemos ser levados a um término ao qual o termo real correspondente teria levado caso tivéssemos operado no mundo real. E isso nos leva à questão geral da substituição.
O que, exatamente, em um sistema de experiências, significa a “substituição” de uma delas por outra?
De acordo com meu ponto de vista, a experiência como um todo é um processo no tempo, por meio do qual inúmeros termos particulares caducam e são substituídos por outros que se seguem a eles por transições que, sejam elas disjuntivas ou conjuntivas em seu conteúdo, são elas próprias experiências e devem, em geral, ser consideradas pelo menos como tão reais quanto os termos que elas relacionam. O significado da natureza do evento chamado ‘substituição’ depende totalmente do tipo de transição que ocorre. Algumas experiências simplesmente abolem suas predecessoras sem continuá-las de modo algum. Outras são sentidas como se aumentassem ou ampliassem seu significado, executassem seu propósito ou nos aproximassem de seu objetivo. Elas as “representam” e podem cumprir sua função melhor do que aquelas que cumpriam. Entretanto, “cumprir uma função” em um mundo de pura experiência pode ser concebido e definido de apenas uma maneira possível. Em um mundo assim, as transições e chegadas (ou términos) são os únicos eventos que acontecem, embora aconteçam por meio de muitos tipos de caminhos. A única função que uma experiência pode desempenhar é a de conduzir à outra experiência; e a única realização da qual podemos falar é o alcance de um determinado fim experienciado. Quando uma experiência leva (ou pode levar) ao mesmo fim que outra, elas concordam em sua função. Todavia, todo o sistema de experiências, tal como são dadas imediatamente, apresenta-se como um quase caos, por meio do qual é possível sair de um termo inicial em muitas direções e, ainda assim, terminar no mesmo fim, passando de um próximo para o próximo por muitos caminhos possíveis.
Qualquer um desses caminhos pode ser um substituto funcional para outro, e seguir um deles em vez de outro pode, ocasionalmente, ser vantajoso. De fato, e de modo geral, os caminhos que passam por experiências conceituais, ou seja, por “pensamentos” ou “idéias” que “conhecem” as coisas nas quais terminam, são caminhos altamente vantajosos a serem seguidos. Eles não apenas produzem transições inconcebivelmente rápidas; mas, devido ao caráter “universal”4 que frequentemente possuem e à sua capacidade de se associarem uns aos outros em grandes sistemas, eles superam as tardias consecuções das próprias coisas e nos levam em direção aos nossos terminais últimos de uma maneira muito mais econômica do que o percurso dos trens da percepção sensível jamais poderia. São maravilhosos os novos acessos e os atalhos que os caminhos do pensamento fazem. A maioria dos caminhos do pensamento, é verdade, não substitui nada atual; eles terminam completamente fora do mundo real, em fantasias, utopias, ficções ou erros. Todavia, onde eles reentram na realidade e terminam nela, nós os substituímos sempre; e com esses substitutos passamos a maior parte de nossas horas5.
Quem sente que sua experiência é algo substitucional mesmo quando a tem, pode dizer que tem uma experiência que alcança para mais além de si mesma. De dentro de sua própria entidade, ele diz “mais” e postula que a realidade existe em outro lugar. Para o transcendentalista, que considera que o conhecimento consiste em um salto mortale através de um “abismo epistemológico”, essa idéia não apresenta nenhuma dificuldade; mas, à primeira vista, parece que ela pode ser inconsistente com um empirismo como o nosso. Não explicamos que o conhecimento conceitual se torna tal totalmente pela existência de coisas que estão fora da experiência do conhecimento em si – por experiências intermediárias e por um término que cumpre? O conhecimento pode existir antes que esses elementos que constituem seu ser tenham surgido? E, se o conhecimento não estiver presente, como pode ocorrer a referência objetiva?
A chave para essa dificuldade está na distinção entre o conhecimento como verificado e concluído e o mesmo conhecimento como em trânsito e a caminho. Voltando ao exemplo do Memorial Hall usado recentemente, é somente quando nossa idéia do Hall termina atualmente na percepção que sabemos “com certeza” que, desde o início, ela era verdadeiramente cognitiva a respeito dele. Até que isso fosse estabelecido no final do processo, sua qualidade de conhecer aquilo ou, de fato, de conhecer qualquer coisa, ainda poderia ser posta em dúvida; e, no entanto, o conhecimento realmente existia, como mostra o resultado agora. Éramos virtuais conhecedores do Hall muito antes de sermos certificados como conhecedores de fato, pelo poder de validação retroativa da percepção. Da mesma maneira, somos ‘mortais’ o tempo todo, em razão da virtualidade do evento inevitável ‘que nos tornará assim quando acontecer’.
Ora, a maior parte de todo o nosso conhecimento nunca ultrapassa esse estágio virtual. Ele nunca é concluído ou consolidado. Não me refiro apenas às nossas idéias de imperceptíveis, como as ondas de éter ou “íons” dissociados, ou de “‘ejetos”, como o conteúdo da mente de nossos vizinhos; Falo também de idéias que poderíamos verificar se nos déssemos ao trabalho, mas que consideramos verdadeiras, embora não terminadas perceptualmente, porque nada nos diz “não” e não há nenhuma verdade contraditória à vista. Continuar pensando sem contestar é, noventa e nove vezes em cem, nosso substituto prático para o conhecimento no sentido completo. Como cada experiência passa por uma transição cognitiva para a próxima, e em nenhum momento sentimos uma colisão com o que em outro lugar consideramos verdade ou fato, nós nos comprometemos com a corrente como se o porto fosse seguro. Vivemos, por assim dizer, na borda dianteira de uma onda que avança, e nosso senso de uma direção determinada na queda para a frente é tudo o que temos sobre o futuro de nosso caminho. É como se um quociente diferencial fosse consciente e se tratasse como um substituto adequado para uma curva traçada. Nossa experiência, entre outras coisas, é de variações de velocidade e de direção, e vivemos nessas transições mais do que no final da jornada. As experiências de tendência são suficientes para agir — o que mais poderíamos ter feito naqueles momentos, mesmo que a verificação posterior se torne completa?
É isso que, como empirista radical, eu digo sobre a acusação de que a referência objetiva, que é uma característica tão flagrante de nossas experiências, envolve um abismo e um salto fatal. Uma transição positivamente conjuntiva não envolve nem abismo nem salto. Sendo o próprio original daquilo que queremos dizer com continuidade, ela cria um continuum onde quer que apareça. A referência objetiva é um incidente do fato de que grande parte de nossa experiência vem como insuficiente e consiste em processo e transição. Nossos campos de experiência não têm limites mais definidos do que nossos campos de visão. Ambos são delimitados para sempre por um mais que se desenvolve continuamente e que os substitui continuamente à medida que a vida avança. As relações, de modo geral, são tão reais aqui quanto os termos, e a única reclamação do transcendentalista com a qual eu poderia simpatizar seria sua acusação de que, ao primeiro fazer com que o conhecimento consista em relações externas, como eu fiz, e depois confessar que nove décimos do tempo essas relações não estão de fato, mas apenas virtualmente presentes, eu derrubei o fundo sólido de todo o assunto e ofereci um substituto do conhecimento para a coisa genuína. Somente a admissão, como esse crítico poderia dizer, de que nossas idéias são auto-transcendentes e “verdadeiras” já antes das experiências que as terminarão, pode trazer a solidez de volta ao conhecimento em um mundo como este, no qual as transições e as terminações são realizadas apenas por exceção.
Esse me parece ser um excelente lugar para aplicar o método pragmático. Como seria conhecida a auto-transcendência que se afirma existir antes de toda mediação ou término experiencial? Em que isso resultaria na prática para nós, se fosse verdade?
Isso só poderia resultar em nossa orientação, na transformação de nossas expectativas e tendências práticas no caminho certo; e o caminho certo aqui, enquanto nós e o objeto ainda não estivermos frente a frente (ou se nunca pudermos ficar frente a frente, como no caso dos ejetos), seria o caminho que nos levaria à vizinhança mais próxima do objeto. Na falta de conhecimento direto, o “conhecimento a respeito de” é a segunda melhor opção, e o conhecimento do que de fato está ao redor do objeto, e está mais intimamente relacionado a ele, coloca esse conhecimento ao nosso alcance. As ondas de éter e a sua fúria, por exemplo, são coisas nas quais meus pensamentos nunca terminarão perceptualmente, mas meus conceitos sobre elas me levam até o limiar, até as franjas cromáticas e até as palavras e ações danosas que são seus efeitos realmente próximos.
Mesmo que nossas idéias possuíssem em si mesmas a auto-transcendência postulada, ainda assim permaneceria verdadeiro que o fato de elas nos colocarem em posse de tais efeitos seria o único benefício da auto-transcendência para nós. E esse benefício, não é preciso dizer, é verbatim et literatim o que nosso relato empirista oferece. Portanto, segundo os princípios pragmatistas, uma disputa sobre auto-transcendência é uma pura logomaquia. Chamar nossos conceitos acerca de coisas ejetivas de auto-transcendentes, ou o contrário, não faz diferença, desde que não discordemos sobre a natureza dos frutos dessa virtude exaltada — frutos para nós, é claro, frutos humanistas.
O transcendentalista acredita que suas idéias são auto-transcendentes apenas porque descobre que, de fato, elas dão frutos. Por que ele precisa brigar com uma descrição do conhecimento que insiste em nomear esse efeito? Por que não tratar o trabalho da idéia de um próximo para outro como a essência de sua auto-transcendência? Por que insistir que o conhecimento é uma relação estática fora do tempo quando, na prática, ele parece ser uma função de nossa vida ativa? Uma coisa ser válida, diz Lotze, é o mesmo que tornar-se ela mesma válida. Quando todo o universo parece estar apenas tornando-se válido a si próprio e ainda estar incompleto (caso contrário, por que sua mudança incessante?), por que, dentre todas as coisas, o conhecimento deveria estar isento? Por que ele não deveria estar tornando-se válido a si mesmo como tudo o mais? Que algumas partes dele já sejam válidas ou verificadas sem contestação é algo que o filósofo empírico, é claro, como qualquer outra pessoa, sempre pode esperar.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com

Notas:
[1] Alusão à fábula de Esopo na qual o cão, iludido pelo seu próprio reflexo na água, largou o osso que carregava para tentar pegar o da imagem refletida. N.T.
[2] “de uma fonte diferente dessa”
[3] Rudolf Hermann Lotze (1817-1881) foi um filósofo e psicólogo alemão conhecido por integrar a metafísica com a ciência empírica. Sua abordagem sobre a relação harmoniosa entre a mente e o corpo e suas idéias sobre a consciência e percepção influenciaram pensadores posteriores, incluindo William James.N.T.
[4] Do qual, tudo o que precisa ser dito neste ensaio é que ele também pode ser concebido como funcional e definido em termos de transições ou da possibilidade de tais transições.
[5] É por isso que chamei nossas experiências, consideradas em conjunto, de um quase caos. Há muito mais descontinuidade na soma total das experiências do que comumente supomos. O núcleo objetivo da experiência de cada homem, seu próprio corpo, é, é verdade, uma percepção contínua; e igualmente contínuo como uma percepção (embora possamos estar desatentos a ela) é o ambiente material desse corpo, que muda por transição gradual quando o corpo se move. Contudo, as partes distantes do mundo físico estão sempre ausentes de nós e formam objetos meramente conceituais, na realidade perceptual da qual nossa vida se insere em pontos discretos e relativamente raros. Em torno de seus vários núcleos objetivos, parcialmente compartilhados e comuns, parcialmente discretos, do mundo físico real, inúmeros pensadores, seguindo suas várias linhas de cogitação fisicamente verdadeira, traçam caminhos que se cruzam apenas em pontos perceptivos descontínuos e que, no restante do tempo, são bastante incongruentes; E em torno de todos os núcleos de “realidade” compartilhada flutua a vasta nuvem de experiências que são totalmente subjetivas, que são não-substitucionais, que não encontram nem mesmo um fim eventual para si mesmas no mundo perceptual – os meros devaneios, alegrias, sofrimentos e desejos das mentes individuais. Essas experiências existem umas com as outras, de fato, e com os núcleos objetivos, mas é provável que, por toda a eternidade, nenhum sistema inter-relacionado de qualquer tipo seja criado.