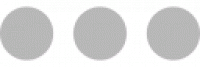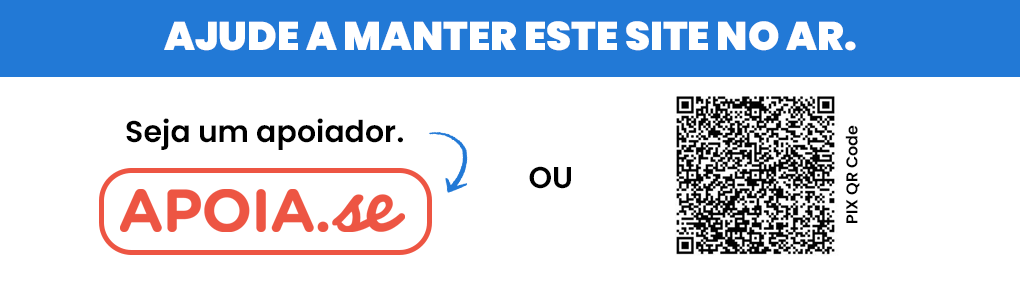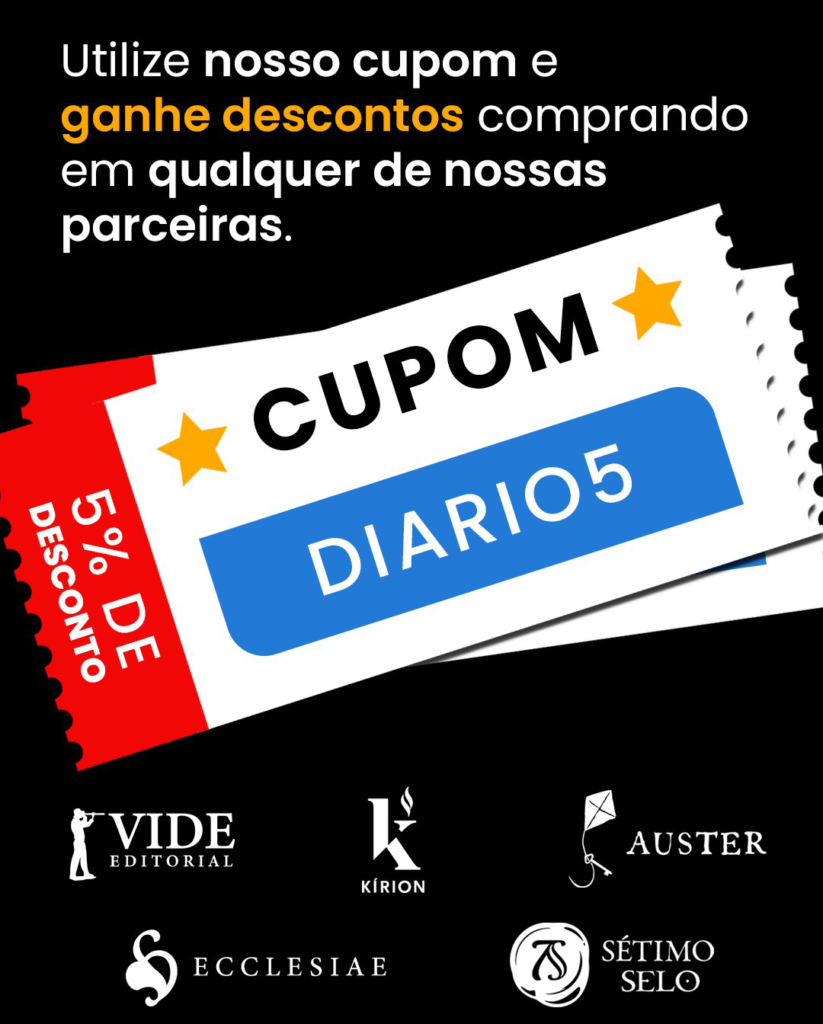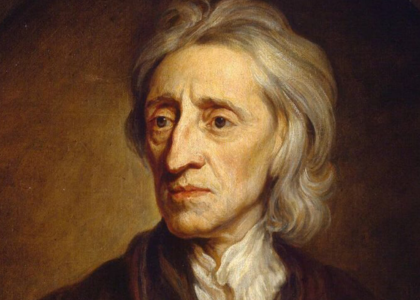Albertus Magnus, também conhecido como Alberto, o Grande, foi um dos pensadores mais universais a aparecer durante a Idade Média. Os interesses de Alberto vão desde a ciência natural até a teologia, mais além do que seu aluno mais famoso, São Tomás de Aquino. Ele fez contribuições para a lógica, psicologia, metafísica, meteorologia, mineralogia e zoologia. Foi um ávido comentador sobre quase todas as grandes autoridades lidas durante o século XIII. Esteve profundamente envolvido em uma tentativa de compreender a importância do pensamento de Aristóteles de uma maneira ordenada que era distinta dos comentadores árabes que haviam incorporado suas próprias idéias no estudo de Aristóteles. No entanto, não era avesso ao uso de alguns dos mais destacados filósofos árabes no desenvolvimento de suas próprias idéias em filosofia. Sua compreensão superior de uma diversidade de textos filosóficos lhe permitiu construir uma das mais notáveis sínteses da cultura medieval.
- 1. A vida de Alberto Magno
- 2. Empreendimento Filosófico
- 3. Lógica
- 4. Metafísica
- 5. Psicologia e Antropologia
- 6. Alberto Magno e as Ciências
- 7. Ética
- 8. A Influência de Alberto Magno
- Notas
- Bibliography
- Academic Tools
- Other Internet Resources
- Related Entries
- Acknowledgments
1. A vida de Alberto Magno
A data precisa do nascimento de Alberto não é conhecida. É geralmente admitido que ele nasceu em uma família cavalheiresca por volta do ano 1200 em Lauingen an der Donau, na Alemanha. Aparentemente ele estave na Itália no ano 1222, onde se encontrava quando um terremoto bastante terrível ocorreu na Lombardia. Um ano depois, ainda estava na Itália e estudando na Universidade de Pádua. No mesmo ano, Jordan da Saxônia o recebeu na ordem dominicana. Foii enviado para Colônia a fim de completar seu treinamento para a ordem. Terminou esse treinamento, assim como um curso de teologia em 1228. Ele então começou a ensinar como professor em Colônia, Hildesheim, Freiburg im Breisgau, Regensburg, e Strassburg. Durante esse período, publicou seu primeiro grande trabalho, De Natura Boni.
Dez anos depois ele foi registrado como tendo estado presente no capítulo geral da Ordem Dominicana, realizado em Bolonha. Dois anos mais tarde, visitou a Saxônia, onde observou o aparecimento de um cometa. Algum tempo entre 1241 e 1242 foi enviado para a Universidade de Paris para completar sua formação teológica. Ele seguiu a prescrição habitual de dar aulas sobre as Sentenças de Peter Lombard. Além disso, começou a escrever suas seis partes da Summa Parisiensis que tratam dos sacramentos da Igreja, da encarnação e da ressurreição de Cristo, dos quatro níveis, da natureza humana e da natureza do bem. Formou-se como mestre em teologia em 1245 e começou a ensinar teologia na universidade sob Gueric de Saint-Quentin. São Tomás de Aquino tornou-se seu aluno nessa época e permaneceu sob a direção de Alberto durante os três anos seguintes. Em 1248 Alberto foi nomeado regente de estudos no studium generale que foi recentemente criado pela ordem Dominicana em Colônia. Então Alberto, junto com Tomás de Aquino, deixou Paris e foi para Colônia. Tomás continuou seus estudos com ele em Colônia e serviu como magister studium na escola também até 1252. Depois, Tomás voltou a Paris para assumir suas funções de professor enquanto Alberto permanecia em Colônia, onde começou a trabalhar no vasto projeto a que se propôs de preparar uma paráfrase de cada uma das obras já conhecidas de Aristóteles.
Em 1254, a ordem dominicana novamente atribuiu a Alberto uma tarefa difícil. Ele foi eleito o prior provincial para a província da ordem cuja língua é o alemão. Esse cargo determinou que Alberto passasse uma grande parte de seu tempo viajando pela província visitando conventos dominicanos, priorados e até mesmo a uma missão dominicana em Riga. Tal tarefa ocupou Alberto até 1256. Naquele ano ele voltou para Colônia, mas partiu no mesmo ano para Paris a fim de participar de um Capítulo Geral de sua ordem, no qual foram consideradas as alegações de William de St. Amour, De periculis novissimorum temporum, contra as ordens mendicantes. Um pouco mais tarde, o Papa Alexandre IV pediu a Alberto que fosse a Anagni para falar com uma comissão de Cardeais que estavam investigando as alegações de Guilherme. Enquanto estava envolvido nessa acusação, Alberto completou sua refutação da psicologia Averroística com seu De Unitate Intellectus Contra Averroistas. Em seguida, ele partiu para outra visita à província da Alemanha. Em 1257, voltou à corte papal, que agora estava localizada em Viterbo. Ele foi dispensado de suas funções como prior provincial e retornou novamente para Colônia como regente de estudos. Continuou a ensinar até 1259, quando viajou para Valenciennes a fim de participar de um Capítulo Geral de sua ordem. Nessa época, juntamente com Tomás de Aquino, Pedro de Tarentasia, Bonhomme Brito e Florent de Hesdin, ele empreendeu, em nome de sua ordem, uma extensa discussão sobre o currículo do programa escolar utilizado pela ordem.
No ano seguinte de sua vida, Alberto voltou a ser nomeado para uma tarefa onerosa. Em obediência aos desejos do papa, Alberto foi consagrado bispo da Igreja e enviado a Ratisbon (moderna Regensburg) a fim de empreender uma reforma dos abusos naquela diocese. Alberto trabalhou nessa tarefa até 1263, quando o Papa Urbano IV o dispensou de seus deveres e pediu a ele que pregasse a Cruzada nos países de língua alemã. Tal tarefa ocupou Alberto até o ano 1264. Ele foi então para a cidade de Würzburg onde permaneceu até o ano 1267.
Alberto passou os oito anos seguintes viajando pela Alemanha realizando várias tarefas eclesiásticas. Então, em 1274, enquanto viajava para o Conselho de Lyons, recebeu a triste notícia da morte prematura de Tomás de Aquino, seu amigo e ex-aluno de muitos anos. Após o encerramento do Conselho, retornou à Alemanha. Há provas de que ele viajou para Paris no ano de 1277 para defender o ensino de Aquino, que estava sendo atacado na universidade. Em 1279, prevendo sua morte, redigiu seu último testamento. Em 15 de novembro de 1280, ele morreu e foi enterrado em Colônia. Em 15 de dezembro de 1931, o Papa Pio XI declarou Alberto santo e doutor da Igreja. Em 16 de dezembro de 1941, o Papa Pio XII declarou Alberto o santo padroeiro das ciências naturais.
2. Empreendimento Filosófico
Um exame dos escritos publicados por Alberto revela algo de sua compreensão da filosofia na cultura humana. Com efeito, ele preparou uma espécie de enciclopédia filosófica que o ocupou até os últimos dez anos de sua vida. Ele produziu paráfrases da maioria das obras de Aristóteles disponíveis então. Em alguns casos em que sentiu que Aristóteles deveria ter produzido uma obra, mas que esta estava faltando, o próprio Alberto produziu a obra. Se ele não tivesse produzido mais nada, seria necessário dizer que ele adotou o programa filosófico-científico aristotélico e o subordinou à tradição neoplatônica. A visão intelectual de Alberto, no entanto, era muito grande. Não só parafraseou “O Filósofo” (como os medievals chamacam a Aristóteles), mas também Porfirio, Boécio, Peter Lombard, Gilbert de la Porrée, o Liber de Causis, e Ps.-Dionísio. Também escreveu uma série de comentários sobre a Bíblia. Além de todo esse trabalho de paráfrases e comentários, no qual Alberto trabalhou para preparar uma espécie de teoria unificada do campo da cultura intelectual cristã medieval, ele também escreveu uma série de obras nas quais desenvolveu sua própria visão filosófico-científica e teológica. Aqui se encontram títulos como De Unitate Intellectus, Problemata Determinate, De Fato, De XV Problematibus, De Natura Boni, De Sacramentis, De Incarnatione, De Bono, De Quattuor Coaequaevis, De Homine, e sua inacabada Summa Theologiae de Mirabilis Scientia Dei.
O trabalho de Alberto resultou na formação do que se poderia chamar de uma recepção cristã de Aristóteles na Europa Ocidental. O próprio Alberto tinha um forte viés a favor do Neo-Platonismo, e seu trabalho sobre Aristóteles mostra que ele tinha uma compreensão profunda do programa aristotélico. Junto com seu aluno Tomás de Aquino, ele era da opinião que Aristóteles e o tipo de filosofia natural que este representava não era obstáculo ao desenvolvimento de uma visão filosófica cristã da ordem natural. A fim de estabelecer tal ponto, Alberto dissecou cuidadosamente o método que Aristóteles empregou para empreender a tarefa de expor a filosofia natural. Esse método, segundo Alberto, é baseado na experiência e procede a tirar conclusões através do uso tanto da lógica indutiva quanto da lógica dedutiva. A teologia cristã, tal como Alberto encontrou sendo ensinada na Europa, repousava firmemente sobre a revelação da Sagrada Escritura e dos Padres da Igreja. Portanto, ele argumentou, os dois domínios da cultura humana são distintos em sua metodologia e não representam nenhuma ameaça um para o outro. Ambos podem ser perseguidos por seus próprios interesses. A filosofia não deve ser valorizada apenas em termos de sua relação acessória com a teologia. Como pesquisas recentes demonstraram, Alberto subordinou seu uso de Aristóteles à sua compreensão da visão neoplatônica da realidade, que ele encontrou nos escritos de Pseudo Dionísio e no Liber de Causis. Ele viu toda a realidade em termos das categorias Neoplatônicas de saída e retorno, às quais ele se referiu em seus escritos com os termos exitus, perfectio e reductio. Tal esquema lhe deu uma estrutura na qual ele poderia desenvolver os conhecimentos científicos de Aristóteles. Porém, dentro dessa estrutura, ele insistiu que a ciência natural deve investigar as causas que estão operando na natureza enquanto baseadas em evidências empíricas.
3. Lógica
Alberto preparou cuidadosamente uma paráfrase do Órganon de Aristóteles (os tratados lógicos no corpus aristotélico). Ele usou então os resultados dessa paráfrase para abordar o problema dos universais, tal como ele o encontrou discutido na literatura filosófica e nos debates da cultura filosófica medieval. Ele definiu o termo universal como referindo-se “[…] àquilo que, embora exista em um, é apto por natureza a existir em muitos”1. (De Praed., trato II, c. 1) Ele então distinguiu três tipos de universais, aqueles que preexistem às coisas que os exemplificam (universale ante rem), aqueles que existem nas coisas individuais (universale in re), e aqueles que existem na mente quando abstraídos das coisas individuais (universale post rem).
Alberto tentou formular uma resposta ao famoso problema dos universais de Porfírio — nomeadamente, será que as espécies segundo as quais classificamos os seres existem em si mesmas ou são meras construções da mente? Alberto apelou para sua distinção tríplice, observando que o modo de ser de um universal é diferenciado de acordo com a função que está sendo considerada. Ele pode ser considerado em si mesmo, ou em relação à compreensão, ou como existente em um ou outro particular2. Tanto as soluções nominalistas como realistas para o problema de Porfírio são, portanto, demasiado simplistas e carecem de distinção adequada. A distinção feita por Alberto permitiu-lhe assim harmonizar o realismo de Platão no qual os universais existiam como formas separadas com a teoria mais nominalista das formas imanentes de Aristóteles. Pois os universais quando considerados em si mesmos (secudum quod in seipso) realmente existem e são livres da geração, da corrupção e da mudança3. Se, no entanto, são tomados em referência à mente (refertur ad intelligentiam), eles existem em dois modos, dependendo se são considerados com respeito ao intelecto que é sua causa ou ao intelecto que os conhece por abstração4. Mas quando são considerados em particular (secundum quod est in isto vel in illo) sua existência é exterior à e para além da mente, porém existindo em coisas enquanto individuadas5.
4. Metafísica
A metafísica de Alberto é uma adaptação da metafísica aristotélica condicionada por uma forma de Neo-Platonismo. Sua leitura do Liber de Causis como um autêntico texto aristotélico influenciou sua compreensão de Aristóteles. Parece que Alberto nunca percebeu a origem Neo-Platônica da obra. Tal como com as outras obras de Aristóteles, ele preparou uma paráfrase da obra intitulada De Causis et Processu Universitatis, e a utilizou como guia para a interpretação de outras obras de Aristóteles. Entretanto, ele também utilizou os escritos de Pseudo-Dionísio para corrigir algumas das doutrinas encontradas no Liber de Causis.
Alberto mistura essas três fontes principais de sua metafísica em uma estrutura hierárquica da realidade na qual há uma emanação de formas dirigidas pelo que Alberto chama de “invocação do bem” (advocatio boni). O bem opera metafisicamente como a causa final da ordem das formas no universo dos seres. Mas ele é também a Causa Primeira. E seu funcionamento na ordem criada do ser é considerado como uma atração de todo ser de volta a si próprio. “Existimos porque Deus é bom”, explica Alberto, “e somos bons na medida em que existimos”6 Assim, as relações equilibradas de saída e retorno de todas as coisas de acordo com o Neo-Platonismo clássico são inclinadas em favor da relação de retorno. Isso porque Alberto, como filósofo cristão, favorece uma visão criacionista do ser em detrimento da doutrina da pura emanação. Rejeitando também a doutrina do hylomorfismo universal, Alberto argumenta que os seres materiais são sempre compostos em que as formas são apenas iniciadas até que sejam invocados pelo bem último. As criaturas espirituais (excluindo o homem) não têm nenhum elemento material. Seu ser invocado para o bem é imediato e definitivo. A convocação das formas apenas iniciadas dos seres materiais, entretanto, não é direta. Depende da intervenção das esferas celestiais.
A Causa Primeira, que Alberto entende como Deus, é uma realidade absolutamente transcendente. Sua luz incriada suscita um universo hierarquicamente ordenado, no qual cada ordem de ser reflete essa luz. O fato de Deus dar existência às criaturas é entendido por Alberto como a procissão que elas fazem a partir dele como de uma primeira causa.7 No topo dessa hierarquia de luz encontram-se os seres puramente espirituais, as ordens angélicas e as inteligências. Alberto distingue cuidadosamente esses dois tipos de seres. Ele basicamente aceita a análise das ordens angélicas tal como encontrada no tratado de Pseudo-Dionísio sobre a hierarquia celestial. As inteligências movem as esferas cósmicas e iluminam a alma humana. As inteligências, assim como a ordem dos anjos, formam uma hierarquia especial. A Inteligência Primeira, tal como Alberto a chama, contempla o universo inteiro e usa a alma humana, enquanto iluminada pelas inteligências inferiores, para atrair todas as criaturas para uma unidade.
Abaixo dos anjos e das inteligências estão as almas que possuem intelectos. Elas estão unidas aos corpos, mas não dependem dos corpos para sua existência. Embora estejam ordenados à Inteligência Primeira de modo a estabelecer a unidade contemplativa em todo o cosmos, Alberto rejeita a teoria Averroista da unidade do intelecto. Cada alma humana tem seu próprio intelecto. Porém, como a alma humana está singularmente no horizonte tanto do ser material quanto do espiritual, ela pode operar como um microcosmo e assim servir ao propósito da Inteligência Primeira, que é o de conectar todas as criaturas em um universo.
Finalmente, há as formas imersas. Sob esse título Alberto estabelece outra hierarquia com o reino animal no topo, seguido pelo reino vegetal, depois o reino mineral (pelo qual Alberto tinha um profundo interesse), e finalmente os elementos da criação material.
Um aspecto importante da metafísica de Alberto aparece em seu comentário sobre a Metafísica de Aristóteles. Nesse trabalho, ele conta fortemente tanto com Averroes em seu Longo Comentário sobre a Metafísica quanto com a Filosofia Prima de Avicena. Enquanto o comentário de Averroes é uma análise quase literal do texto de Aristóteles, a análise de Avicena muitas vezes se afasta dessa abordagem literal e incorpora idéias que Avicena encontrou nos Analíticos Posteriores de Aristóteles. Alberto parece estar usando Averroes quando está parafraseando o texto de Aristóteles, mas confia em Avicena quando se afasta da parafraseação. Como resultado desse uso, Alberto prossegue desenvolvendo suas próprias idéias sobre a filosofia primeira, conforme descrito acima. Isso pode ser visto, por exemplo, em sua análise do quinto livro da Metafísica na sua digressão sobre a unidade encontrada no tratado 1, capítulo 8. Seguindo Avicena, ele argumenta que a unidade não pode ser uma característica essencial de qualquer substância.
5. Psicologia e Antropologia
O interesse de Alberto pela condição humana é dominado por sua preocupação com a relação da alma com o corpo, por um lado, e o importante papel que o intelecto desempenha na psicologia humana. De acordo com ele, o homem é identificado com seu intelecto8. Com respeito à relação entre a alma e o corpo, Alberto parece estar dividido entre a teoria platônica que vê a alma como uma forma capaz de existir independentemente do corpo e a teoria hilomórfica aristotélica que reduz a alma a uma relação funcional do corpo. Com respeito ao saber humano, por exemplo, ele mantém a posição de que o intelecto humano depende dos sentidos9. Para resolver o conflito entre os dois pontos de vista, ele se valeu da posição de Avicena de que a análise de Aristóteles estava focalizada na função e não na essência da alma. Funcionalmente, argumenta ele, a alma é a causa agente do corpo. “Assim como sustentamos que a alma é a causa do corpo animado e de seus movimentos e paixões na medida em que é animada”, raciocina, “também devemos sustentar que a inteligência inferior é a causa da alma cognitiva na medida em que ela é cognitiva porque a cognição da alma é um resultado particular da luz da inteligência”10. Tendo sido criada à imagem e semelhança de Deus, ela não só governa o corpo, tal como Deus governa o universo, mas é responsável pela própria existência do corpo, pois Deus é o criador do mundo. E assim como Deus transcende sua criação, também a alma humana transcende o corpo em seus interesses. Ela é capaz de operar com total independência das funções corporais. Essa função transcendental da alma permite a Alberto concentrar-se naquilo que ele acredita ser a essência da alma — o intelecto humano.
Vista essencialmente como um intelecto, a alma humana é uma substância incorpórea. Alberto divide essa substância espiritual em dois poderes — o intelecto agente e o intelecto possível.11 Nenhum desses poderes precisa do corpo para funcionar. Sob certas condições relativas a seus poderes, o intelecto humano é capaz de transformação. Embora seja verdade que, sob o estímulo ou iluminação do intelecto agente, o intelecto possível pode considerar a forma inteligível dos phantasmas da mente que são derivados dos sentidos, ele também pode operar sob a influência exclusiva do intelecto agente. Aqui, argumenta Alberto, o intelecto possível passa por uma completa transformação e se torna totalmente atualizável, pois o intelecto agente se torna sua forma. Ele surge como o que ele chama de “intelecto adepto” (intellectus adeptus)12. Nessa fase, o intelecto humano é suscetível à iluminação por intelectos cósmicos superiores chamados de “inteligências”. Tal iluminação traz a alma do homem em completa harmonia com toda a ordem da criação e constitui a felicidade natural do homem. Como o intelecto é agora totalmente assimilado à ordem das coisas, Alberto chama o intelecto em seu estágio último de desenvolvimento de “intelecto assimilado” (intellectus assimilativus). A condição de ter alcançado um intelecto assimilado constitui a felicidade humana natural, realizando todas as aspirações da condição humana e da cultura humana. Mas Alberto deixa claro que a mente humana não pode atingir esse estado de assimilação por si só. Seguindo a tradição agostiniana, tal como estabelecida no De magistro, Alberto afirma que: “porque a verdade divina está para além de nossa razão, não somos capazes por nós mesmos de descobri-la, a menos que ela condescenda em se infundir; pois, como diz Agostinho, ela é um mestre interior, sem o qual um mestre exterior trabalha sem propósito”13. Trata-se antes de uma infusão de um mestre interior, que é identificado com a própria verdade divina. Em seu comentário sobre as Sentenças, Alberto reforça essa doutrina quando argumenta que esse mestre interior fortalece a fraqueza do intelecto humano, que por si só não poderia lucrar com o estímulo externo. Ele distingue a iluminação desse mestre interior do objeto verdadeiro e último do intelecto14. A luz divina é apenas um meio pelo qual o intelecto pode alcançar seu objeto.15 Isso é consistente com sua ênfase na analogia da luz divina e da luz física, que impregna tanto de seu pensamento. Segue-se, então, que na ordem do saber humano existem, antes de tudo, as formas que derivam das coisas externas. Elas não podem nos ensinar nada de útil até que a luz de um mestre interior as ilumine. Portanto, a luz é o meio para essa visão. Porém, o próprio mestre interior é identificado com a verdade divina, que é o objeto último e a perfeição do intelecto humano. Em sua Summa, entretanto, Alberto faz outras distinções em relação ao objeto do saber humano. As coisas naturais, diz ele, são recebidas à luz natural, enquanto as coisas que o intelecto contempla na ordem do crer (ad credenda vero) são recebidas à luz que é gratuita (gratuitum est), e as realidades beatificantes são recebidas à luz da glória.16 Parece que Alberto abandonou a idéia de que mesmo a naturalia requer a iluminação divina. A rigor, ele não abnegou sua posição anterior. Naturalia ainda pode muito bem requerer o trabalho de um mestre interior restaurador. Na Summa, no entanto, Alberto está ansioso para enfatizar a diferença radical que o saber natural tem em relação ao saber sobrenatural. Ele já estabeleceu essa diferença em seu estudo sobre o intelecto humano (De Intelectu) onde ele nos diz: “Alguns [inteligíveis] com sua luz dominam nosso intelecto que é temporal e tem continuidade. Essas são como as coisas mais manifestas na natureza que estão relacionadas ao nosso intelecto tal como a luz do sol ou uma cor cintilante e forte é para os olhos do morcego ou da coruja. Outros [inteligíveis] são manifestados somente através da luz de um outro. Estes seriam como as coisas que são recebidas pela fé no que é primário e verdadeiro”17. Entretanto, tanto no conhecimento natural como no sobrenatural, Alberto tem o cuidado de enfatizar o objeto último e a perfeição do intelecto humano. Isso leva naturalmente a uma consideração quanto à compreensão da ética de Alberto.
6. Alberto Magno e as Ciências
Na primeira seção de seu Comentário sobre a Física de Aristóteles, Alberto Magno discute a possibilidade do estudo da ciência natural. Se a ciência pudesse apenas estudar os particulares, argumenta Alberto, então não haveria ciência no sentido da demonstração das causas necessárias, pois haveria tantas ciências quanto os particulares. Porém, os particulares, salienta Alberto, pertencem a tipos definidos (espécies) e estes podem ser estudados porque suas causas podem ser demonstradas. As espécies têm atributos comuns e um sujeito determinado do qual os atributos podem ser determinados com necessidade. Assim, a ciência é possível.
E essa convicção de que a ciência é possível, ao contrário da tendência platônica e neoplatônica de descartar a realidade particular do mundo, e sua suposta incontrolável mutabilidade, não foi apenas uma posição teórica da parte de Alberto. Ele dedica grande parte de seu tempo e atenção ao estudo empírico atual das relações entre os atributos e os sujeitos naturais. Além disso, ele ordena tal estudo sobre o que hoje seria chamado de “ciências naturais”. Além do estudo dos céus, da terra e da geração e corrupção que ele encontrou em Aristóteles, ele acrescenta o estudo dos meteoros, dos reinos mineral, animal e vegetal.
Alberto herdou a astronomia como parte do currículo escolar conhecido como o quadrivium. Mas seu interesse nessa ciência não era meramente conceitual; ele também estava interessado em utilizar cálculos matemáticos e em conferir tabelas astronômicas para estudar a natureza dos corpos celestes. Alberto estava preocupado com as constelações, os tamanhos dos planetas e estrelas e suas posições e movimentos nos céus. Ele parece ter conhecido os instrumentos astronômicos, particularmente o astrolábio, mas não dá nenhuma pista sobre qual método de investigação ele utilizava para realizar seus estudos. Alberto deixou claro, entretanto, que os princípios da física tinham que ser aplicados aos corpos celestes, que ele considerava como corpos físicos naturais que se moviam no espaço real.
Além de estudar as propriedades dos próprios corpos celestes, também estava preocupado com seus efeitos sobre os objetos terrestres. Por exemplo, ele parece ter entendido que as marés na Terra estavam relacionadas aos corpos celestes.
Após a astronomia, Alberto desenvolve uma ordem particular na qual ele se propõe a estudar as outras ciências. Em seu Meteora, ele explica que os corpos móveis sublunares podem ser estudados de três maneiras. Primeiro, na medida em que eles entram e saem do ser (geração e corrupção). Depois, devem ser investigados com relação à sua mistura com outros corpos móveis. E por último, precisam ser estudados com relação à sua contração com as espécies minerais, vegetais e animais. Essa última fase de seu plano, entretanto, é onde Alberto fez sua contribuição própria para o desenvolvimento da ciência moderna tal como ela é conhecida hoje. Ou seja, ele empreendeu suas próprias investigações empíricas sobre os reinos mineral, vegetal e animal.
O Tratado Sobre os Minerais de ALberto (De Mineralibus) mostra que ele faz suas próprias observações e não se limitou a reunir autoridades sobre o tema. Ele estuda diferentes tipos de minerais e metais, assim como pedras raras. Começando pelo reino mineral, ele observa as propriedades de cada espécime mineral, inclusive onde foi encontrado juntamente com sua causa ou causas. Em seguida, ele lida com pedras raras, investigando os poderes desses espécimes junto com suas causas. Ele então produz uma lista alfabética de um grande número dessas pedras mais preciosas. Ao longo do tratado, Alberto tem o cuidado de sempre proceder a partir dos efeitos ou propriedades do mundo mineral até hipóteses relativas às suas causas. Está claro em seu texto que ele mesmo fez uma série de estudos (experimentos) com diferentes minerais.
Em seguida, Alberto estuda o reino vegetal. Em seu Tratado Sobre as Plantas (De Vegetabilibus), tal como em seu Tratado Sobre os Minerais, ele combina suas próprias observações com as de outras autoridades, fornecendo uma lista alfabética de plantas tal como ele fez para as pedras em seu Tratado Sobre os Minerais. Mas acrescenta uma longa seção sobre o cultivo de plantas. Ele faz a interessante observação de que as propriedades de certas plantas são causadas por corpos celestiais. Ele também indica as propriedades medicinais de certas plantas, embora tenha o cuidado de assinalar que sua principal preocupação é compreender a natureza das plantas com base em um estudo de suas propriedades e virtudes.
O interesse de Alberto pela ordem natural termina com suas investigações sobre o nível último dos seres naturais, o reino animal. Seu Tratado Sobre os Animais (De Animalibus) envolve os estudos de Aristóteles sobre os animais, bem como material retirado da enciclopédia de Tomás de Cantimpré Sobre a Natureza das Coisas (De Natura Rerum). No entanto, Alberto insere seus próprios estudos sobre os animais no tratado. Ele investiga as causas das propriedades de diferentes tipos de animais com base em suas operações e poderes. Mais uma vez, Alberto organiza uma espécie de dicionário de animais com base em suas várias espécies, listadas em ordem alfabética, tal como ele havia feito nas outras ciências especiais.
Parece ter sido de considerável importância para Alberto fazer duas coisas no desenvolvimento de suas investigações científicas. Primeiro, rever e organizar as autoridades em cada um dos ramos da ciência e segundo, testar por sua própria experiência as afirmações feitas por essas autoridades. Assim, ele teve o cuidado de acomodar os leitores que estavam acostumados a consultar as autoridades em vez da experiência, fornecendo um contexto no qual ele pudesse introduzir suas novas descobertas.
7. Ética
A ética de Alberto baseia-se em sua compreensão acerca da liberdade humana. Essa liberdade é expressa através do poder humano de tomar decisões irrestritas sobre suas próprias ações. Tal poder, o liberum arbitrium, Alberto acredita que não se identifica nem com o intelecto nem com a vontade. Ele defende essa posição extraordinária por causa de sua análise da gênese da ação humana. Em seu tratado sobre o homem (Liber de Homine), ele considera que a ação humana começa com o intelecto, considerando as várias opções de ação disponíveis a uma pessoa em um determinado momento. Isso é unido pela vontade que deseja o resultado benéfico do evento proposto. Em seguida, o liberum arbitrium escolhe uma das opções propostas pelo intelecto ou o objeto do desejo da vontade. A vontade então move a pessoa a agir com base na escolha do liberum arbitrium. Os brutos não têm essa capacidade, argumenta ele, e devem agir unicamente com base em seu desejo inicial. Portanto, eles não têm poder de livre escolha. Em seus escritos posteriores, no entanto, Alberto elimina o primeiro ato da vontade. Mas mesmo assim ele distingue o liberum arbitrium tanto da vontade quanto do intelecto, presumivelmente para que possa responder igualmente às influências de ambas as faculdades. Assim, o caminho para a ética está aberto.
A preocupação de Alberto com a ética enquanto tal se encontra em seus dois comentários sobre a Ética a Nicômaco de Aristóteles. Os prólogos de ambos os trabalhos revelam o pensamento original de Alberto a respeito de alguns problemas sobre a disciplina da ética. Ele se pergunta se a ética pode ser considerada como uma ciência teórica dedutiva. Ele conclui que ela pode ser considerada assim porque as causas subjacentes da ação moral (rationes morum) envolvem tanto os princípios necessários como universais, que são as condições necessárias para uma ciência de acordo com a análise de Aristóteles que Alberto aceitou.18 As rationes morum são contrastadas por ele com a mera aparência de comportamento moral19 Assim, a virtude pode ser discutida em abstração de ações particulares de agentes humanos individuais. O mesmo se aplica a outros princípios éticos. Entretanto, Alberto sustenta que é possível referir-se a atos humanos particulares como exemplos de virtudes relevantes e como tal incluí-los em uma discussão científica da ética.20 Portanto, a ética é teórica, ainda que o objeto de sua teoria seja a prática.
Outra preocupação que Alberto expressa é a de como a ética como ciência dedutiva teórica pode ser relevante para a prática da vida virtuosa. Ele aborda esse problema distinguindo a ética como doutrina (ethica docens) da ética como atividade prática do ser humano individual (ethica utens)21. Alberto argumenta que os resultados desses dois aspectos da ética são diferentes. A ética como doutrina se preocupa com o ensino. Ela procede através de uma análise lógica que se concentra nos objetivos da ação humana em geral. Como tal, seu fim próprio é o conhecimento. Contudo, como uma arte prática e útil, a ética se preocupa com a ação como meio para um fim desejado.22 Seu modo de discurso é retórico — a persuasão do ser humano a se engajar nas ações corretas que levarão ao fim desejado.23 Alberto vê esses dois aspectos da ética como ligados entre si pela virtude da prudência. É a prudência que aplica os resultados da doutrina da ética a sua prática.24 A ética, considerada como doutrina, opera através da prudência como uma causa remota da ação ética. Assim, as duas funções da ética estão relacionadas e a ética é considerada por Alberto tanto como uma ciência teórica dedutiva como uma ciência prática aplicada.
Alberto vai além dessas considerações metodológicas. Ele aborda o fim da ética, tal como ele a entende. E aqui sua psicologia dá frutos. Pois ele abraça a idéia de que a forma mais elevada de felicidade humana é a vida contemplativa. Esse é o verdadeiro e próprio fim do homem, afirma ele. Para o intelecto adepto, tal como observado acima, é a mais alta realização à qual a condição humana pode aspirar. Ela representa a conjunção do ápice da mente humana com o intelecto agente separado. Nessa conjunção, o intelecto agente separado torna-se a forma da alma. A alma experimenta a auto-suficiência e é capaz de sabedoria contemplativa. Isso é o mais próximo da bem-aventurança que o homem pode obter nesta vida. O homem é agora capaz de contemplar seres separados como tais e pode viver sua vida em um desapego quase estoico das preocupações da existência sublunar.
8. A Influência de Alberto Magno
A influência de Alberto no desenvolvimento da filosofia escolástica no século XIII foi enorme. Ele, juntamente com seu mais famoso aluno, Tomás de Aquino, conseguiu incorporar a filosofia de Aristóteles ao ocidente cristão. Além de Tomás, Alberto foi também o professor de Ulrich de Straßburg (1225 – 1277), quem levou adiante o interesse de Alberto pela ciência natural escrevendo um comentário sobre o Meteoros de Aristóteles junto com seu trabalho metafísico, o De Summo Bono; e também de Hugh Ripelin de Straßburg (c.1200 – 1268), que escreveu o famoso Compendium Theologicae Veritatis; de João de Friburgo (c.1250 – 1314), que escreveu o Libellus de Quaestionibus Casualibus; e de Giles de Lessines (c. 1230 – c. 1304), que escreveu um tratado sobre a unidade de forma substancial, o De Unitate Formae. A influência de Alberto e de seus alunos foi muito pronunciada na geração de estudiosos alemães que vieram depois desses homens. Dietrich de Freiberg, que talvez tenha realmente conhecido Alberto, é provavelmente o melhor exemplo da influência do espírito de Alberto, o Grande. Dietrich (c. 1250 – c. 1310) escreveu tratados sobre ciências naturais, que dão provas de que ele realizou uma investigação científica real. Seu tratado sobre o arco-íris seria um bom exemplo. Todavia, ele também escreveu tratados sobre temas metafísicos e teológicos, nos quais os ecos de Alberto podem ser claramente ouvidos. Ao contrário de Alberto, ele não escreveu comentários sobre Aristóteles, mas preferiu aplicar os princípios albertistas a temas de acordo com seu próprio entendimento. Por outro lado, Berthold de Moosburg (+ c. 1361) escreveu um comentário muito importante sobre os Elementos da Teologia de Proclus, introduzindo o grande trabalho do grande Neo-Platonista na metafísica alemã. A dívida de Berthold para com Alberto é encontrada ao longo de seu comentário, especialmente no que diz respeito a tópicos metafísicos. Muitas dessas idéias e princípios albertistas passaram para pensadores como Meister Eckhart, John Tauler e Heinrich Suso, onde eles assumiram um sabor místico único. A tradição albertista continuou até Heymeric de Campo (1395 – 1460) que a transmitiu a Nicolau de Cusa. De Nicolau, as idéias passam para o Renascimento. Os filósofos da Renascença parecem ter sido atraídos pela compreensão do Neo-Platonismo de Alberto e seu interesse pela ciência natural.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com
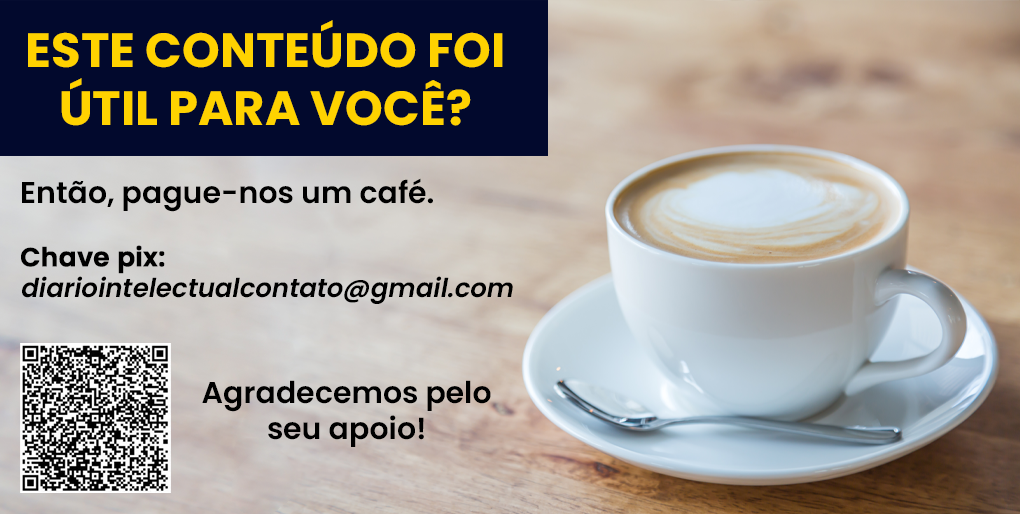
Notas
[1] De Praedicabilibus, tract. 2 (Borgnet ed., vol. 1) p. 17b: “Universale autem est, quod cum sit in uno, aptum natum est esse in pluribus.”
[2] Ibid., p. 24a: “Nos autem quantum sufficit praesenti intentioni ista solventes, dicimus quod universale triplicem habet considerationem, scilicet secundum quod in seipso est natura simplex et invariabilis; et secundum quod refertur ad intelligentiam; et secundum quod est in isto vel in illo.”
[3] Ibid., p. 24b: “Universalia, hoc est, naturae quae universalia vocantur, secundum se accepta, sunt et verissime sunt ingenerabilia et incorruptibilia et invariabilia.”
[4] Ibid., p. 25a: “Ad huc autem secundum quoddam esse sunt in intellectu: et hoc dupliciter, scilicet in intellectu per cognitionem causante et agente, et in intellectu cognoscente per abstractionem ea per universalitatem agente et educente.”
[5] Ibid., p. 24b-25a: “Sunt etiam extra, vel praeter intellectum solum, nudum, et purum, … in rebus sunt, scilicet secundum esse individuatum.”
[6] Summa de Creatures: De Bono, I, 1, 1 (Cologne ed., vol. 28) p. 12.
[7] Cf. Sent., I, 5, 6 (Borget ed., vol. 25), p. 184.
[8] Cf. De XV Problematibus., prob. 2 (Mandonnet ed.), p.35 e De Intellectus et Intelligibili, II, tr. 1, cap. 8 (Borgnet (ed.), vol. 9), p. 515b.
[9] Cf. Sent., II, d. 8, a. 10, ad q. (Borgnet ed., vol. 27), p. 186: “Intellectus noster omnem scientiam accipiens ex phantasmate.”
[10] Parva Naturalia: De Intellectu et Intelligibili, 1, I, tr. 1, c. 4 (Borgnet ed., vol. 9), p. 482: “Sicut ergo dicimus animam esse causam corporis animati et motuum et passionum eius secundum quod est animatum, ita debemus dicere intelligentiam infimam esse causam animae cognitivae secundum quod est cognitive, eo quod cognitio animae quaedam est resultatio luminis intelligentiae.”
[11] De Homine, tr. 1, q. 56, a. 6 (Borgnet ed., vol. 35), p. 476: “… intellectus agens sicut efficiens et forma, intellectus autem possibilis sicut recipiens et subiectum intelligibilium, et hoc est proprie loqui.”
[12] Cf. De Anima, III, tract. III, c. 11 (Borgnet ed., vol. 5), p. 386-387: “Tunc adhaeret intellectus agens possibili sicut forma; et hoc sic compositum vocatur a Peripateticis intellectus adeptus et divinus.” Para uma análise do intellectus adeptus see L. A. Kennedy, “The Nature of the Human Intellect According to St. Albert the Great,” Modern Schoolman, vol. 37 (1960), p. 132.
[13] Super Dionysii Mysticam Theologiam, c. 1, (Cologne ed., vol. 37, 2), p. 456: “… quia cum divina veritas superet nostram rationem, nos ex nobis eam manifestare non possumus, nisi ipsa se dignetur infundere; ipsa enim est magister interior, sine quo frustra laborat magister exterior, ut dicit Augustinus.”
[14] Cf. Sent., I, d. 2, a. 5 sol. (Borget ed., vol. 25), pp. 59-60: “Sed aliter dicendum, scilicet, quod lux intellectus agentis non sufficit per se, nisi per applicationem lucis intellectus increati, sicut applicatur radius solis ad radium stellae. Et hoc contingit dupliciter, scilicet, secundum lumen duplicatum tantum, vel etiam triplicatum: duplicatum ut si fiat coniunctio ad lumen intellectus increati, et illud lumen est interior magister … et Augustinus dicit hoc contingere multis modis.”
[15] Super Dionysii Mysticam Theologiam, c. 1, (Cologne ed., vol. 37, 2), p. 461: “… divinis luminibus, idest a deo nobis immissis, debemus inhaerere non sicut obiecto, sed sicut his sub quibus videtur obiectum, confortantibus intellectum nostrum, quia in eis non sistit desiderium sicut in summo bono.”
[16] Summa, I, tr. 3, q. 15, c. 3, a. 3 (Cologne ed., vol. 34), p. 81: “Concedendum enim est, quod sine lumine illustrante intellectum nullius cogniti intellectus noster possibilis receptivus est. Per hoc enim lumen efficitur intellectus possibilis oculus ad videndum; et hoc lumen ad naturalia recipienda naturale est, ad credenda vero gratuitum est, ad beatificantia autem gloria est.”
[17] Parva Naturalia: De Intellectu et Intelligibili, 1, I, tr. 3, c. 2 (Borgnet ed., vol. 9), p. 500: “Quaedam [intelligibilia] autem luce sua nostrum intellectum qui cum continuo et tempore est, vincentia sunt, sicut sunt manifestissima in natura quae se habent ad nostrum intellectum, sicut lumen solis vel fortissime scintillantis coloris ad oculos noctuae vel vespertilionis. Quaedam autem non manifestantur nisi lumine alieno, sicut ea quae ex primis et veris accipiunt fidem.”
[18] Cf. Super Ethica, prol. (Cologne ed., vol. 14, 1), pp. 1 – 2.
[19] Loc. cit., p. 2: “Ad primum in contrarium dicendum, quod si consideretur mos secundum id quod est, sic est a causa non necessaria et non cadit in demonstratione scientiae. Si autem consideretur secundum intentionem suam et rationem, sic rationes morum sunt necessariae, et de his potest esse scientia, sicut etiam ipsa generabilia et corruptibilia sunt a causis contingentibus, tamen de eis est scientia naturalis secundum rationes universales ipsorum.”
[20] Ibid., 1, I lect. 3 (Cologne ed., vol. 14, 1), p. 18: “Quaedam autem in civilibus sunt distributa in multa sicut virtus in species suas, et quantum ad hoc dicit: universaliter, quaedam vero in cognita ex multis sicut temperantia ex omnibus suis circumstantiis.”
[21] Ibid., prol. (Cologne ed., vol. 14, 1), p. 2: “Ad secundum dicendum, quod scientia morum potest considerari dupliciter, scilicet aut ut utens aut ut docens; unde quamvis ad usum scire non multum valeat, tamen ad doctrinam multum valet.”
[22] Ibid., prol. (Cologne ed., vol. 14, 1), p. 4: “Dicendum, quod dupliciter potest considerari scientia ista: secundum quod est docens, et sic finis est scire, vel secundum quod est utens, et sic finis est, ut boni fiamus.”
[23] Loc. cit., p. 4: “Dicendum, quod modus huius, inquantum est utens, est persuasivus, inquantum est docens, est demonstrativus sicut cuiuslibet alterius scientiae.”
[24] Ibid., 1, VI, tr. 2, c. 23 (Cologne ed., vol. 14, 1), p. 4: “Cum autem ambae [universalium et singularium cognitionem] sint in prudentia, una erit architectonica, hoc est princeps et ordinatrix alterius, altera autem ususalis et ordinata. Quae enim circa universalia est, theorica et architectonica est; quae vero circa singularia, usualis est et practica.”
Bibliography
Primary Literature: Works by Albert the Great
- Opera Omnia, P. Jammy (ed.), 21 volumes, Lyon, 1651.
- Opera Omnia, E. Borgnet (ed.), 38 volumes, Paris: Vives, 1890–9.
- Alberti Magni Opera Omnia edenda curavit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside, Münster: Aschendorff, 1951–.
- Book of Minerals, Dorothy Wyckoff (trans.), Oxford: Oxford University Press, 1967.
- Commentary on Dionysius’ Mystical Theology, Simon Tugwell, O.P. (trans.), in S. Tugwell, Albert and Thomas: Selected Writings, New York: Paulist Press, 1988.
- On the Causes of the Properties of the Elements, Irven M. Resnick (trans.), Milwaukee: Marquette University Press, 2010.
- Über den Menschen (De homine), Henryk Anzulewicz and Joachim R. Söder (trans.), Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2004.
- Métaphysique, Livre XI, Traités II et III. Texte latin en vis-à-vis Traduction, introduction et notes, par Isabelle Moulin. Sic et Non. Paris: Vrin, 2009.
- Questions concerning Aristotle’s On Animals. Tr. Irven M. Resnick and Kenneth F. Kitchell, Jr. The Fathers of the Church: Medieval Continuation, 9. Washington, D.C.: CUA Press, 2008.
Secondary Literature
- Aertsen, J., 1996, “Albertus Magnus und die mittelalterliche Philosophie,” Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 21: 111–128.
- –––, 2001, “Die Frage nach dem Ersten und Grundlegenden. Albert der Große und die Lehre von den Transzendentalien,” in Senner et al. 2001, pp. 91 – 112.
- Anzulewicz, H., 2001, “‘Bonum’ als Schlüsselbegriff bei Albertus Magnus,” in Senner et al. 2001, pp. 113–140.
- –––, 1999, De Forma Resultante in Speculo: die Theologische Relevanz des Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus in Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 53: 1–2 (Münster: Aschendorff).
- –––, 2000, Die Denkstruktur des Albertus Magnus. Ihre Dekodierung und ihre Relevanz für die Begrifflichkiet und Terminologie in L’élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge, Turnhout: Brepols 2000, 269-396.
- –––, 2015, “Scientia Mystica sive Theologia – Alberts des Grossen Begriff der Mystik,” Roczniki Filozoficne, 63: 37–58.
- Arendt, W., 1929, Die Staats- und Gesellschaftslehre Alberts des Grossen, Jena: Fischer.
- Asúa, M. de, 2001, “Minerals, Plants and Animals from A to Z. The Inventory of the Natural World in Albert the Great’s philosophia naturalis,” in Senner et al. 2001, pp. 389–400.
- Bach, J., 1881, Des Albertus Magnus Verhältniss zu der Erkenntnisslehre der Griechen, Lateiner, Araber und Juden, Wien; reprint Frankfurt: Minerva, 1966.
- Baldner, S., 1993, “Is St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?” Proceedings of the Catholic Philosophical Association, 67: 219–229.
- Bertolacci, A., 2001, “The Reception of Avicenna’s Philosophia Prima in Albert the Great’s Commentary on the Metaphysics: the Case of the Doctrine of Unity,” in Senner et al. 2001, pp. 67–78.
- Blankenhorn, B., 2011, “How the Early Albertus Magnus Transformed Augustinian Interiority,” Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 58: 351–386.
- –––, 2015, The Mystery of Union with God. Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
- Bonné, J., 1935, Die Erkenntnislehre Alberts des Großen, mit besonderer Berücksichtigung des arabischen Neuplatonismus, Bonn: Stodieck.
- Catania, F., 1960, “Divine Infinity in Albert the Great’s Commentary on the Sentences of Peter Lombard,” Mediaeval Studies, 22: 27–42.
- –––, 1980, “‘Knowable’ and ‘Namable’ in Albert the Great’s Commentary on the Divine Names,” in Kovach and Shahan 1980, pp. 97–128.
- Craemer-Ruegenberg, I., 2005, Albert the Great, Leipzig: Benno.
- –––, 1980, “The Priority of Soul as Form and Its Proximity to the First Mover: Some Aspects of Albert’s Psychology in the First Two Books of His Commentary on Aristotle,” in Kovach and Shahan 1980, pp. 49–62.
- Cunningham, S. B., 1969, “Albertus Magnus and the Problem of Moral Virtue,” Vivarium, 7: 81–119.
- –––, 2008, Reclaiming Moral Agency: The Moral Philosophy of Albert the Great, Washington D.C.: Catholic University of America Press.
- Da Silva, M.A.O., 2017, “Albert the Great on Mathematical Quantities,” Revista Portuguesa de Filosofia, 73(3–4): 1191–1201.
- Ducharme, L., 1979, “The Individual Human Being in Saint Albert’s Earlier Writings,” Southwestern Journal of Philosophy, 10(3): 131–160; reprinted in Kovach and Shahan 1980, pp. 131–160.
- Ferro, C., 1953, “Metafisica ed etica nel De bono di S. Alberto Magno,” Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 45: 434–464.
- Führer, M., 1991, “The Contemplative Function of the Agent Intellect in the Psychology of Albert the Great,” in B. Mojsisch and O. Pluta (eds.), Historia Philosophiae Medii Aevi: Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Amsterdam/Philadelphia: B.R. Grüner, pp. 305–319.
- –––, 2001, “Albertus Magnus’ Theory of Divine Illumination,” in Senner et al. 2001, pp. 141–155.
- Gaul, L., 1913, Alberts des Grossen Verhältnis zu Plato, Münster i. W.: Aschendorff.
- Guldentops, G., 2001, “Albert’s Influence on Bate’s Metaphysics and Noetics,” in Senner et al. 2001, pp. 195–206.
- Hergan, J., 2002, St. Albert the Great’s Theory of the Beatific Vision, New York: Peter Lang.
- Hödl, L., 1974, ldquo;Albert der Große und die Wende in der lateinischen Philosophie im 13. Jahrhundert,” in Virtus politica, J. Möller and H. Kohlenberger (eds.), Stuttgart – Bad Cannstatt, pp. 251–275.
- Hoenen, M. and Libera, A. de, 1995, Albertus Magnus und der Albertismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters, Leiden: Brill.
- Honnefelder, Ludger (ed.), 2005. Albertus Magnus and the Beginnings of the Medieval Reception of Aristotle in the Latin West. From Richardus Rufus to Franciscus de Mayronis, Münster: Aschendorff.
- Hünemörder, C., 1980, “Die Zoologie des Albertus Magnus,” in G. Meyer and A. Zimmerman (eds.), Albertus Magnus – Doctor Universalis, Mainz: Matthias-Grüewald, pp. 235-48.
- Imbach, R. and Flüeler, C. (eds.), 1985, Albert der Grosse und die deutsche Dominikanerschule. Philosophische Perspektiven, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie (Special Issue), Band 32, Heft 1/2.
- Johnston, H., 1960, “Intellectual Abstraction in St. Albert,” Philosophical Studies, 10: 204–212.
- Kennedy, L., 1960, “The Nature of the Human Intellect According to St. Albert the Great,” Modern Schoolman, 37: 121–137.
- –––, 1962, “The Nature of the Human Intellect According to St. Albert the Great,” The Modern Schoolman, 40: 23–38.
- Killermann, S., 1944, “Die somatische Anthropologie bei Albertus Magnus,” Angelicum, 21: 224–269.
- Kovach, F., 1980, “The Enduring Question of Action at a Distance in Saint Albert the Great,” in Kovach and Shahan 1980, pp. 161–235.
- Kovach, F. and Shahan, R. (eds.), 1980, Albert the Great: Commemorative Essays, Norman: University of Oklahoma Press.
- Krause, K., 2015, “Albert the Great on Animal and Human Origin in his Early Works,” Lo Sguardo di Filosofia, 18: 205–232.
- Lauer, R., 1951, “St. Albert and the Theory of Abstraction,” Thomist, 14: 69–83.
- Libera, A. de, 1990, Albert le Grand et la Philosophie, Paris: J. Vrin.
- –––, 1994, La Mystique Rhenane. D’ Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris: J. Vrin.
- –––, 2005, Métaphysique et noétique. Albert le Grand, Paris: J. Vrin.
- Liertz, R., 1948, Albert der Grosse: Gedanken über sein Leben und aus seinen Werken, Münster i. W.: Broschur.
- Lottin, O., 1928, “La syndérèse chez Albert le Grand et S. Thomas d’Aquin,” Revue Néo-Scolastique de philosophie, 30: 18–44.
- McInerny, R., 1980, “Albert on Universals,” in Kovach and Shahan 1980, pp. 3–18.
- Meersseman, O. P., G., 1931, Introductio in Opera Omnia B. Alberti Magni, Bruges: Beyaert.
- Meyer, G. and Zimmerman, A. (eds.), 1980, Albertus Magnus – Doctor Universalis, Mainz: Matthias-Grüewald.
- Müller, J., 2001, “Ethics as a Practical Science in Albert the Great’s Commentaries on the Nicomachean Ethics,” in Senner et al. 2001, pp. 275–285.
- –––, 2001, Natürliche Moral und philosophische Ethik bei Albertus Magnus, Münster: Aschendorff.
- Mulligan, R., 1956, “Ratio Inferior and Ratio Superior in St. Albert and St. Thomas,” Thomist, 19: 339–367.
- Resnick, I., 2013, A Companion to Albert the Great, Leiden/Boston: Brill.
- Resnick, I. and K. Kitchell (eds.), 2004, Albert the Great: a Selectively Annotated Bibliography (1900-2000), Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.
- Schmieder, K., 1932, Alberts des Großen Lehre vom natürlichen Gotteswissen, Freiburg im Br.: Herder.
- Schneider, A., 1903/1906, Die Psychologie Alberts des Grossen nach den Quellen dargestellt, 2 volumes, Münster i. W.: Aschendorff.
- Schönberger, R., 2001, “Rationale Spontaneität. Zur Theorie des Willens bei Albertus Magnus,” in Senner et al. 2001, pp. 221–234.
- Senner, O.P., W., H. Anzulewicz, M. Burger, R. Meyer, M. Nauert, P. Sicouly, O.P., J. Söder, K.-B. Springer (eds.), 2001, Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven, Berlin: Akademie Verlag.
- Söder, J., 2002, Albert der Große über Sinne und Träume. Beobachtungen am Traumtraktat von “De Homine”, Micrologus, 10: 239-250.
- Stammkötter, F.-B., 2001, “Die Entwicklung der Bestimmung der Prudentia in der Ethik des Albertus Magnus,” in Senner et al. 2001, pp. 303–310.
- Stannard, J., 1980, “The Botany of St. Albert the Great,” in G. Meyer and A. Zimmerman (eds.), Albertus Magnus – Doctor Universalis, Mainz: Matthias-Grüewald, pp. 345-72.
- Sweeney, S.J., L., 1980, “The Meaning of Esse in Albert the Great’s Texts on Creation in Summa de Creaturis and Scripta Super Sententias”, in Kovach and Shahan 1980, pp. 65–95.
- Takahashi, A., 2008, “Nature, Formative Power and Intellect in the Natural Philosophy of Albert the Great”, Early Science and Medicine, 13: 451–481.
- Tarabochia Canavero, A., 1984, “A proposito del trattato De bono naturae nel Tractatus de natura boni di Alberto Magno,” Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 76: 353–373.
- Tellkamp, Jörg Alejandro, 2012,“Albert the Great on Structure & Function of the Inner Senses,” in R.C. Taylor, I. A. Omar (eds.)The Judeo-Christian-Islamic Heritage, Marquette, pp. 305–324.
- Tremblay, Bruno, 2014. “La logique comme science du langage chez Albert le Grand,” Revue des sciences philosophiques et théologiques, 98(2): 193–239.
- Trottmann, C., 2001, “La syndérèse selon Albert le Grand,” in Senner et al. 2001, pp. 255–273.
- Vost, K., 2011, St. Albert the Great: Champion of Faith and Reason, Charlotte, NC: TAN Books.
- Wéber, O.P., E.-H., 2001, “Un thème de la philosophie arabe interpreté par Albert le Grand,” in Senner et al. 2001, pp. 79–90.
- Wieland, G., 1972, Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen, Münster: Aschendorff.
- Weisheipl, J., 1980a, Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays 1980, Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies.
- –––, 1980b, “Albertus Magnus and Universal Hylomorphism: Avicebron,” in Kovach and Shahan 1980, pp. 239–260.
- –––, 1958, “Albertus Magnus and the Oxford Platonists,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 32: 124–139.
Academic Tools
- How to cite this entry.
- Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
- Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
- Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.
Other Internet Resources
- History of the Dominican Order
- Albertus-Magnus-Institut, Bonn [German site]
- Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon [German site]
- Alberti Magni E-Corpus, electronic texts of Albert the Great, maintained at the University of Waterloo
Related Entries
Aquinas, Thomas | Aristotle | Aristotle, General Topics: metaphysics | Augustine, Saint | binarium famosissimum [= most famous pair] | Cusanus, Nicolaus [Nicolas of Cusa] | Dietrich of Freiberg | free will | Ibn Sina [Avicenna] | Meister Eckhart | properties | Pseudo-Dionysius the Areopagite | soul, ancient theories of | substance
Acknowledgments
The author and editors would like to thank Martin Pokorny for noticing an inaccurate statement (Section 5) about the relationship between man and his intellect. The statement has now been corrected.
Este artigo foi publicado originalmente no site Plato Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/albert-great