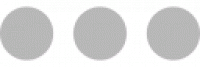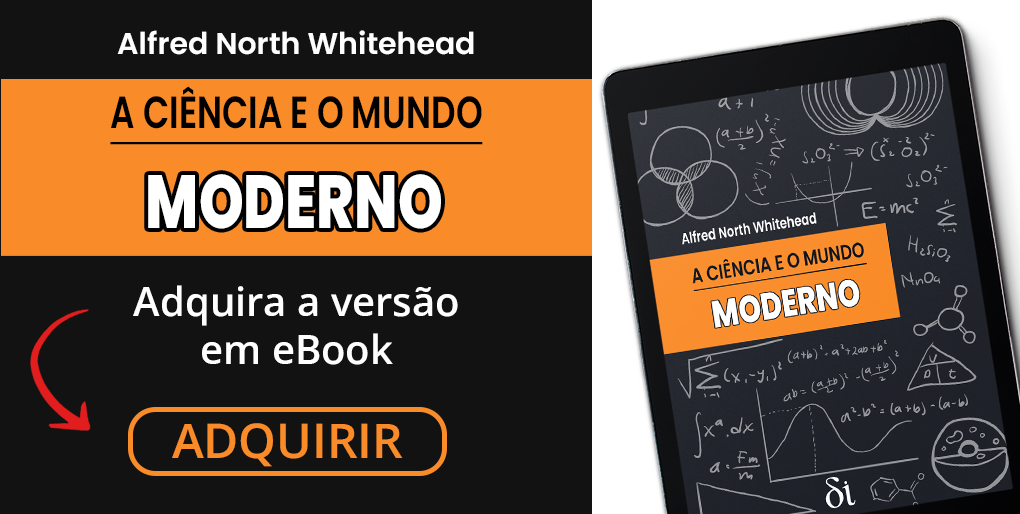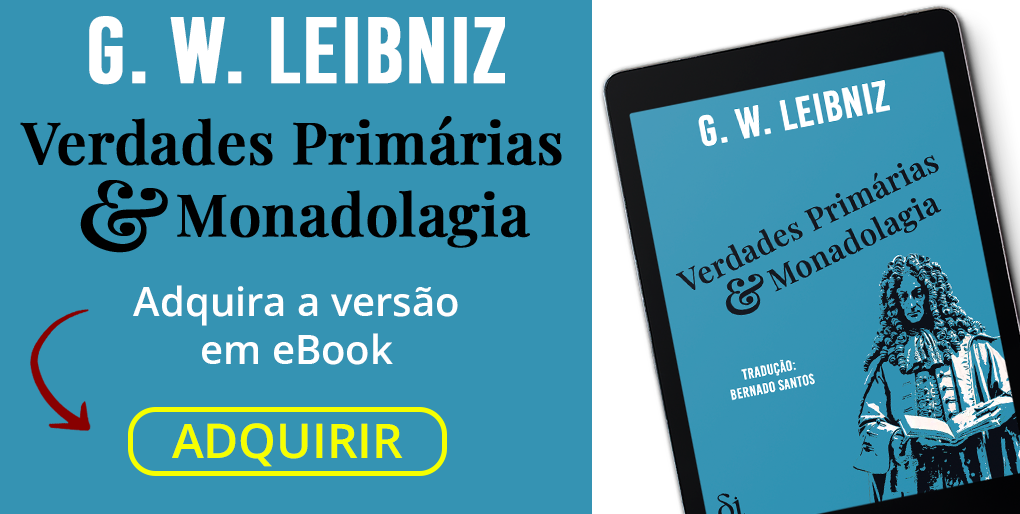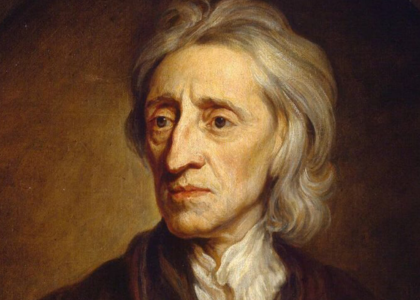Considerado de modo geral como um dos mais importantes filósofos a escrever em inglês, David Hume (1711-1776) também era bem conhecido em sua época como historiador e ensaísta. Um mestre de estilo em qualquer gênero, suas principais obras filosóficas — um Tratado Sobre a Natureza Humana (1739-1740), as Investigações Sobre o Entendimento Humano (1748) e Sobre os Princípios da Moral (1751), bem como seus Diálogos Sobre a Religião Natural (1779), publicados postumamente — permanecem ampla e profundamente influentes.
Embora os contemporâneos mais conservadores de Hume tenham denunciado seus escritos como obras de ceticismo e ateísmo, sua influência é evidente na filosofia moral e nos escritos econômicos de seu amigo próximo Adam Smith. Kant relatou que a obra de Hume o despertou de seu “sono dogmático” (Prolegômenos, Introdução) e Jeremy Bentham observou que a leitura de Hume “fez com que as escamas caíssem” de seus olhos (“A Fragment on Government“, capítulo 1, parágrafo 36, nota de rodapé 2). Charles Darwin considerava seu trabalho como uma influência central na teoria da evolução. As diversas direções que esses escritores tomaram ao ler Hume refletem tanto a riqueza de suas fontes quanto a ampla gama de seu empirismo. Atualmente, os filósofos reconhecem Hume como um expoente completo do naturalismo filosófico, como um precursor da ciência cognitiva contemporânea e como a inspiração para vários dos tipos mais significativos de teoria ética que foram desenvolvidos na filosofia moral contemporânea.
- 1. Vida e Obras
- 2. A Relação entre o Tratado e as Investigações
- 3. Projeto Filosófico
- 4. Descrição da Mente
- 5. Causalidade
- 6. A Idéia de Conexão Necessária
- 7. Filosofia Moral
- 8. Filosofia da Religião
- Bibliography
- Academic Tools
- Other Internet Resources
- Related Entries
1. Vida e Obras
Nascido em Edimburgo, Hume passou sua infância em Ninewells, a modesta propriedade de sua família nas terras baixas da fronteira. Ele veio de uma “boa família” (MOL 2) — socialmente bem relacionada, mas não rica. Seu pai faleceu logo após o segundo aniversário de David, deixando ele, seu irmão e sua irmã mais velhos
aos cuidados de nossa mãe, uma mulher de mérito singular, que, embora jovem e bonita, dedicou-se inteiramente à criação e educação de seus filhos. (MOL 3)
Katherine Falconer Hume percebeu que David era excepcionalmente precoce, portanto, quando seu irmão mais velho foi para a Universidade de Edimburgo, Hume foi com ele, embora tivesse apenas 10 ou 11 anos. Lá ele estudou latim e grego, leu muito sobre história e literatura, filosofia antiga e moderna, e também estudou matemática e filosofia natural — o que hoje chamamos de ciência natural.
A educação que David recebeu, tanto em casa quanto na universidade, tinha como objetivo treinar os alunos para uma vida de virtude regulada pelas severas restrições calvinistas da Escócia. As orações e os sermões eram aspectos importantes de sua vida doméstica e universitária. Em algum momento, Hume leu The Whole Duty of Man, um tratado devocional anglicano de ampla circulação que detalha nossos deveres para com Deus, nossos semelhantes e nós mesmos.
A família de Hume o considerava adequado para uma carreira jurídica, mas ele achava a lei “nauseante”, preferindo ler textos clássicos, especialmente Cícero. Ele decidiu se tornar um “acadêmico e filósofo” e seguiu um rigoroso programa de leitura e reflexão por três anos, até que “parecia estar aberta para mim uma nova Cena do Pensamento” (HL 3.2). A intensidade do desenvolvimento de sua visão filosófica precipitou uma crise psicológica no isolado estudioso.
A crise acabou passando, e Hume continuou empenhado em articular sua “nova Cena do Pensamento”. Como segundo filho, sua herança era escassa, então ele se mudou para a França, onde poderia viver de forma econômica, e finalmente se estabeleceu em La Flèche, um vilarejo pacato em Anjou, mais conhecido por seu colégio jesuíta, onde Descartes e Mersenne haviam estudado um século antes. Lá, ele leu autores franceses e de outros continentes, especialmente Malebranche, Dubos e Bayle, e ocasionalmente provocava os jesuítas com argumentos que atacavam suas crenças. Nessa época, Hume não apenas rejeitou as crenças religiosas com as quais foi criado, mas também se opôs à religião organizada em geral, uma oposição que permaneceu constante durante toda a sua vida. Em 1734, quando tinha apenas 23 anos, ele começou a escrever Um Tratado Sobre a Natureza Humana.
Hume retornou à Inglaterra em 1737 para preparar o Tratado para a prensa. Para obter o favor de Joseph Butler (1692-1752), ele “castrou” seu manuscrito, excluindo sua polêmica discussão sobre milagres, juntamente com outras “partes mais nobres” (HL 6.2). O Livro I, “Of the Understanding” (Do Entendimento), e o Livro II, “Of the Passions” (Das Paixões), foram publicados anonimamente em 1739. No ano seguinte, foi publicado o Livro III, “Da Moral“, bem como seu “Resumo” anônimo dos Livros I e II.
O Tratado não foi um sucesso literário, mas não caiu “morto na prensa” (MOL 6), conforme Hume descreveu com decepção sua recepção. Apesar de suas supressões cirúrgicas, ele atraiu o suficiente de “um Murmúrio entre os Zelotes” (MOL 6) para alimentar sua reputação de ateu e cético por toda a vida. Quando ele se candidatou à cátedra de Ética e Filosofia Pneumática (“Mental”) em Edimburgo, em 1745, sua reputação provocou uma oposição vigorosa e bem-sucedida. Seis anos depois, ele se candidatou à cadeira de Lógica em Glasgow, mas foi novamente recusado. Hume nunca ocupou um cargo acadêmico.
Em 1745, aceitou o cargo de tutor de um jovem nobre, mas descobriu que seu pupilo era louco. Um ano depois, tornou-se secretário de seu primo, o tenente-general James St Clair, acompanhando-o em uma extensa missão diplomática na Áustria e na Itália.
Em 1748, publicou Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, abrangendo as idéias centrais do Livro I do Tratado e sua discussão sobre liberdade e necessidade do Livro II. Ele também incluiu material que havia retirado do Tratado. Em 1751, publicou Uma Investigação Sobre os Princípios da Moral, uma “reformulação” do Livro III do Tratado, que ele descreveu como “incomparavelmente o melhor” de todos os seus trabalhos (MOL 10). Mais ensaios, os Discursos Políticos, foram publicados em 1752, e a correspondência de Hume revela que um rascunho dos Diálogos Sobre a Religião Natural também estava em andamento nessa época.
Uma oferta para atuar como bibliotecário da Faculdade de Advogados de Edimburgo deu a Hume a oportunidade de iniciar outro projeto, uma História da Inglaterra, usando os excelentes recursos da biblioteca jurídica. Publicada em seis volumes entre 1754 e 1762, sua História foi um best-seller até o século seguinte, dando-lhe a independência financeira que há muito buscava. Porém, mesmo como bibliotecário, a reputação de Hume como ateu e cético o perseguia. Uma de suas encomendas de “livros indecentes” motivou um movimento malsucedido para sua demissão e excomunhão do Kirk. Amigos e editores o persuadiram a suprimir alguns de seus escritos mais controversos sobre religião durante sua vida.
Em 1763, Hume aceitou o cargo de secretário particular do embaixador britânico na França. Durante sua estada de três anos em Paris, ele se tornou secretário da embaixada e, por fim, o chargé d’affaires. Ele se tornou o centro das atenções dos salões parisienses, desfrutando da conversa e da companhia de famosos intelectuais europeus. Ele era conhecido por seu amor pela boa comida e pelo vinho, bem como por sua satisfação com as atenções e os afetos das mulheres.
Hume retornou a Edimburgo em 1769. Construiu uma casa em New Town, em Edimburgo, e passou seus anos de outono com tranquilidade e conforto, jantando e conversando com amigos, nem todos “estudiosos e literários”, pois também descobriu que sua “companhia não era inaceitável para os jovens e indolentes” (MOL 21). Ele passou um tempo considerável revisando suas obras para novas edições de seus Ensaios e Tratados, que continham seus Ensaios coletados, as duas Investigações, Uma Dissertação sobre as Paixões e A História Natural da Religião, mas — significativamente — não Um Tratado sobre a Natureza Humana.
Em 1775, Hume foi diagnosticado com câncer intestinal. Antes de sua morte, em 1776, ele providenciou a publicação póstuma de sua obra mais controversa, os Diálogos sobre a Religião Natural, e compôs uma breve autobiografia, “Minha Própria Vida“. Embora houvesse muita curiosidade sobre como “o grande infiel” enfrentaria sua morte, seus amigos concordaram que ele se preparou com a mesma alegria pacífica que caracterizou sua vida.
2. A Relação entre o Tratado e as Investigações
Em 1775, enquanto preparava uma edição revisada de seus Ensaios e Tratados para ser publicada, Hume enviou a seu editor um “Advertisement” (Anúncio), pedindo que fosse incluído nessa e em qualquer edição posterior de suas obras. Nele, ele reclama que seus críticos concentraram “todas as suas baterias” no Tratado, “aquele trabalho juvenil”, que ele publicou anonimamente e nunca reconheceu. Ele pede que seus leitores considerem as Investigações “como contendo seus sentimentos e princípios filosóficos”, assegurando a seu editor que elas fornecem “uma resposta completa” a seus críticos.
A aparente rejeição de Hume ao Tratado e sua consideração pelas Investigações levantam uma questão sobre como devemos ler sua obra. Devemos tomar suas declarações literalmente e deixar que as Investigações representem sua visão ponderada, ou devemos ignorar seu “Anúncio” e considerar o Tratado como a melhor declaração de sua posição?
Ambas as opções pressupõem que as diferenças entre o Tratado e as Investigações são substanciais o suficiente para justificar a adoção de uma ou outra como a melhor representação das opiniões de Hume, mas há boas razões para duvidar disso. Mesmo no “Advertisement”, Hume diz: “A maioria dos princípios e raciocínios contidos neste volume foram publicados” no Tratado. Ele repete sua convicção de que era culpado de “ir ao prelo cedo demais”, e que seu objetivo nas Investigações era “lançar tudo de novo … onde algumas negligências em seu raciocínio anterior e mais na expressão, são … corrigidas”.
A descrição de Hume de seus objetivos sugere outra opção. Em vez de repudiar o Tratado, talvez sua reformulação represente uma mudança na forma como ele apresenta seus “princípios e raciocínios”, em vez de uma mudança substancial no que ele tem a dizer. Ele reforça essa opção quando diz sobre a primeira Investigação que os “Princípios filosóficos são os mesmos em ambas” e que “Ao encurtar e simplificar as Questões, eu realmente as torno muito mais completas” (HL 73.2). Ele também comenta em “Minha Própria Vida” que a falta de sucesso do Tratado “se deveu mais à maneira do que à matéria” — mais à sua estrutura do que ao seu conteúdo (MOL 8). Não é descabido concluir que a reformulação do Tratado feita por Hume foi projetada para abordar essa questão, o que sugere que podemos entendê-lo melhor lendo as duas obras, apesar de suas diferenças, em conjunto.
3. Projeto Filosófico
Conforme proclama o título do Tratado, o tema de Hume é a natureza humana. Ele resume seu projeto em seu subtítulo: “uma tentativa de introduzir o método experimental em assuntos morais”. Em sua época, “moral” significava qualquer coisa relacionada à natureza humana, não apenas ética, como ele deixa claro no início da primeira Investigação, onde define “filosofia moral” como “a ciência da natureza humana” (EHU 1.1/5). O objetivo de Hume é trazer o método científico para o estudo da natureza humana.
Os primeiros estudos de Hume sobre os “sistemas” filosóficos o convenceram de que a filosofia estava em um estado lastimável e necessitava urgentemente de reforma. Quando tinha apenas 18 anos de idade, ele reclamou em uma carta que qualquer pessoa familiarizada com a filosofia percebe que ela está envolvida em “disputas intermináveis” (HL 3.2). Os filósofos antigos, nos quais ele estava se concentrando, reproduziam os erros cometidos por seus filósofos naturais. Eles apresentaram teorias que eram “inteiramente hipotéticas”, dependendo “mais da invenção do que da experiência”. Ele argumenta que eles consultavam a imaginação ao construir seus pontos de vista sobre a virtude e a felicidade, “sem considerar a natureza humana, da qual toda conclusão moral deve depender”. O jovem Hume resolveu evitar esses erros em seu próprio trabalho, fazendo da natureza humana seu “principal estudo e a fonte da qual eu derivaria toda verdade” (HL 3.6).
Mesmo nesse estágio inicial, as raízes da abordagem madura de Hume para a reforma da filosofia são evidentes. Ele estava convencido de que a única maneira de melhorar a filosofia era tornar a investigação da natureza humana central — e empírica (HL 3.2). O problema da filosofia antiga era sua dependência de “hipóteses” — afirmações baseadas em especulação e invenção, em vez de experiência e observação.
Quando Hume começou a escrever o Tratado, três anos mais tarde, ele havia mergulhado nas obras dos filósofos modernos, mas as considerou perturbadoras, principalmente porque eles cometiam os mesmos erros que os antigos cometiam, embora professassem evitá-los. Por que, pergunta Hume, os filósofos não conseguiram realizar o espetacular progresso na compreensão da natureza humana que os filósofos naturais — que hoje chamamos de “cientistas” — alcançaram recentemente nas ciências físicas? Sua resposta é que, embora os cientistas tenham se curado de sua “paixão por hipóteses e sistemas”, os filósofos ainda não se livraram dessa tentação. Suas teorias eram muito especulativas, baseavam-se em suposições a priori e davam pouca atenção à natureza humana. Em vez de nos ajudar a entender a nós mesmos, os filósofos modernos estavam atolados em disputas intermináveis — evidentes até mesmo para “a ralé alheia” — dando origem ao “preconceito comum contra raciocínios metafísicos de todos os tipos”, ou seja, “todo tipo de argumento que é de alguma forma obscuro e requer alguma atenção para ser compreendido” (T XIV.3).
Para progredir, afirma Hume, precisamos “rejeitar todo sistema (…) por mais sutil ou engenhoso que seja, que não esteja fundamentado em fatos e observações”. Esses sistemas, que abrangem uma ampla gama de pontos de vista metafísicos e teológicos arraigados e influentes, pretendem ter descoberto princípios que nos proporcionam um conhecimento mais profundo e mais seguro da realidade última. Mas Hume argumenta que, ao tentar ir além de qualquer coisa que possamos experimentar, essas teorias metafísicas tentam “penetrar em assuntos totalmente inacessíveis ao entendimento” (EHU 1.11/11), o que faz com que suas alegações de terem descoberto os “princípios últimos” da natureza humana não sejam apenas falsas, mas ininteligíveis. Essas “ciências aéreas”, como Hume as chama, têm apenas o “ar” da ciência (EHU 1.12/12).
Pior ainda, esses sistemas metafísicos são cortinas de fumaça para “superstições populares” que tentam nos subjugar com medos e preconceitos religiosos (EHU 1.11/11). Hume tem em mente uma variedade de doutrinas que precisam de cobertura metafísica para parecerem respeitáveis — argumentos para a existência de Deus, a imortalidade da alma e a natureza da providência particular de Deus. A metafísica ajuda e favorece essas e outras doutrinas supersticiosas.
Porém, ele insiste que, pelo fato de esses sistemas metafísicos e teológicos serem questionáveis, isso não significa que devemos desistir de fazer filosofia. Em vez disso, precisamos reconhecer “a necessidade de levar a guerra até os recônditos mais secretos do inimigo”. A única maneira de resistir à sedução dessas pseudociências é se envolver com elas, combatendo seu “jargão metafísico abstruso” com “raciocínio preciso e justo” (EHU 1.12/12).
Isso significa que a fase inicial do projeto de Hume deve ser crítica. Uma parte importante desse aspecto de seu projeto é “descobrir o domínio próprio da razão humana” — determinando a extensão e os limites dos poderes e capacidades da razão (EHU 1.12/12). Ele acredita que sua investigação mostrará que a metafísica, como a busca pela compreensão da natureza última da realidade, está fora do escopo da razão.
Os estudiosos já enfatizaram essa fase crítica em detrimento do restante do projeto de Hume, incentivando a acusação de que ele era apenas um cético negativo, que rejeita os pontos de vista dos outros sem defender nenhuma posição positiva. No entanto, embora ele seja de fato cético em relação à possibilidade de percepções metafísicas mais profundas do que a ciência pode fazer, investigar o domínio adequado da razão não é apenas uma atividade crítica. Sua crítica à metafísica abre caminho para a fase construtiva de seu projeto — o desenvolvimento de uma ciência empírica da natureza humana — e Hume não é nem um pouco cético quanto às suas perspectivas.
Em sua “Introdução” ao Tratado, Hume lança a fase construtiva de seu projeto propondo nada menos que “um sistema completo de ciências, construído sobre uma base inteiramente nova” (T XVI.6). A nova base é o estudo científico da natureza humana. Ele argumenta que todas as ciências têm alguma relação com a natureza humana, “até mesmo a matemática, a filosofia natural e a religião natural” (T XV.4). Todas elas são atividades humanas, portanto, o que podemos realizar nelas depende da compreensão dos tipos de questões com as quais somos capazes de lidar e dos tipos que devemos deixar de lado. Se tivermos uma melhor compreensão do escopo e dos limites de nossa compreensão, da natureza de nossas idéias e das operações que realizamos ao raciocinar sobre elas, não há como dizer quais melhorias poderemos fazer nessas ciências.
Devemos esperar um aprimoramento ainda maior nas ciências que estão mais intimamente ligadas ao estudo da natureza humana: “Lógica, Moral, Crítica e Política”. Muitos debates filosóficos de longa data são sobre a natureza de nossas idéias — causação, liberdade, virtude e beleza —, portanto, ter clareza sobre seu conteúdo deve nos ajudar a superar essas “disputas intermináveis”.
Como a ciência da natureza humana é o único alicerce sólido para as outras ciências, “o único alicerce sólido que podemos dar a essa ciência deve ser baseado na experiência e na observação” (T XVI.7). Embora Hume não o mencione pelo nome, Newton (1642-1727) é seu herói. Ele aceita a máxima newtoniana “Hypotheses non fingo”, ou seja, “Eu não crio hipóteses”. Todas as leis que descobrirmos devem ser estabelecidas por observação e experimentos.
Hume está propondo uma alternativa empirista ao tradicional a priori metafísico. Seu empirismo é naturalista, pois se recusa a aceitar qualquer apelo ao sobrenatural na explicação da natureza humana. Como naturalista, ele pretende explicar a maneira como nossas mentes funcionam de forma consistente com uma imagem newtoniana do mundo.
Hume retrata seu estudo científico da natureza humana como uma espécie de geografia mental ou anatomia da mente (EHU 1.13/13; T 2.1.12.2/326). Na primeira seção da primeira Investigação, ele diz que ela desempenha duas tarefas principais, uma puramente descritiva e a outra explicativa. A geografia mental consiste em delinear “as partes e poderes distintos” da mente (EHU 1.13/3). Embora todos possam entender as distinções básicas entre os conteúdos e as operações da mente, as distinções mais refinadas são mais difíceis de entender.
Hume, entretanto, quer ir muito além. Ele quer explicar como a mente funciona, descobrindo suas “fontes e princípios secretos”. Ele nos lembra que os astrônomos, durante muito tempo, se contentaram em provar os “movimentos, a ordem e a magnitude dos corpos celestes”. No entanto, “um filósofo” — Newton — foi além deles e determinou “as leis e forças pelas quais as revoluções dos planetas são governadas e dirigidas” (EHU 1.15/14). O exemplo de Newton levou outros filósofos naturais a sucessos explicativos semelhantes. Hume acredita que será igualmente bem-sucedido na descoberta das leis fundamentais que regem nossos “poderes mentais e economia”, se seguir a mesma cautela que Newton demonstrou ao realizar suas investigações.
O método científico de Newton fornece a Hume um modelo para a introdução do método experimental em sua investigação da mente. Em Uma Investigação Sobre os Princípios da Moral, ele diz que seguirá “um método muito simples” que, segundo ele, trará uma transformação no estudo da natureza humana. Seguindo o exemplo de Newton, ele argumenta que devemos “rejeitar todo sistema (…) por mais sutil ou engenhoso que seja, que não esteja fundamentado em fatos e observações” e aceitar apenas argumentos derivados da experiência. Quando perguntamos sobre a natureza humana, já que estamos fazendo “uma pergunta de fato, não de ciência abstrata”, devemos confiar na experiência e na observação (EPM 1.10/173-174).
Como um Newton novato das ciências morais, Hume quer encontrar um conjunto de leis que explique como os conteúdos da mente — percepções, como ele as chama — entram e saem da mente e como as percepções simples se combinam para formar percepções complexas de forma a explicar o pensamento, a crença, o sentimento e a ação humana.
A conquista de Newton foi a capacidade de explicar fenômenos físicos diversos e complexos em termos de alguns princípios gerais. Assim como ele, Hume propõe explicar “todos os efeitos a partir das causas mais simples e menos numerosas” (T XVII.8). Ele prevê que é provável que um “princípio da mente dependa de outro” e que esse princípio possa, por sua vez, ser submetido a outro princípio ainda “mais geral e universal” (EHU 1.15/15). Mas ele enfatiza que, embora tente encontrar os princípios mais gerais, tornando-os tão universais quanto possível, todas as suas explicações devem se basear completamente na experiência.
Embora a filosofia, como um empreendimento empírico, seja ela mesma limitada pela experiência, isso não é um defeito da ciência da natureza humana. O mesmo se aplica a todas as ciências: “Nenhuma delas pode ir além da experiência ou estabelecer quaisquer princípios que não estejam fundamentados nessa autoridade” (T Intro 10). As explicações devem chegar a um fim em algum lugar. Quando vemos que “chegamos ao limite máximo da razão humana, sentamo-nos satisfeitos”, pois a única razão que podemos dar para nossos princípios mais gerais é “nossa experiência de sua realidade” (T 9).
Hume é newtoniano em muito mais do que no método. Ele vê que Newton é significativamente diferente de John Locke (1632-1704) e dos outros filósofos naturais da Royal Society, porque rejeita a visão mecanicista do mundo. A maior descoberta de Newton, a Lei da Gravitação, não é uma lei mecânica. Hume modela explicitamente sua descrição dos princípios fundamentais das operações da mente — os princípios de associação — com base nas idéias de atração gravitacional. Ao recorrer a esses mesmos princípios por toda parte, Hume dá uma explicação desses diversos fenômenos que lhe permitem fornecer uma descrição unificada e econômica da mente.
4. Descrição da Mente
Para explicar o funcionamento de nossas mentes por meio da economia que Newton demonstrou em sua física, Hume introduz a quantidade mínima de maquinário que ele acredita ser necessária para explicar as operações da mente. Cada peça é garantida pela experiência.
O início do período moderno foi o auge da investigação das idéias de causação, bem e mal morais e muitas outras idéias filosoficamente contestadas. Todos os filósofos modernos aceitaram alguma versão da teoria das idéias — a visão de que percebemos imediatamente certas entidades mentais chamadas idéias, mas não temos acesso direto a objetos físicos. Hume defende uma versão empirista da teoria, pois acredita que tudo em que acreditamos é, em última análise, rastreável à experiência.
Ele começa com um relato das percepções, pois acredita que qualquer pergunta filosófica inteligível deve ser feita e respondida nesses termos. Ele usa percepção para designar qualquer conteúdo mental e divide as percepções em duas categorias: impressões e idéias.
As impressões incluem as sensações, bem como os desejos, as paixões e as emoções. As idéias são “as fracas imagens dessas impressões no pensamento e no raciocínio” (T 1.1.1.1/1). Ele acha que todos reconhecerão sua distinção, já que todos estão cientes da diferença entre sentir e pensar. É a diferença entre sentir a dor de sua queimadura solar atual e lembrar-se da queimadura solar do ano passado.
Hume distingue dois tipos de impressões: as impressões de sensação, ou impressões originais, e as impressões de reflexão, ou impressões secundárias. As impressões de sensação incluem os sentimentos que recebemos de nossos cinco sentidos, bem como as dores e os prazeres, todos os quais surgem em nós “originalmente, de causas desconhecidas” (T 1.1.2.1/7). Ele os chama de originais porque tentar determinar suas causas últimas nos levaria para além de qualquer coisa que possamos experimentar. Qualquer investigação inteligível deve parar com elas.
As impressões de reflexão incluem desejos, emoções, paixões e sentimentos. Elas são essencialmente reações ou respostas a idéias, e é por isso que ele as chama de secundárias. Suas lembranças da queimadura de sol do ano passado são idéias, cópias das impressões originais que você teve quando a queimadura ocorreu. A lembrança dessas idéias faz com que você tenha medo de sofrer outra queimadura solar este ano, tenha esperança de que isso não aconteça e queira tomar as devidas precauções para evitar a exposição excessiva ao sol.
As percepções — tanto as impressões quanto as idéias — podem ser simples ou complexas. As impressões complexas são formadas por um grupo de impressões simples. Minha impressão da violeta que acabei de colher é complexa. Entre as maneiras pelas quais ela afeta meus sentidos estão sua cor púrpura brilhante e seu cheiro doce. Posso separar e distinguir sua cor e seu cheiro do restante de minhas impressões sobre a violeta. Sua cor e seu cheiro são impressões simples, que não podem ser divididas ainda mais porque não têm partes componentes.
Hume inicialmente distingue impressões e idéias em termos de seu grau de força e vivacidade. As impressões são mais vigorosas e vivazes do que as idéias. Minha impressão da cor vermelha brilhante deste tomate maduro é a mais vívida possível. Os tomates do ano passado eram igualmente vívidos quando eu os estava olhando, mas agora minhas idéias sobre eles são muito menos vívidas do que minhas impressões sobre o tomate à minha frente. Como os tomates do ano passado eram da mesma cor, a diferença não pode estar no fato de serem diferentes tons de vermelho; a diferença deve estar na nitidez, clareza e brilho de minhas impressões — sua força e vivacidade. Em vários momentos, Hume tenta outras maneiras de caracterizar a diferença entre impressões e idéias, mas nunca ficou completamente satisfeito com elas. Ainda assim, o que ele diz funciona bem o suficiente para nos dar um controle sobre as diferenças sentidas entre impressões e idéias.
Quando Hume distingue impressões e idéias em termos de sua força e vivacidade relativas, ele está apontando algo que, de fato, é geralmente verdadeiro para elas. Ocasionalmente, em sonhos ou febre alta, as idéias podem se aproximar da força e da vivacidade das impressões, mas essas são exceções que comprovam a regra empírica. Em geral, as impressões e as idéias são tão diferentes que ninguém pode negar a distinção.
Embora nada pareça mais livre do que o poder do pensamento, que não está “restrito aos limites da natureza e da realidade” (EHU 2.4/18), Hume insiste que nossa imaginação está de fato “confinada a limites muito estreitos”. Podemos separar e combinar nossas idéias de maneiras novas e até bizarras, imaginando criaturas que nunca vimos ou galáxias distantes, mas todos os materiais do pensamento são, em última análise, derivados de nossas impressões. Como “todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas”, estamos restritos a “compor, transportar, aumentar ou diminuir os materiais que nos são fornecidos pelos sentidos e pela experiência” (EHU 2.5/19).
4.1 O Princípio da Cópia
No Tratado, Hume qualifica sua afirmação de que nossas idéias são cópias de nossas impressões, deixando claro que ela se aplica apenas à relação entre idéias simples e impressões simples. Ele oferece essa “proposição geral”, geralmente chamada de Princípio da Cópia, como seu “primeiro princípio … na ciência da natureza humana”:
Todas as nossas idéias simples, em sua primeira aparência, são derivadas de impressões simples, que lhes são correspondentes e que elas representam exatamente. (T 1.1.1.7/4)
Ele apresenta o princípio como algo que a experiência de todos confirma, mas também apresenta um argumento para estabelecê-lo
Em primeiro lugar, ele argumenta que há uma correspondência de um para um entre idéias simples e impressões simples. Ele não pode provar que essa correspondência é válida universalmente, pois não pode examinar cada impressão e cada idéia individualmente. Mas ele está tão confiante de que a correspondência é válida que desafia qualquer pessoa que duvide dela a produzir um exemplo de uma impressão simples sem uma idéia simples correspondente, ou uma idéia simples sem uma impressão simples correspondente. Como ele tem certeza de que falharão, ele conclui que há uma conjunção constante entre impressões simples e idéias simples.
Em seguida, ele afirma que essa conjunção constante é tão universal que a correspondência não pode ser uma questão de acaso. Deve haver uma conexão causal entre elas, mas será que as idéias causam impressões ou as impressões causam idéias?
Por fim, ele argumenta que a experiência nos diz que as impressões simples sempre precedem e, portanto, causam suas idéias correspondentes. Para apoiar essa afirmação, ele apela para dois tipos de casos. Primeiro, se quisermos dar a uma criança uma idéia do sabor do abacaxi, devemos dar a ela um pedaço de abacaxi para comer. Ao fazer isso, você está dando a ela uma impressão do sabor do abacaxi. Nunca se deve fazer o contrário. Seu outro caso envolve uma pessoa que nasceu cega, que não terá idéias de cores porque não terá impressões de cores.
O Princípio da Cópia é uma tese empírica, que ele enfatiza oferecendo “um fenômeno contraditório” como um contraexemplo empírico ao princípio. Ele imagina alguém que teve os mesmos tipos de experiências de cores que a maioria de nós teve, mas nunca experimentou um determinado tom de azul. Hume acha que se ele ordenar todos os tons de azul que experimentou do mais escuro para o mais claro, verá imediatamente que há uma lacuna onde deveria estar o tom que falta. Então ele pergunta se
é possível para ele, a partir de sua própria imaginação, (…) criar para si mesmo a idéia daquela tonalidade específica, mesmo que ela nunca tenha sido transmitida a ele por seus sentidos? Acredito que há poucos que não sejam da opinião de que ele pode; e isso pode servir como uma prova de que as idéias simples nem sempre são derivadas das impressões correspondentes; embora o exemplo seja tão particular e singular, que quase não vale a pena observá-lo, e não merece que, somente por ele, alteremos nossa máxima geral. (T 1.1.1.10/6)
Hume repete o caso da tonalidade ausente quase literalmente na primeira Investigação. Embora os estudiosos tenham se perguntado exatamente como a pessoa poderia fornecer a tonalidade que faltava, ele parece não se preocupar com os detalhes. Para Hume, mais uma vez a exceção prova a regra — empírica.
4.2 O Relato de Hume Sobre a Definição
Embora o tipo distinto de empirismo de Hume seja frequentemente identificado com seu compromisso com o Princípio da Cópia, o uso do princípio inverso em sua descrição da definição talvez seja o elemento mais inovador de seu sistema.
Tal como revela seu diagnóstico da metafísica tradicional, Hume acredita que
o principal obstáculo (…) ao nosso aprimoramento nas ciências morais ou metafísicas é a obscuridade das idéias e a ambiguidade dos termos. (EHU 7.1.2/61)
As definições convencionais — substituindo os termos por seus sinônimos — apenas reproduzem as confusões filosóficas e nunca saem de um círculo de definição estreito. Ter clareza sobre o conteúdo das idéias e os significados dos termos que estamos investigando exige algo mais.
Hume argumenta que devemos “passar das palavras para o verdadeiro e real assunto da controvérsia” — as idéias. Ele acredita ter encontrado uma maneira de determinar com precisão o conteúdo delas — seu relato acerca da definição. Ele a apresenta como “um novo microscópio ou espécie de óptica”, prevendo que ela produzirá resultados igualmente dramáticos nas ciências morais, assim como suas contrapartes de hardware — telescópios e microscópios — produziram na filosofia natural (EHU 7.1.4/62).
O relato de Hume a respeito da definição usa uma série simples de testes para determinar o conteúdo cognitivo. Comece com um termo. Pergunte que idéia está associada a ele. Se não houver tal idéia, então o termo não tem conteúdo cognitivo, por mais proeminente que seja em filosofia ou teologia. Se houver uma idéia anexada ao termo, e ela for complexa, decomponha-a nas idéias simples que a compõem e rastreie-as até suas impressões originais. Se o processo falhar em algum ponto, a idéia em questão carece de conteúdo cognitivo. Entretanto, quando realizado com sucesso, ele produz uma “definição justa” — uma descrição precisa do conteúdo da idéia problemática.
Hume usa seu relato acerca da definição na fase crítica de seu projeto para mostrar que muitos dos conceitos centrais da metafísica tradicional carecem de conteúdo inteligível. Ele também o utiliza na fase construtiva para determinar o significado exato de nossos termos e idéias.
4.3 Princípios da Associação
Embora sejamos capazes de separar e combinar nossas idéias simples a nosso bel-prazer, há, no entanto, uma ordem regular em nossos pensamentos. Se as nossas idéias ocorressem de forma completamente aleatória, de modo que todos os nossos pensamentos fossem “soltos e desconectados”, não conseguiríamos pensar de maneira coerente (T 1.1.4.1/10). Isso sugere que
Há um laço ou união secreta entre determinadas idéias, que faz com que a mente as una com mais frequência e faz com que uma, ao aparecer, introduza a outra. (Resumo 35)
Hume explica esse “laço ou união” em termos da capacidade natural da mente de associar certas idéias. A associação não é “uma conexão inseparável”, mas sim “uma força suave, que geralmente prevalece”, por meio da qual uma idéia naturalmente introduz outra (T 1.1.4.1/10).
Na primeira Investigação, Hume diz que, embora seja óbvio para todos que nossas idéias estão conectadas dessa maneira, ele é o primeiro filósofo que “tentou enumerar ou classificar todos os princípios de associação” (EHU 3.2/24). Ele considera seu uso desses “princípios universais” tão distinto que os anuncia como sua contribuição mais original — o que lhe dá o direito de se chamar de “inventor” (Resumo 35).
Hume identifica três princípios de associação: semelhança, contiguidade em tempo e lugar e causalidade. Quando alguém lhe mostra uma foto de sua melhor amiga, você naturalmente pensa nela porque a foto se parece com ela. Quando você se lembra de algo que aconteceu na década de 1960 — as mini saias, por exemplo —, pode pensar na Guerra do Vietnã, porque elas são temporalmente contíguas. Pensar em Sausalito pode levá-lo a pensar na Ponte Golden Gate, que pode levá-lo a pensar em São Francisco, já que são coisas espacialmente contíguas. A causalidade funciona tanto da causa para o efeito quanto do efeito para a causa: conhecer o pai de alguém pode fazer você pensar no filho dele; conhecer o filho pode levá-lo a pensar no pai dele.
Dos três princípios associativos, a causalidade é o mais forte e o único que nos leva “para além de nossos sentidos” (T 1.3.2.3/74). Ela estabelece vínculos entre nossas experiências presentes e passadas e nossas expectativas sobre o futuro, de modo que “todos os raciocínios relativos a questões de fato parecem estar fundamentados na relação de Causa e Efeito” (EHU 4.1.4/26). Tomar aspirina no passado aliviou minhas dores de cabeça, portanto, espero que a aspirina que acabei de tomar logo alivie minha dor de cabeça atual. Hume também deixa claro que a causalidade é o menos compreendido dos princípios associativos, mas ele nos diz que “mais tarde teremos a oportunidade de examiná-lo até o fim” (T 1.1.4.2/11).
Assim como a atração gravitacional, os princípios associativos são originais e, portanto, não podem ser explicados mais detalhadamente. Embora os “efeitos dos princípios associativos sejam evidentes em toda parte”, suas causas “são em sua maioria desconhecidas e devem ser resolvidas em qualidades originais da natureza humana, que não pretendo explicar”. Assim, devemos refrear qualquer “desejo intempestivo” de explicá-los, pois isso nos levaria ilegitimamente para além dos limites da experiência (T 1.1.4.6/12-13).
Hume não tenta explicar por que associamos as idéias do modo como o fazemos. Ele está interessado apenas em estabelecer que, de fato, associamos idéias dessa maneira. Dado que sua afirmação de que os princípios associativos explicam as operações importantes da mente é empírica, ele deve admitir, tal como faz na primeira Investigação, que não pode provar conclusivamente que sua lista de princípios associativos está completa. Talvez ele tenha se esquecido de algum princípio adicional. Somos livres para examinar nossos próprios pensamentos para determinar se a semelhança, a contiguidade e a causalidade os explicam com sucesso. Quanto mais casos os princípios associativos explicarem, mais certeza teremos de que Hume identificou os princípios básicos pelos quais nossas mentes funcionam.
No Resumo, Hume conclui que deve ser “fácil conceber as vastas consequências que esses princípios devem ter na ciência da natureza humana”. Como eles “são os únicos vínculos de nossos pensamentos, eles são realmente para nós o cimento do universo, e todas as operações da mente devem, em grande medida, depender deles” (Resumo 35). O que são essas “vastas consequências” ficará claro quando examinarmos os relatos revolucionários de Hume sobre nossas inferências causais e julgamentos morais.
5. Causalidade
A síntese medieval que Tomás de Aquino (1224-1274) forjou entre a teologia cristã, a ciência e a metafísica de Aristóteles definiu os termos para o debate moderno sobre a causalidade. Aristóteles (384-322 a.C.) fez uma distinção categórica absoluta entre o conhecimento científico (scientia) e a crença (opinio). O conhecimento científico era o conhecimento das causas e a explicação científica consistia na demonstração — provar a conexão necessária entre uma causa e seu efeito a partir de premissas intuitivamente óbvias, independentemente da experiência.
Os filósofos modernos se consideravam revolucionários científicos porque rejeitavam o relato de Aristóteles sobre a causalidade. Mesmo assim, eles aceitaram sua distinção entre conhecimento e crença e consideraram a inferência causal como um exercício da razão, cujo objetivo era demonstrar a conexão necessária entre causa e efeito. Malebranche (1638-1715) e outros que seguiram Descartes (1596-1650) eram otimistas quanto à possibilidade de conhecimento científico demonstrativo, enquanto os da tradição experimental britânica eram mais pessimistas. Locke era suficientemente cético quanto ao conhecimento que podemos obter e construiu um dos primeiros relatos de inferência provável para mostrar que a crença pode atender aos padrões de racionalidade que tornam a filosofia natural experimental intelectualmente respeitável.
Quando Hume entra no debate, ele traduz a distinção tradicional entre conhecimento e crença em seus próprios termos, dividindo “todos os objetos da razão ou investigação humana” em duas categorias exclusivas e exaustivas: relações de idéias e questões (ou matéria) de fato.
As proposições referentes às relações de idéias são intuitivamente ou demonstrativamente certas. Elas são conhecidas a priori — podem ser descobertas independentemente da experiência pela “mera operação do pensamento”, de modo que sua verdade não depende de nada que exista de fato (EHU 4.1.1/25). O fato de os ângulos internos de um triângulo euclidiano somarem 180 graus é verdadeiro, independentemente de haver ou não triângulos euclidianos na natureza. Negar essa proposição é uma contradição, assim como é contraditório dizer que 8×7=57.
Em nítido contraste, a verdade das proposições relativas a questões de fato depende da maneira como o mundo é. Seus contrários são sempre possíveis, suas negações nunca implicam contradições e não podem ser estabelecidas por demonstração. Afirmar que Miami fica ao norte de Boston é falso, mas não contraditório. Podemos entender o que alguém que afirma isso está dizendo, mesmo que fiquemos perplexos sobre como esse alguém pode estar tão errado em relação aos fatos.
A distinção entre relações de idéias e questões (ou matéria) de fato é muitas vezes chamada de “garfo de Hume”, geralmente com a implicação negativa de que Hume pode estar excluindo ilicitamente proposições significativas que não se encaixam nessas duas categorias ou que se encaixam em ambas. Para neutralizar essa objeção, no entanto, é importante ter em mente que as categorias de Hume são suas traduções de uma distinção classificatória categórica absoluta tradicional, que todos os seus contemporâneos e predecessores imediatos aceitaram.
O método de Hume dita sua estratégia no debate sobre a causalidade. Na fase crítica, ele argumenta que seus predecessores estavam errados: nossas inferências causais não são determinadas pela “razão ou por qualquer outra operação do entendimento” (EHU 5.1.2/41). Na fase construtiva, ele fornece uma alternativa: os princípios associativos são sua base.
As contribuições de Hume para a fase crítica do debate sobre a causalidade estão contidas no Tratado 1.3.6 e na Seção 4 da primeira Investigação, apropriadamente intitulada “Dúvidas céticas a respeito das operações do entendimento”. A fase construtiva em seu relato da Investigação é a seção seguinte, também apropriadamente intitulada “Solução cética dessas dúvidas”, enquanto as seções correspondentes do Tratado vão de 1.3.7 a 1.3.10.
5.1 Inferência Causal: Fase Crítica
As inferências causais são a única maneira de irmos para além das evidências de nossos sentidos e memórias. Ao fazê-las, supomos que há alguma conexão entre os fatos atuais e o que inferimos deles. Mas qual é essa conexão? Como ela é estabelecida?
Se a conexão é estabelecida por uma operação da razão ou do entendimento, ela deve dizer respeito a relações de idéias ou a matéria de fato.
Hume argumenta que a conexão não pode envolver relações de idéias. Os efeitos são eventos diferentes de suas causas, portanto, não há contradição em conceber a ocorrência de uma causa e a não ocorrência de seu efeito usual. Os julgamentos causais comuns são tão familiares que tendemos a ignorar esse fato; eles parecem imediatos e intuitivos. Mas suponha que você fosse subitamente trazido ao mundo como adulto, armado com o poder de fogo intelectual de um Einstein. Você poderia, simplesmente examinando um comprimido de aspirina, determinar que ele aliviará sua dor de cabeça?
Quando raciocinamos a priori, consideramos a idéia do objeto que consideramos como causa independentemente de quaisquer observações que tenhamos feito dele. Ele não pode incluir a idéia de nenhum outro objeto distinto, inclusive o objeto que consideramos seu efeito habitual. Porém, ele não pode nos mostrar nenhuma “conexão inseparável e inviolável” — nenhuma conexão necessária — entre essas idéias. Tentar raciocinar a priori a partir da sua idéia de uma aspirina, sem incluir qualquer informação que você tenha sobre seus efeitos a partir de sua experiência anterior, produz apenas suas idéias simples de suas “qualidades sensíveis” — seu tamanho, forma, peso, cor, cheiro e sabor. Isso não lhe dá nenhuma noção de quais “poderes secretos” ele pode ter para produzir seus efeitos habituais. Hume conclui que o raciocínio a priori não pode ser a fonte da conexão entre nossas idéias de uma causa e seu efeito. Ao contrário do que a maioria de seus contemporâneos e predecessores imediatos pensava, as inferências causais não dizem respeito a relações de idéias.
Hume passa agora para a única possibilidade restante. Se as inferências causais não envolvem raciocínio a priori sobre relações de idéias, elas devem dizer respeito a questões de fato e experiência. Quando temos muitas experiências de um tipo de evento constantemente combinado com outro, começamos a pensar neles como causa e efeito e a inferir um a partir do outro. Porém, mesmo depois de termos tido muitas experiências de uma causa combinada com seu efeito, nossas inferências não são determinadas pela razão ou por qualquer outra operação do entendimento.
No passado, tomar aspirina aliviou minhas dores de cabeça, portanto, acredito que tomar aspirina aliviará a dor de cabeça que estou tendo agora. Mas minha inferência se baseia nas qualidades sensíveis superficiais da aspirina, que nada têm a ver com o alívio da dor de cabeça. Mesmo que eu presuma que a aspirina tem “poderes secretos” que estão fazendo o trabalho pesado para aliviar minha dor de cabeça, eles não podem ser a base da minha inferência, pois esses “poderes secretos” são desconhecidos.
No entanto, Hume observa que “sempre presumimos, quando vemos qualidades sensíveis semelhantes, que elas têm poderes secretos semelhantes, e esperamos que efeitos semelhantes aos que experimentamos resultem delas” (EHU 4.2.16/33). Como não intuímos nem inferimos a priori que objetos semelhantes têm poderes secretos semelhantes, nossa presunção deve se basear de alguma forma em nossa experiência.
Mas nossa experiência passada só nos dá informações sobre os objetos tal como eles eram quando os experimentamos, e nossa experiência presente só nos diz sobre os objetos que estamos experimentando agora. As inferências causais, entretanto, não registram apenas nossas experiências passadas e presentes. Elas estendem ou projetam o que coletamos da experiência para outros objetos no futuro. Como não é necessariamente verdade que um objeto com as mesmas qualidades sensíveis terá os mesmos poderes secretos que os objetos passados com essas qualidades sensíveis tiveram, como projetamos essas experiências no futuro, em outros objetos que podem apenas parecer semelhantes aos que experimentamos anteriormente?
Hume acredita que podemos ter um controle sobre essa questão considerando duas proposições claramente diferentes:
- (1) Descobri que o alívio da dor de cabeça sempre veio depois que tomei aspirina;
e
- (2) Tomar aspirina semelhante às que tomei no passado aliviará minha dor de cabeça atual.
Não há dúvida de que “uma proposição pode ser justamente deduzida da outra” e que “ela é sempre deduzida”. Mas como sua conexão obviamente não é intuitiva, Hume nos desafia a produzir a “cadeia de raciocínio” que nos leva de proposições como (1) a proposições como (2) (EHU 4.2.16/34).
(1) resume minha experiência passada, enquanto (2) prevê o que acontecerá no futuro imediato. A cadeia de raciocínio de que preciso deve me mostrar como minha experiência passada é relevante para minha experiência futura. Preciso de mais alguma proposição ou proposições que estabeleçam um vínculo ou conexão apropriada entre o passado e o futuro e que me levem de (1) para (2) usando o raciocínio demonstrativo, referente a relações de idéias, ou o raciocínio provável, referente à matéria de fato.
Hume acha que é evidente que o raciocínio demonstrativo não pode preencher a lacuna entre (1) e (2). Por mais improvável que seja, sempre podemos conceber de forma inteligente uma mudança no curso da natureza. Mesmo que a aspirina tenha aliviado minhas dores de cabeça anteriores, não há contradição em supor que ela não aliviará a que estou tendo agora, portanto, a suposição de uma mudança no curso da natureza não pode ser provada falsa por qualquer raciocínio relativo às relações de idéias.
Isso nos deixa com o raciocínio provável. Hume argumenta que não há raciocínio provável que possa fornecer uma inferência justa do passado para o futuro. Qualquer tentativa de inferir (2) de (1) por meio de uma inferência provável será viciosamente circular — envolverá supor o que estamos tentando provar.
Hume explica a circularidade da seguinte forma. Qualquer raciocínio que nos leve de (1) a (2) deve empregar algum princípio de conexão que ligue o passado ao futuro. Como uma coisa que nos impede de passar diretamente do passado para o futuro é a possibilidade de que o curso da natureza possa mudar, parece plausível pensar que o princípio de conexão de que precisamos será aquele que nos garantirá que a natureza é uniforme — que o curso da natureza não mudará —, algo como esse princípio de uniformidade:
[PU] O futuro será como o passado.
A adoção do [PU] de fato nos permitirá ir de (1) para (2). No entanto, antes de podermos usá-lo para estabelecer que nossas inferências causais são determinadas pela razão, precisamos determinar nossa base para adotá-lo. O [PU] claramente não é intuitivo, nem demonstrável, como Hume já apontou, de modo que somente argumentos prováveis poderiam estabelecê-lo. Mas tentar estabelecer [PU] dessa maneira seria tentar estabelecer argumentos prováveis usando argumentos prováveis, o que acabará por incluir o próprio [PU].
Nesse ponto, Hume esgotou as maneiras pelas quais a razão poderia estabelecer uma conexão entre causa e efeito. Ele nos garante que oferece suas “dúvidas céticas” não como um “desânimo, mas sim como um incentivo (…) para tentar algo mais completo e satisfatório”. Tendo aberto o caminho para seu relato construtivo, é exatamente isso que Hume está pronto para fazer.
5.2 Inferência Causal: Fase Construtiva
Hume chama seu relato construtivo sobre a inferência causal de uma “solução cética” para as “dúvidas céticas” que ele levantou na fase crítica de seu argumento.
Como somos determinados – causados – a fazer inferências causais, se elas não forem “determinadas pela razão”, deve haver “algum princípio de igual peso e autoridade” que nos leve a fazê-las. Hume afirma que esse princípio é o costume ou hábito:
Sempre que a repetição de qualquer ato ou operação específica produz uma propensão a renovar o mesmo ato ou operação… sempre dizemos que essa propensão é o efeito do costume. (EHU 5.1.5/43)
Portanto, é o costume, e não a razão, que “determina a mente … a supor o futuro conforme o passado” (Resumo 16). Entretanto, embora tenhamos localizado o princípio, é importante ver que não se trata de um novo princípio pelo qual nossas mentes operam. Costume e hábito são nomes gerais para os princípios de associação.
Hume descreve sua operação como um processo causal: o costume ou hábito é a causa da propensão específica que você forma após suas experiências repetidas da conjunção constante entre fumaça e fogo. A causação é o princípio associativo operativo aqui, pois é o único desses princípios que pode nos levar para além de nossos sentidos e memórias.
Hume conclui que somente o costume “nos faz esperar pelo futuro uma série de eventos semelhantes aos que ocorreram no passado” (EHU 5.1.6/44). Assim, o costume acaba sendo a fonte do Princípio da Uniformidade — a crença de que o futuro será como o passado.
5.3 Crença
A inferência causal nos leva não apenas a conceber o efeito, mas também a esperar por ele. Quando espero que a aspirina alivie minha dor de cabeça, não estou apenas considerando abstratamente a idéia de alívio da dor de cabeça, mas acredito que a aspirina irá aliviá-la. O que mais está envolvido em acreditar que a aspirina aliviará minha dor de cabeça do que simplesmente conceber que isso acontecerá?
Não é possível que as crenças tenham alguma idéia adicional — a idéia de crença, talvez — que as concepções não tenham. Se houvesse essa idéia, dada a nossa capacidade de combinar idéias livremente, poderíamos, por simples vontade, acrescentar essa idéia a qualquer concepção e acreditar em qualquer coisa que quiséssemos.
Hume conclui que a crença deve ser algum sentimento ou sensação despertada em nós independentemente de nossas vontades, que acompanha as idéias que as constituem. É uma forma ou maneira particular de conceber uma idéia que é gerada pelas circunstâncias em que nos encontramos.
Se as conjunções constantes fossem tudo o que está envolvido, meus pensamentos sobre aspirina e dores de cabeça seriam apenas hipotéticos. Para acreditar, um dos objetos conjugados deve estar presente em meus sentidos ou em minhas memórias; devo estar tomando, ou ter tomado, uma aspirina. Nessas circunstâncias, acreditar que minha dor de cabeça logo será aliviada é tão inevitável quanto sentir afeição por um amigo próximo ou raiva quando alguém nos prejudica. “Todas essas operações são espécies de instintos naturais, que nenhum raciocínio (…) é capaz de produzir ou impedir” (EHU 5.1.8/46-47).
Embora Hume pense que seja impossível definir esse sentimento, podemos descrever a crença, ainda que apenas por analogia, embora ele nunca tenha ficado completamente satisfeito com suas tentativas de fazê-lo. A crença é uma concepção mais viva, mais firme, mais vívida, estável e intensa de um objeto. Hume pretende que essas caracterizações vão para além do mero registro da intensidade do sentimento para capturar como a crença
torna as realidades (…) mais presentes para nós do que as ficções, faz com que elas pesem mais no pensamento e lhes dá uma influência superior sobre as paixões e a imaginação. (EHU 5.2.12/49)
No entanto, como uma idéia passa a ser concebida de tal forma que se torna uma crença?
A explicação de Hume é a de que, à medida que me acostumo a tomar aspirina para aliviar minhas dores de cabeça, desenvolvo uma propensão — uma tendência — de esperar que o alívio da dor de cabeça venha depois de tomar aspirina. Essa propensão se deve ao vínculo associativo que minhas experiências repetidas de tomar aspirina e aliviar a dor de cabeça formaram. Minhas impressões atuais de tomar uma aspirina são tão fortes e vívidas quanto qualquer outra coisa poderia ser, e parte de sua força e vivacidade se transfere pelo caminho associativo para a noção de alívio da dor de cabeça, animando-a com força e vivacidade suficientes para dar a ela a “força e solidez” que constitui a crença.
Como não sei como a aspirina alivia a dor de cabeça, é uma sorte que haja “uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o curso da natureza e a sucessão de nossas idéias” que me ensina a tomar aspirina quando estou com dor de cabeça. Hume afirma que o costume, em uma linguagem que antecipa e influencia Darwin,
é o princípio pelo qual essa correspondência foi efetuada; tão necessário à subsistência de nossa espécie e à regulação de nossa conduta, em todas as circunstâncias da vida humana. (EHU 5.2.21/55)
É muito melhor, conclui Hume, confiar na “sabedoria comum da natureza”, que garante que formemos crenças “por algum instinto ou tendência mecânica”, em vez de confiar nas “deduções falaciosas de nossa razão” (EHU 5.2.22/55).
De acordo com seu projeto de fornecer um relato naturalista de como nossas mentes funcionam, Hume apresentou explicações empíricas sobre nossa propensão a fazer inferências causais e a maneira como essas inferências levam à crença.
6. A Idéia de Conexão Necessária
O debate sobre a causalidade no início da modernidade girava em torno de uma família de idéias-chave “quase sinônimas”, sendo as mais proeminentes as idéias de poder e conexão necessária. Para Hume, “não há idéias mais obscuras e incertas do que as que ocorrem na metafísica”. Ele mostra os usos críticos e construtivos de seu relato de definição ao tentar “fixar… o significado preciso desses termos”, a fim de “remover parte dessa obscuridade, da qual tanto se reclama nessa espécie de filosofia” (EHU 7.1.3/61-62).
6.1 Conexão Necessária: Fase Crítica
Para esclarecer a idéia de poder ou conexão necessária, precisamos determinar as impressões que são sua fonte. Hume identifica três possíveis fontes no trabalho de seus predecessores: Locke acreditava que obtemos nossa idéia de poder secundariamente de impressões externas das interações de objetos físicos e, principalmente, de impressões internas de nossa capacidade de mover nossos corpos e de considerar idéias. Malebranche argumentou que o que consideramos como causas do movimento dos corpos ou da atividade mental não são de fato causas. São apenas ocasiões para Deus, a única fonte de conexão necessária, agir no mundo. Hume rejeita todas as três possibilidades.
Ele argumenta que as impressões externas das interações dos corpos não podem dar origem à nossa idéia de poder. Quando vemos que o movimento de uma bola de bilhar segue o de outra, estamos apenas observando sua conjunção, nunca sua conexão.
Atentar para as impressões internas das operações de nossa mente não ajuda. Embora os movimentos corporais voluntários sigam nossa vontade de que esses movimentos ocorram, essa é uma matéria de fato que aprendo por meio da experiência, não de alguma impressão interna do poder da minha vontade. Quando decido digitar, meus dedos se movem sobre o teclado. Quando decido parar, eles param, mas não tenho idéia de como isso acontece. Se eu estivesse ciente do poder da minha vontade de mover meus dedos, saberia como ela funciona e quais são seus limites.
Nossa capacidade de controlar nossos pensamentos também não nos dá uma impressão do poder. Não temos a menor idéia de como geramos nossas idéias. Nosso comando sobre elas é limitado e varia de tempos em tempos. Aprendemos sobre essas limitações e variações somente por meio da experiência, mas os mecanismos pelos quais elas operam são desconhecidos e incompreensíveis para nós. Se decido pensar em Istambul, minha idéia dessa cidade me vem à mente, mas experimento apenas a sucessão de minha decisão seguida pelo surgimento da idéia, nunca o poder em si.
Quando as pessoas comuns não conseguem determinar a causa de um evento, elas o atribuem a algum “princípio inteligente invisível”. Malebranche e outros ocasionalistas fazem o mesmo, só que aplicam isso de forma generalizada. As verdadeiras causas não são poderes no mundo físico ou nas mentes humanas. A única causa verdadeira é a vontade de Deus de que certos objetos sejam sempre combinados com outros.
Qualquer pessoa ciente dos limites estreitos de nossa mente deve perceber que a teoria de Malebranche nos leva ao “país das fadas” — ela vai tão além de nossa experiência que não temos como avaliá-la de forma inteligível. Ela também capitaliza o pouco que sabemos sobre as interações dos corpos, mas como nossa idéia de Deus se baseia em extrapolações de nossas faculdades, nossa ignorância também deve se aplicar a ele.
6.2 Conexão Necessária: Fase Construtiva
Uma vez que examinamos os principais concorrentes para a fonte de nossa idéia de conexão necessária e os encontramos em falta, pode parecer que não temos tal idéia, mas isso seria muito precipitado. Em nossa discussão sobre inferência causal, vimos que quando descobrimos que um tipo de evento está constantemente associado a outro, começamos a esperar que um ocorra quando o outro ocorrer. Supomos que haja alguma conexão entre eles e não hesitamos em chamar o primeiro de causa e o segundo de efeito. Vimos também que não há nada diferente na repetição de casos constantemente combinados em relação a um único caso exatamente semelhante, exceto pelo fato de que, depois de termos experimentado sua constante combinação, o hábito nos determina a esperar o efeito quando a causa ocorre.
Hume conclui que é exatamente essa determinação sentida pela mente — nossa consciência dessa transição habitual de um objeto associado para outro — que é a fonte de nossa idéia de conexão necessária. Quando dizemos que um objeto está necessariamente conectado a outro, na verdade queremos dizer que os objetos adquiriram uma conexão associativa em nosso pensamento que dá origem a essa inferência.
Tendo localizado o ingrediente que faltava, Hume está pronto para oferecer uma definição de causa. De fato, ele nos dá duas. A primeira,
Uma causa é um objeto, acompanhado por outro, em que todos os objetos semelhantes ao primeiro são acompanhados por objetos semelhantes ao segundo,
fornece as impressões externas relevantes, enquanto a segunda,
Uma causa é um objeto seguido de outro, cuja aparência sempre transmite o pensamento ao outro,
captura a impressão interna — nossa consciência de sermos determinados pelo costume a passar da causa ao efeito. Ambas são definições no relato de Hume, mas sua “definição justa” de nossa idéia de causa é a conjunção das duas (EHU 7.2.29/76-77). Somente juntas elas capturam todas as impressões relevantes envolvidas.
Hume localiza a fonte da idéia de conexão necessária em nós, não nos objetos em si ou mesmo em nossas idéias sobre os objetos que consideramos como causas e efeitos. Ao fazer isso, ele muda completamente o curso do debate sobre a causalidade, revertendo o que todos pensavam sobre a idéia de conexão necessária. As discussões subsequentes sobre a causalidade devem enfrentar os desafios que Hume impõe às formas tradicionais e mais metafísicas de ver nossa idéia de causalidade.
O tratamento dado por Hume à nossa idéia de causalidade é a principal ilustração de como seu método funciona e dos resultados revolucionários que ele pode alcançar. Em seguida, ele aplica seu método e seus resultados concretos a outros debates importantes no período moderno, incluindo inferência provável, testemunho de milagres, livre-arbítrio e design inteligente.
7. Filosofia Moral
A explicação de Hume sobre a moralidade é uma parte importante de seus esforços para reformar a filosofia. Ele considera que sua principal tarefa é investigar a origem das idéias morais básicas, que ele supõe serem as idéias de bondade e maldade morais. Assim como a idéia de causa e conexão necessária, ele quer explicar as idéias morais da forma mais econômica possível em termos de suas “causas mais simples e menos numerosas”. A determinação de suas causas determinará qual é o seu conteúdo — o que queremos dizer com elas. Sua preocupação secundária é estabelecer quais traços de caráter e motivos são moralmente bons e ruins.
Hume segue seu predecessor sentimentalista, Francis Hutcheson (1694-1746), ao construir sua teoria moral em torno da idéia de um espectador que aprova ou desaprova os traços de caráter e os motivos das pessoas. Os sentimentos de aprovação e desaprovação são a fonte de nossas idéias morais de bondade e maldade. Avaliar um traço de caráter como moralmente bom é avaliá-lo como virtuoso; avaliá-lo como moralmente ruim é avaliá-lo como vicioso.
Como fez no debate sobre a causalidade, Hume entra em um debate contínuo sobre ética, geralmente chamado de debate dos Moralistas Britânicos, que começou em meados do século XVII e continuou até o final do século XVIII. Ele usa aqui o mesmo método que usou no debate sobre a causalidade: há uma fase crítica na qual ele argumenta contra seus oponentes e uma fase construtiva na qual ele desenvolve sua versão do sentimentalismo. Hume tem dois grupos de oponentes: os teóricos do amor-próprio e os racionalistas morais. Ele se tornou o mais famoso defensor do sentimentalismo.
A tentativa radical de Thomas Hobbes (1588-1679) de derivar a obrigação moral e política de motivos de interesse próprio deu início ao debate dos moralistas britânicos. Hobbes, como seus contemporâneos o entendiam, caracteriza-nos como naturalmente egocêntricos e sedentos de poder, preocupados acima de tudo com nossa própria preservação. No estado de natureza, uma condição pré-moral e pré-legal, procuramos nos preservar tentando dominar os outros. Como somos todos suficientemente “iguais” em termos de poder, isso resulta em um estado de “guerra de todos contra todos”, no qual a vida é “desagradável, brutal e curta” (Leviatã, cap. 13). A saída é fazermos um pacto uns com os outros. Concordamos em entregar nosso poder e liberdade a um soberano, que faz as leis necessárias para que possamos viver juntos pacificamente e que tem o poder de aplicá-las. Embora agir moralmente exija que cumpramos as leis estabelecidas pelo soberano, a base da moralidade é o interesse próprio.
A Fábula das Abelhas, de Bernard Mandeville (1670-1733), serviu para reforçar essa leitura de Hobbes no início do século XVIII. De acordo com Mandeville, os seres humanos são naturalmente egoístas, obstinados e indisciplinados. Alguns políticos inteligentes, reconhecendo que seria melhor vivermos juntos em uma sociedade civilizada, assumiram a tarefa de nos domesticar. Percebendo que somos criaturas orgulhosas e altamente suscetíveis à bajulação, eles conseguiram enganar muitos de nós para que vivêssemos de acordo com o ideal de virtude — vencer nossas paixões egoístas e ajudar os outros — distribuindo elogios e culpas. Os conceitos morais são apenas ferramentas que os políticos espertos usaram para nos domar.
Dois tipos de teorias morais se desenvolveram em reação, primeiro a Hobbes e depois a Mandeville: o racionalismo e o sentimentalismo. Os racionalistas se opõem à afirmação de Hobbes de que não há certo ou errado no estado de natureza, que o certo ou o errado é determinado pela vontade do soberano e que a moralidade exige sanções para nos motivar. Os sentimentalistas se opõem às concepções “egoístas” de Hobbes e Mandeville sobre a natureza humana e a moralidade. Em meados do século XVIII, racionalistas e sentimentalistas estavam discutindo não apenas contra Hobbes e Mandeville, mas também entre si.
Hume se opõe aos relatos egoístas e racionalistas da moralidade, mas ele os critica em obras diferentes. No Tratado, Hume supõe que a teoria de Hobbes não é mais uma opção viável, de modo que há apenas duas possibilidades a serem consideradas. Ou os conceitos morais surgem da razão, e nesse caso o racionalismo está correto, ou do sentimento, e nesse caso o sentimentalismo está correto. Se um cair, o outro permanece. Na segunda Investigação, Hume continua a se opor ao racionalismo moral, mas seus argumentos contra eles aparecem em um apêndice. Mais importante ainda, ele abandona a suposição que fez no Tratado e toma as teorias egoístas de Hobbes e Mandeville como seu alvo principal. Mais uma vez, ele acredita que há apenas duas possibilidades. Ou nossa aprovação é baseada no interesse próprio ou tem uma base desinteressada. A refutação de uma é a prova da outra.
7.1 Racionalismo Moral: Fase Crítica do Tratado
Hume acredita que “sistemas e hipóteses” também “perverteram nossa compreensão natural” da moralidade. Os pontos de vista dos racionalistas morais — Samuel Clarke (1675-1729), Locke e William Wollaston (1660-1724) — são proeminentes entre eles. Hume acredita que um aspecto distinto, mas doentio, da filosofia moral moderna é o fato de ela se aliar à religião e, portanto, ver-se servindo aos interesses da “superstição popular”. A teoria de Clarke e a de outros racionalistas resumem essa tendência.
Clarke, o principal oponente racionalista de Hume, apela à razão para explicar quase todos os aspectos da moralidade. Ele acredita que há relações morais demonstráveis de aptidão e inaptidão que descobrimos a priori somente por meio da razão. A gratidão, por exemplo, é uma resposta adequada ou apropriada à bondade, enquanto a ingratidão é uma resposta inadequada ou inapropriada. Ele acredita que a intuição racional de que uma ação é adequada tem o poder tanto de nos obrigar quanto de nos mover. Agir moralmente é agir racionalmente.
A objeção mais famosa e mais importante de Hume ao racionalismo moral tem duas vertentes. No Tratado 2.3.3, “Dos motivos que influenciam a vontade”, ele rejeita o ideal racionalista da pessoa boa como alguém cujas paixões e ações são governadas pela razão. No T 3.1.1, ele usa esses argumentos para mostrar que as idéias morais não surgem apenas da razão.
Na primeira parte de sua objeção, Hume começa observando que nada é mais comum do que os filósofos, assim como as pessoas comuns, falarem sobre o “combate” entre razão e paixão. Eles dizem que devemos ser governados pela razão e não pela paixão e, se nossas paixões não estiverem de acordo com os comandos da razão, devemos restringi-las ou colocá-las em conformidade com a razão. Hume rebate que “a razão sozinha nunca pode ser um motivo para qualquer ação da vontade” e que, por si só, ela nunca pode se opor a uma paixão na direção da vontade.
Seu primeiro argumento se baseia em sua concepção empirista da razão. Como vimos em seu relato da causalidade, o raciocínio demonstrativo consiste em comparar idéias para encontrar relações entre elas, enquanto o raciocínio provável diz respeito à matéria de fato. Ele considera o raciocínio matemático a partir da categoria de relação de idéias e o raciocínio causal a partir da categoria de matéria de fato. Ele nos pede que observemos exemplos de ações em que esses dois tipos de raciocínio são relevantes e diz que, quando o fizermos, veremos que a razão por si só não poderia ter nos movido.
Ninguém acredita que o raciocínio matemático, por si só, seja capaz de nos mover. Suponhamos que você queira ficar livre de dívidas. Isso pode levá-lo a calcular quanto dinheiro entra e quanto sai, mas o raciocínio matemático por si só não nos leva a fazer nada. O raciocínio matemático, quando se refere à ação, é sempre usado em conexão com a realização de algum objetivo e, portanto, em conexão com o raciocínio causal.
Hume, no entanto, argumenta que, quando o raciocínio causal está presente na produção da ação, ele sempre pressupõe um desejo ou vontade existente. Em sua opinião, o raciocínio é um processo que nos leva de uma idéia a outra. Para que o raciocínio tenha força motivacional, uma das idéias deve estar ligada a algum desejo ou afeição. Como ele diz,
Não pode nos preocupar nem um pouco o fato de saber que tais objetos são causas e tais outros são efeitos, se tanto as causas quanto os efeitos são indiferentes para nós. Quando os objetos em si não nos afetam, sua conexão nunca pode lhes dar qualquer influência; e é evidente que, como a razão nada mais é do que a descoberta dessa conexão, não pode ser por seus meios que os objetos são capazes de nos afetar (T 2.3.3.3/414).
Perceber uma conexão causal entre exercício e perda de peso não o levará a se exercitar, a menos que você queira perder peso.
Segue-se imediatamente que a razão, por si só, não pode se opor a uma paixão na direção da vontade. Para se opor a uma paixão, a razão deve ser capaz de dar origem a um motivo por si mesma, já que somente um motivo pode se opor a outro motivo, mas ele acabou de mostrar que a razão por si só é incapaz de fazer isso.
Tendo exposto as pretensões da razão de governar, Hume inverte o ideal racionalista da boa pessoa e conclui que “a razão é, e deve ser, apenas a escrava das paixões, e nunca pode pretender qualquer outro cargo que não seja o de servi-las e obedecê-las” (T 2.3.3.4/415).
A segunda vertente da objeção de Hume, o argumento da motivação, é dirigida principalmente contra Clarke e diz respeito à fonte de nossos conceitos morais: ou eles surgem da razão ou do sentimento. Ao abordar esse debate em termos de sua própria versão da teoria das idéias, ele nos lembra que se engajar em qualquer tipo de atividade mental é ter uma percepção diante da mente, de modo que “aprovar um caráter, condenar outro, são apenas muitas percepções diferentes” (T 3.1.1.2/456). Como existem apenas dois tipos de percepção — idéias e impressões — a questão entre o racionalismo e o sentimentalismo é
Se é por meio de nossas idéias ou impressões que distinguimos entre vício e virtude, e pronunciamos uma ação censurável ou louvável? (T 3.1.1.3/456)
O argumento da motivação tem apenas duas premissas. A primeira é que as idéias morais têm efeitos práticos abrangentes. A experiência mostra que muitas vezes somos motivados a realizar uma ação porque achamos que ela é obrigatória ou a nos abster porque achamos que ela é injusta. Tentamos cultivar as virtudes em nós mesmos e ficamos orgulhosos quando temos sucesso e envergonhados quando falhamos. Se a moralidade não tivesse esses efeitos em nossas paixões e ações, as regras e os preceitos morais seriam inúteis, assim como nossos esforços para sermos virtuosos. Assim, “a moral excita as paixões e produz ou impede as ações” (T 3.1.1.6/457).
A segunda premissa é que, por si só, a razão é incapaz de excitar paixões ou de produzir e impedir ações, o que Hume sustenta com os argumentos que acabamos de ver sobre os motivos influenciadores da vontade. O argumento da motivação, então, é que se os conceitos morais são capazes de excitar paixões e produzir ou impedir ações, mas a razão por si só é incapaz de fazer essas coisas, então os conceitos morais não podem surgir apenas da razão.
Para Hume, a razão é essencialmente passiva e inerte: ela é incapaz, por si só, de dar origem a novos motivos ou novas idéias. Embora acredite que o argumento da motivação seja decisivo, em T 3.1.1 ele oferece uma bateria de argumentos adicionais, que têm a intenção de mostrar que os conceitos morais não surgem apenas da razão.
Hume considera que a derrota do racionalismo implica que os conceitos morais surgem do sentimento. É claro que ele não foi o primeiro a afirmar que as idéias morais surgem do sentimento. Hutcheson afirmou que possuímos, além de nossos sentidos externos, um sentido moral especial que nos dispõe a responder à benevolência com os sentimentos distintivos de aprovação. Hume, no entanto, rejeita a idéia de que os sentimentos morais surgem de um sentido que é uma “qualidade original” e parte de nossa “constituição primária“.
Em primeiro lugar, ele argumenta que há muitos tipos diferentes de virtude, nem todos são tipos de benevolência — respeitar os direitos de propriedade das pessoas, cumprir promessas, coragem e diligência — como sustentava Hutcheson. Se concordarmos com Hume, mas mantivermos a idéia de Hutcheson de um senso moral, teremos de acreditar que temos muitos sentidos “originais” diferentes, que nos dispõem a aprovar a variedade de diferentes virtudes separadamente. No entanto, ele reclama que isso não é apenas altamente implausível, mas também contrário às
máximas usuais, pelas quais a natureza é conduzida, onde alguns poucos princípios produzem toda a variedade que observamos no universo. (T 3.1.2.6/473)
Em vez de multiplicar os sentidos, deveríamos procurar alguns princípios gerais para explicar nossa aprovação das diferentes virtudes.
O verdadeiro problema, entretanto, é que Hutcheson apenas afirma — hipotetiza — que possuímos um senso moral único e original. Se perguntado por que temos um senso moral, sua resposta é que Deus o implantou em nós. Embora em sua fase crítica Hume tome livremente emprestados muitos dos argumentos de Hutcheson para criticar o racionalismo moral, sua rejeição de um senso moral dado por Deus o coloca em um caminho radicalmente diferente de Hutcheson em sua fase construtiva. Uma maneira de entender o projeto de Hume é vê-lo como uma tentativa de naturalizar a teoria do senso moral de Hutcheson. Ele pretende fornecer uma explicação totalmente naturalista e econômica de como chegamos a experimentar os sentimentos morais que também explica por que aprovamos as diferentes virtudes. No decorrer da explicação dos sentimentos morais, a idéia de Hutcheson de um senso moral original desaparece do relato de Hume sobre a moralidade.
7.2 Sentimentalismo: Fase Construtiva
No Tratado 3.3.1, Hume volta-se para sua tarefa construtiva de fornecer uma explicação naturalista dos sentimentos morais. Ele se refere a eles como sentimentos de aprovação ou desaprovação, elogio ou culpa, estima ou desprezo. A aprovação é um tipo de sentimento agradável ou prazeroso; a desaprovação é um tipo de sentimento doloroso ou desagradável. Em várias passagens importantes, ele descreve os sentimentos morais como formas calmas de amor e ódio. Quando avaliamos nossos próprios traços de caráter, o orgulho e a humildade substituem o amor e o ódio.
O projeto de Hume é “descobrir a verdadeira origem da moral e do amor ou ódio que surge” (T 3.3.1/575) quando contemplamos os traços de caráter e as motivações próprias ou de outras pessoas. Ele atribui os sentimentos morais à simpatia. A simpatia é um mecanismo psicológico que explica como passamos a sentir o que os outros estão sentindo. Ela não é um sentimento em si e, portanto, não deve ser confundida com sentimentos de compaixão ou piedade. Hume recorre à simpatia para explicar uma ampla gama de fenômenos: nosso interesse em história e assuntos atuais, nossa capacidade de apreciar literatura, filmes e romances, bem como nossa sociabilidade. Ela é fundamental para suas explicações sobre nossas paixões, nosso senso de beleza e nosso senso do que é moralmente bom e ruim.
A simpatia é um processo que me leva da minha idéia do que alguém está sentindo para a experiência real desse sentimento. Há quatro etapas nesse processo. Primeiro, chego à idéia do que alguém está sentindo de qualquer uma das formas usuais. Em seguida, tomo consciência das semelhanças entre nós, de modo que estamos ligados por esse princípio de associação. Embora nos pareçamos com todos os seres humanos até certo ponto, também nos parecemos mais com alguns indivíduos do que com outros — por exemplo, aqueles que compartilham nosso idioma ou cultura ou que têm a mesma idade e sexo que nós. Os princípios associativos de contiguidade e causalidade também relacionam indivíduos que estão localizados próximos a nós no tempo ou no espaço ou que são membros da família ou professores. De acordo com Hume, somos capazes de simpatizar mais fácil e fortemente com indivíduos com os quais temos fortes laços associativos. Quanto mais fortes forem as relações associativas, mais fortes serão nossas respostas de simpatia. Em seguida, Hume afirma — de forma controversa — que sempre temos uma consciência vívida de nós mesmos. Por fim, ele nos lembra que os princípios de associação não apenas relacionam duas percepções, mas também transmitem força e vivacidade de uma percepção para outra.
Suponhamos que minha amiga tenha sofrido recentemente uma perda devastadora e eu perceba que ela está se sentindo triste. Os princípios associativos transmitem força e vivacidade da minha consciência vívida de mim mesmo para a minha idéia da tristeza da minha amiga. Como, para Hume, a diferença entre impressões e idéias é que as impressões são mais vivas e animadas do que as idéias, se uma idéia de uma paixão for suficientemente animada, ela se tornará a própria paixão. Agora também me sinto triste, mas não tanto quanto meu amigo.
A maneira como Hume usa a idéia de que os princípios associativos transmitem força e vivacidade em sua explicação da simpatia é paralela à maneira como ele a usa em sua explicação da inferência causal. No caso da inferência causal, se temos a impressão de um efeito (fumaça), os princípios associativos dão origem não apenas à idéia de sua causa (fogo), mas também transmitem parte da força e vivacidade da impressão à idéia de sua causa, de modo que passamos a acreditar que o fogo é a causa da fumaça. Uma crença é uma idéia tão viva que é como uma impressão e nos influencia da mesma forma que as impressões. Da mesma forma, a consciência viva que tenho de mim mesmo anima, por associação, minha idéia da tristeza de meu amigo. Mas o resultado no caso da simpatia é ainda mais forte: quando uma idéia de uma paixão é suficientemente animada, ela se torna a própria paixão.
Uma vantagem da explicação de Hume sobre os sentimentos morais em termos de simpatia em relação à afirmação de Hutcheson de que possuímos um senso moral dado por Deus é que ela permite que ele forneça uma teoria unificada da mente. Ele explica os sentimentos morais apelando para a simpatia, que, por sua vez, ele explica em termos dos mesmos princípios associativos que invocou para explicar as crenças causais. Sem a simpatia e os princípios associativos que a explicam, seríamos inimaginavelmente diferentes do que somos – criaturas sem idéias causais ou morais.
Hume desenvolve ainda mais sua descrição da avaliação moral em resposta a duas objeções à sua afirmação de que os sentimentos morais surgem da simpatia. A primeira é a objeção “a simpatia é variável”. A simpatia nos permite entrar nos sentimentos de qualquer pessoa, mesmo de estranhos, porque nos assemelhamos a todos até certo ponto. No entanto, uma característica essencial de seu relato sobre a operação natural e espontânea da simpatia é a de que nossa capacidade de reagir com simpatia aos outros varia de acordo com as variações nas relações associativas. Sou capaz de simpatizar mais fácil e fortemente com alguém que se assemelha a mim ou está relacionado a mim por contiguidade ou causalidade. A objeção é que os sentimentos morais não podem se basear na simpatia porque os amores e ódios que resultam do funcionamento natural e espontâneo da simpatia variam, mas nossa aprovação moral não varia. A segunda objeção é que a “virtude em farrapos” ainda evoca nossa aprovação. A simpatia funciona observando os efeitos atuais dos traços de caráter de uma pessoa, mas, às vezes, o infortúnio ou a falta de oportunidade podem impedir que um indivíduo exerça seus bons traços de caráter, mas ainda assim o admiramos.
Hume argumenta que o amor e o ódio morais surgem da simpatia, mas somente quando regulamos nossas reações de simpatia adotando o que ele chama de “ponto de vista geral”. Há duas características reguladoras no ponto de vista geral. A primeira é que analisamos o caráter de uma pessoa a partir da perspectiva da pessoa e de seus companheiros habituais — amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho. Simpatizamos com a pessoa e com as pessoas com quem ela interage regularmente e julgamos os traços de caráter em termos de serem bons ou ruins para essas pessoas. Em segundo lugar, regulamos ainda mais a simpatia confiando em regras gerais que especificam os efeitos e as tendências gerais dos traços de caráter, em vez de simpatizarmos com seus efeitos atuais.
Ao juntar esses dois recursos reguladores, chegamos à idéia de Hume do ponto de vista geral, que define uma perspectiva a partir da qual podemos examinar os traços de caráter de uma pessoa que compartilhamos com todos. Quando ocupamos o ponto de vista geral, simpatizamos com a própria pessoa e com seus associados habituais, e passamos a admirá-la por traços que normalmente são bons para todos. O ponto de vista geral é, para Hume, a perspectiva moral. Não experimentamos os sentimentos morais a menos que já tenhamos adotado o ponto de vista geral. Os sentimentos morais e os conceitos aos quais eles dão origem são produtos da adoção desse ponto de vista.
Hume oferece a afirmação de que admiramos quatro tipos de traços de caráter – aqueles que são úteis ou imediatamente agradáveis para o agente ou para os outros – como uma hipótese empírica. Embora dê suporte a ela em sua discussão sobre as virtudes individuais, ele também usa sua classificação quádrupla para minar as concepções cristãs de moralidade. Ele faz do orgulho uma virtude e da humildade um vício. Ele descarta as virtudes “monásticas” — celibato, jejum e penitência — com o argumento de que elas não são agradáveis nem úteis para ninguém. Ele também rejeita a distinção entre virtudes e talentos naturais, que legisladores, “divinos” e moralistas modernos defendem alegando que as virtudes morais são voluntárias, enquanto os talentos naturais não são. Seu objetivo é nos reformar — ou pelo menos nosso comportamento externo — tornando-nos melhores, quando entendidos em termos cristãos. Dessa forma, eles restringem o domínio da moral às ações que decorrem de traços de caráter, pois acreditam que somente eles podem ser modificados, moldados e controlados por sanções, enquanto os talentos não podem. Hume, no entanto, rejeita a distinção juntamente com a função duvidosa que esses reformadores atribuem à moralidade.
Hume identifica tanto o que tem valor quanto o que torna as coisas valiosas com características de nossa psicologia. Nossos sentimentos, paixões e afeições de primeira ordem, bem como as ações que os expressam, são o que têm valor moral. Nossos sentimentos reflexivos de segunda ordem sobre nossos próprios sentimentos, paixões e afeições ou os de outras pessoas são o que lhes dá valor. Em sua visão, a moralidade é inteiramente um produto da natureza humana.
Na “Conclusão” da segunda Investigação, Hume resume sua explicação da moralidade com uma definição de virtude ou mérito:
toda qualidade da mente, que é útil ou agradável para a própria pessoa ou para os outros, transmite um prazer ao espectador, atrai sua estima e é admitida sob a honrosa denominação de virtude ou mérito. (EPM 9.1.12/277)
Esse é um paralelo preciso de suas duas definições de causa na primeira Investigação. Ambos os conjuntos de definições escolhem características de eventos e ambos registram a resposta de um espectador a esses eventos.
7.3 Teorias do Interesse Próprio: Fase Crítica da Investigação
A segunda Investigação de Hume é um ataque contínuo e sistemático às teorias “egoístas” ou do “amor-próprio” de Hobbes e Mandeville. Ele segue Hutcheson no pensamento de que eles atribuem dois papéis distintos ao interesse próprio em seus relatos sobre a moralidade: primeiro, a aprovação e a desaprovação moral baseiam-se em uma preocupação com nosso próprio interesse e, segundo, o motivo pelo qual aprovamos, em última análise, é o interesse próprio. Embora muitas pessoas durante esse período tenham entendido a teoria de Hobbes pelas lentes de Mandeville, Hume acredita que é importante diferenciá-las. Em sua opinião, a teoria de Mandeville é superficial e facilmente descartada. Hobbes é seu principal oponente.
A rejeição de Hume ao relato egoísta de Hobbes sobre aprovação e desaprovação começa na Seção II e termina na Parte I da “Conclusão” da Investigação. Como Hutcheson, ele supõe erroneamente que Hobbes estava oferecendo uma teoria rival de aprovação e desaprovação. Aprovamos os traços de caráter das pessoas quando eles nos beneficiam e os desaprovamos quando eles nos prejudicam. Hume analisa cada um dos quatro tipos de virtude e argumenta que, em cada caso, nossa aprovação não decorre de uma preocupação com nossa própria felicidade, mas sim de simpatia.
Na Seção II, Hume argumenta que uma razão pela qual aprovamos a benevolência, a humanidade e o espírito público é que eles são úteis para os outros e para a sociedade. Nas Seções III e IV, ele argumenta que o único motivo para aprovar a justiça e a lealdade política é que elas são úteis para a sociedade. Na Seção V, ele pergunta: Mas úteis para quem? Como é óbvio que tem que ser “para o interesse de alguma entidade”, a pergunta é: “Para o interesse de quem, então?” Ele supõe que há apenas duas possibilidades: a aprovação e a desaprovação surgem de sentimentos que são interessados ou de uma fonte desinteressada.
De acordo com Hume, a “dedução da moral do amor-próprio” de Hobbes começa com nossa percepção de que não podemos subsistir sozinhos. Uma ordem social proporciona segurança, paz e proteção mútua, condições que nos permitem promover nossos próprios interesses melhor do que se vivêssemos sozinhos. Nosso próprio bem está, portanto, vinculado à manutenção da sociedade. Embora Hume concorde com Hobbes até esse ponto, ele rejeita sua explicação de que aprovamos a justiça, a benevolência e a humanidade porque elas promovem nossa própria felicidade.
Hume está confiante de que “a voz da natureza e da experiência” mostrará que a teoria de Hobbes, entendida dessa forma, está equivocada. Tomando emprestado muitos dos argumentos de Hutcheson, ele ressalta que, se a aprovação e a desaprovação fossem baseadas em pensamentos sobre as possíveis vantagens e desvantagens do caráter e das ações das pessoas para nós, nunca sentiríamos aprovação e desaprovação de pessoas de “épocas muito distantes e países remotos”, já que elas não podem nos afetar. Jamais admiraríamos as boas ações de nossos inimigos ou rivais, pois elas nos prejudicam. Também nunca aprovaríamos ou desaprovaríamos personagens retratados em romances ou filmes, pois não são pessoas reais e não podem nos ajudar ou prejudicar. Aprovamos os traços de caráter e as ações que são úteis não porque nos beneficiam, mas porque simpatizamos com os benefícios que eles proporcionam aos outros ou à sociedade.
Em seguida, Hume examina os três tipos restantes de traços de caráter — aqueles que são úteis para o agente (diligência, bom senso), agradáveis para o agente (alegria) ou agradáveis para os outros (polidez, decência). Por que, por exemplo, aprovamos a diligência e o bom senso, traços de caráter que são principalmente vantajosos para quem os possui? Na maioria dos casos, eles não trazem absolutamente nenhum benefício para nós e, em casos de rivalidade, eles contrariam nossos próprios interesses. Aprovamos esses traços de caráter não porque sejam benéficos para nós, mas porque simpatizamos com os benefícios que eles conferem aos outros. Hume considera isso como mais uma evidência contra a explicação de Hobbes em termos de interesse próprio e em apoio à sua explicação baseada na simpatia.
Na Parte I da “Conclusão”, Hume reclama que a teoria do amor-próprio de Hobbes é incapaz de explicar duas características importantes de nossos sentimentos morais: tendemos a aprovar os mesmos tipos de traços de caráter e somos capazes de avaliar moralmente qualquer pessoa, em qualquer momento ou lugar. Se nossa aprovação e desaprovação fossem baseadas em pensamentos sobre nossos próprios benefícios e danos, os sentimentos morais variariam de pessoa para pessoa e para a mesma pessoa ao longo do tempo. Não teríamos sentimentos morais em relação à maioria das pessoas, pois a maioria das pessoas não nos afeta. Os sentimentos morais surgem de nossa capacidade de reagir com simpatia aos outros.
Hume é igualmente inflexível ao afirmar que qualquer explicação dos motivos que nos levam a ações virtuosas em termos de interesse próprio é equivocada. Ele se opõe a eles no Apêndice II da Investigação, que originalmente fazia parte da Seção II, “Da Benevolência”. Ele segue Hutcheson ao pensar que a questão é saber se os vários afetos benevolentes são genuínos ou decorrem do interesse próprio. Mais uma vez, ele distingue as explicações de Mandeville das de Hobbes sobre a benevolência e considera Hobbes seu principal oponente. Na leitura que Hume faz de Hobbes, embora aprovemos a bondade, a amizade e outros afetos benevolentes, qualquer desejo de beneficiar os outros realmente deriva do interesse próprio, embora nem sempre estejamos conscientes de sua influência sobre esses desejos.
Hume oferece dois argumentos contra essa visão egoísta. Primeiro, ele nos pede para considerar os casos em que as pessoas são motivadas por uma preocupação genuína com os outros, mesmo quando essa preocupação não poderia beneficiá-las e poderia até prejudicá-las. Ficamos de luto quando um amigo morre, mesmo que ele precise de nossa ajuda e patrocínio. Como nossa dor poderia ser baseada em interesse próprio? Os pais regularmente sacrificam seus próprios interesses em prol de seus filhos. Os animais não humanos se preocupam com os membros de sua própria espécie e conosco. A preocupação deles é uma “dedução” do interesse próprio? Ele conclui que esses e “milhares de outros casos (…) são marcas de uma benevolência geral na natureza humana, em que nenhum interesse nos prende” (EPM App 2.11/300).
Hume complementa esse argumento da experiência com um esboço altamente comprimido de um argumento que ele toma emprestado de Butler. A felicidade consiste nos prazeres que surgem da satisfação de nossos apetites e desejos particulares. É porque queremos comida, fama e outras coisas que sentimos prazer em obtê-las. Se não tivéssemos nenhum apetite ou desejo específico, não desejaríamos nada e não haveria nada que nos desse prazer. Para obter os prazeres que o amor-próprio almeja, precisamos desejar algo além da própria felicidade.
7.4 Justiça: Fase Construtiva
Hume mostra corretamente seu relato pioneiro sobre a justiça. No Tratado, ele enfatiza a distinção entre as virtudes naturais e artificiais. As virtudes naturais — ser humano, gentil e caridoso — são traços de caráter e padrões de comportamento que os seres humanos exibiriam em sua condição natural, mesmo que não houvesse ordem social. As virtudes artificiais — respeito aos direitos de propriedade das pessoas, fidelidade no cumprimento de promessas e contratos e lealdade ao governo — são disposições baseadas em práticas sociais e instituições que surgem de convenções.
Hume acredita que a natureza nos forneceu muitos motivos — amor paternal, benevolência e generosidade — que possibilitam que vivamos juntos pacificamente em pequenas sociedades baseadas em relações de parentesco. Uma de suas importantes percepções é a de que a natureza não nos forneceu todos os motivos necessários para vivermos juntos pacificamente em grandes sociedades. Depois de argumentar no Tratado 3.2.1 que a justiça é artificial, em T 3.2.2, ele faz duas perguntas diferentes: O que motiva os seres humanos a estabelecer as regras de justiça que dão origem aos direitos de propriedade, e por que aprovamos as pessoas que obedecem a essas regras de justiça? A primeira pergunta diz respeito à justiça como uma prática constituída por suas regras. A segunda diz respeito à justiça como uma virtude, a disposição de uma pessoa em obedecer às regras da justiça.
Hume argumenta que entramos em uma série de convenções para criar práticas, cada uma das quais é uma solução para um problema. Cada convenção dá origem a novos problemas que, por sua vez, nos pressionam a entrar em outras convenções. A convenção para criar direitos de propriedade é apenas a primeira de várias que adotamos. Depois que os direitos de propriedade são estabelecidos, entramos em convenções para transferir propriedade e para fazer promessas e contratos. De acordo com ele, somos cooperadores por natureza, embora, a princípio, cooperemos apenas com membros de nossa própria família. Mas também é vantajoso para nós cooperar com estranhos, pois isso nos permite produzir mais bens e trocá-los. Todas as três convenções são anteriores à formação do governo. Na visão de Hume, é possível haver uma sociedade pacífica de proprietários que transferem e trocam bens materiais antes de haver um governo.
Hume argumenta que a prática da justiça é uma solução para um problema que enfrentamos naturalmente. O problema é que, como nos preocupamos mais com nossa família e amigos íntimos, mas os bens materiais são escassos e portáteis, somos tentados a tomar bens de estranhos para dar a nossos familiares e amigos. As disputas por esses bens são inevitáveis, mas se brigarmos, perderemos os benefícios resultantes de vivermos juntos em sociedade — maior poder, capacidade e segurança. A solução para o problema é estabelecer direitos de propriedade. Criamos regras que especificam quem tem direito a quê e concordamos em seguir as regras e manter nossas mãos longe da propriedade dos outros. Hume foi um dos primeiros a perceber que o que é útil é a prática da justiça, em vez de atos individuais de justiça. Como Hobbes, ele acredita que é de nosso interesse ter a prática da justiça em vigor.
Como acabamos de ver, Hume se separa de Hobbes quando responde à segunda pergunta sobre por que aprovamos as pessoas que obedecem às regras da justiça. Se a resposta de Hobbes em termos de interesse próprio for excluída, ele acredita que só resta uma possibilidade. Aprovamos as pessoas justas não porque elas nos beneficiam, mas porque simpatizamos com os benefícios que elas concedem aos outros e à sociedade como um todo. Assim, Hume explica nossa aprovação da justiça apelando para o mesmo princípio que invocou para explicar nossa aprovação das virtudes naturais. Portanto
O interesse próprio é o motivo original para o estabelecimento da justiça, mas a simpatia pelo interesse público é a fonte da aprovação moral que acompanha essa virtude. (T 3.2.2.24/499-500)
Na Parte 2 da “Conclusão” da Investigação, Hume levanta um problema sério com sua descrição da justiça. Embora seja de nosso interesse ter a prática da justiça em vigor, pode não ser sempre de nosso interesse obedecer às suas regras em todos os casos. Esse é o problema do parasita. O “parasita”, que Hume chama de “patife sensato”, quer obter os benefícios resultantes da existência de uma prática sem ter de seguir sempre suas regras. Ele sabe que a única maneira de obter as vantagens da cooperação social é a prática da justiça, mas também sabe que um único ato de injustiça não prejudicará significativamente a prática. A maioria das pessoas obedecerá às regras de justiça, portanto, se ele cometer um único ato de injustiça, a instituição não correrá o risco de entrar em colapso. Suponha que ele tenha a oportunidade de cometer um ato de injustiça que o beneficiará muito. Por que não o faria?
Hume confessa que, se o patife sensato espera uma resposta, ele não tem certeza de que haverá uma que o convença.
Se seu coração não se rebelar contra essas máximas perniciosas, se ele não sentir relutância em relação a pensamentos de vilania ou baixeza, ele de fato perdeu um motivo considerável para a virtude…. (EPM 9.2.23/283)
Não há um consenso geral sobre se Hume realmente fornece uma resposta para o patife sensato e, se o faz, se ela é adequada.
8. Filosofia da Religião
Hume escreveu de forma contundente e incisiva sobre quase todas as questões centrais da filosofia da religião, contribuindo para os debates atuais sobre a confiabilidade dos relatos de milagres, a imaterialidade e a imortalidade da alma, a moralidade do suicídio e a história natural da religião, entre outros. Todo o seu trabalho provocou reações acaloradas de seus contemporâneos, e seus argumentos ainda hoje são fundamentais nas discussões sobre essas questões.
A maior conquista de Hume na filosofia da religião é a obra Dialogues concerning Natural Religion (Diálogos sobre a Religião Natural), que geralmente é considerada uma das contribuições mais importantes e influentes para essa área da filosofia. Embora todos os livros de Hume tenham provocado polêmica, os Diálogos foram considerados tão inflamatórios que seus amigos o persuadiram a não publicá-los até depois de sua morte.
O projeto filosófico de Hume e o método que ele desenvolveu para executá-lo ditam sua estratégia em todos os debates em que participou. Nos debates sobre causalidade e ética, há uma fase crítica inicial, em que Hume avalia os argumentos de seus predecessores e contemporâneos, seguida de uma fase construtiva, em que ele desenvolve sua própria posição. No debate sobre a religião natural, entretanto, a situação é muito diferente. A crítica de Hume aos conceitos centrais da religião natural na fase crítica mostra que esses conceitos não têm conteúdo e, portanto, não há nada sobre o que tratar na fase construtiva de seu argumento. Em vez de resolver esse debate, Hume o dissolve de fato.
Os Diálogos são um exame crítico penetrante e sustentado de um argumento proeminente da analogia para a existência e a natureza de Deus, o argumento do design. O argumento do design tenta estabelecer que a ordem que encontramos no universo é tão parecida com a ordem que encontramos nos produtos do artifício humano que também deve ser produto de um designer inteligente.
8.1 Os Personagens
Os diálogos registram uma conversa entre três personagens. Cleanthes, um auto-proclamado “teísta experimental”, oferece o argumento do design como uma prova empírica da existência e da natureza de Deus (DCNR 5.2/41). Demea se opõe a ele, afirmando que a conclusão meramente provável do argumento diminui o mistério e a majestade de Deus. Ele acredita que a natureza de Deus é completamente inescrutável. Cleanthes chama Demea de místico, enquanto Demea ridiculariza o antropomorfismo de Cleanthes — seu viés centrado no ser humano ao comparar o criador do universo a uma mente humana.
Cleanthes e Demea representam as posições centrais no debate sobre religião natural do século XVIII. Cleanthes incorpora sua linha dominante e progressista, composta principalmente por teólogos da Royal Society britânica, que eram fascinados pela probabilidade e pelos impressionantes sucessos do século anterior na filosofia natural experimental. Convencidos de que a nova ciência dava testemunho da providência de Deus, eles rejeitaram as provas tradicionais a priori, que pretendiam demonstrar a existência de Deus com certeza matemática e sem apelo à experiência. Em vez disso, eles usaram a ordem e a regularidade que encontraram no universo para construir um argumento probabilístico para um designer divino.
Os resistentes se apegaram à prova demonstrativa na ciência e na teologia contra a maré crescente da probabilidade. Demea é o campeão desses tradicionalistas conservadores. Como ele apresenta uma versão fraca do argumento cosmológico de Samuel Clarke na Parte 9, alguns pensaram que Hume o teria inspirado em Demea. Mas Demea não tem o racionalismo rígido de Clarke. É mais provável que ele seja o epítome de um grupo de teólogos menores, como William King, que enfatizava a incompreensibilidade de Deus e recorria a argumentos a priori somente quando era absolutamente necessário.
Não havia uma presença genuinamente cética no debate sobre religião natural do século XVIII. Isso faz com que Filo, que Cleanthes e Demea caracterizam como cético, seja o protagonista da conversa. Embora todos os três personagens digam coisas muito humeanas em um momento ou noutro, as opiniões de Filo são consistentemente as mais próximas das de Hume. A forma de ceticismo de Filo é o ceticismo mitigado da primeira Investigação, o que o torna o candidato mais provável a porta-voz de Hume.
Quando os Diálogos começam, todos os três personagens concordam que seu tema é a natureza de Deus, já que todos concordam que ele existe. As partes 1 a 8 dizem respeito aos atributos naturais de Deus, sua onipotência, onisciência e providência, enquanto as partes 10 e 11 consideram seus atributos morais, sua benevolência e justiça.
8.2 Atributos Naturais de Deus
Demea afirma que Deus é completamente desconhecido e incompreensível; tudo o que podemos dizer é que Deus é um ser sem restrições, absolutamente infinito e universal. Cleanthes é inflexível ao afirmar que o argumento do design estabelece todos os atributos tradicionais de Deus. Os objetos naturais e os artefatos humanos se assemelham uns aos outros, portanto, por analogia, suas causas também se assemelham. Sendo assim, Deus é como uma mente humana, só que muito maior em todos os aspectos.
Demea objeta que a conclusão do argumento é apenas provável, mas Filo responde que o problema real é que a analogia é muito fraca. Ele lança uma bateria de argumentos para mostrar o quanto ela é fraca. As diferenças entre os artefatos humanos e o universo são mais impressionantes do que suas semelhanças. Vivenciamos apenas uma pequena parte do universo por um curto período de tempo; muito do que vivenciamos é desconhecido para nós. Como podemos legitimamente inferir algo sobre partes remotas do universo, muito menos sobre o universo como um todo?
Filo, no entanto, passa rapidamente de uma análise da força do argumento para o questionamento da inteligibilidade de sua conclusão. Não temos experiência da origem de um universo. Uma vez que a inferência causal requer uma base na conjunção constante e experiente entre dois tipos de coisas, como podemos legitimamente tirar qualquer conclusão sobre a origem do universo? Será que ele precisa mesmo de uma causa? Uma ou muitas? A causa do próprio universo requer uma causa? O problema, portanto, não é apenas o fato de a analogia ser fraca; o verdadeiro problema é que ela tenta nos levar para além do que podemos saber.
Enquanto isso, Demea ridiculariza o antropomorfismo de Cleanthes, ao mesmo tempo em que permanece presunçosamente satisfeito com o que Cleanthes chama depreciativamente de seu misticismo. As farpas que eles lançam um contra o outro e os discursos que Filo os incita a fazer ajudam a criar um dilema que Filo usa para construir. Ele dirige o dilema a Cleanthes, mas afeta ambos os personagens, embora Demea demore a perceber isso. Ele acha que Filo está em aliança com ele ao detalhar os problemas com o antropomorfismo de Cleanthes.
Desafiando Cleanthes a explicar o que ele quer dizer com a mente de Deus, Filo o pressiona a admitir que ele quer dizer “uma mente como a humana”. Cleanthes, mordendo a isca, responde: “Não conheço nenhuma outra” (DCNR 5.4/42). Ele argumenta que os místicos como Demea não são melhores do que os ateus, uma vez que eles tornam Deus tão remoto e incompreensível que ele não tem nenhuma semelhança com as características humanas. Filo acrescenta que, embora consideremos Deus perfeito, a perfeição — como a entendemos — é relativa, não absoluta, portanto não podemos concluir que compreendemos as perfeições de Deus. Como todos os atributos de Deus envolvem perfeição — conhecimento perfeito, poder perfeito, bondade perfeita — não devemos pensar que qualquer um de seus atributos se assemelhe ou seja análogo ao nosso. Mas isso significa que não sabemos do que estamos falando quando falamos de Deus usando os termos familiares que aplicamos às mentes humanas.
Demea acrescenta que dar a Deus características humanas, mesmo que sejam muito ampliadas, nega a ele os atributos que os teístas sempre atribuíram a ele. Como um Deus antropomórfico pode ter a unidade, a simplicidade e a imutabilidade do Deus do teísmo tradicional?
Filo continua a detalhar como o antropomorfismo de Cleanthes é realmente inconveniente. Se ele aceita o argumento do design, ele deve estar comprometido com um Deus que é finito em todos os aspectos. Porém, o que significa dizer que Deus é finitamente perfeito? Uma vez que você admite que Deus é finito, você abre uma lata de minhocas, pois há todos os tipos de alternativas igualmente prováveis ao design inteligente. Por que pensar que o universo é mais parecido com um artefato humano do que com um animal ou vegetal? Para ilustrar, Philo lança uma série de hipóteses alternativas bizarras. Por exemplo, se você fosse uma aranha em um planeta de aranhas, não acreditaria naturalmente que uma aranha gigante teceu uma imensa teia para criar o mundo?
A hipótese de design de Cleanthes é tão sub-determinada pelas evidências que a única abordagem razoável é abandonar qualquer tentativa de julgar entre ela e suas muitas alternativas. A suspensão total do julgamento é a única resposta razoável. Caso contrário, ultrapassamos os limites de qualquer coisa à qual possamos dar um conteúdo específico.
O dilema que Filo construiu encapsula a questão sobre o conteúdo da idéia de Deus que é central para o aspecto crítico do projeto de Hume nos Diálogos. Se você aceita que os atributos de Deus são infinitamente perfeitos, você está usando termos comuns sem o seu significado comum, de modo que eles não têm nenhum significado claro. Se você negar a perfeição infinita de Deus, poderá dar a ele atributos compreensíveis, mas somente porque são características humanas ampliadas. Quanto mais Cleanthes se aproxima de considerar a mente de Deus como uma mente humana, mais ele se aproxima de considerar os atributos de Deus como sendo atributos humanos, e menos semelhante a Deus é o seu “Deus”. Só podemos dar à ideéia de Deus um conteúdo inteligível ao custo perigosamente alto de negar que ele seja realmente Deus. Fazer isso é abandonar Deus por algum tipo de super-herói.
No final da Parte 8, que conclui sua discussão sobre os atributos naturais de Deus, Demea ainda pensa que Filo e ele são parceiros. Ele permanece sem saber nada sobre a estratégia de Filo até o final da Parte 11, quando finalmente percebe que ele também foi pego na armadilha que Filo armou.
Demea oferece uma alternativa a priori ao argumento do design na Parte 9. Conforme observado anteriormente, trata-se de uma versão abreviada e diluída do argumento cosmológico de Clarke. Embora Cleanthes tenha rapidamente descartado seus esforços fracos, a Parte 9 serve como um interlúdio entre a discussão anterior dos atributos naturais de Deus e a consideração de seus atributos morais nas Partes 10 e 11.
8.3 Os Atributos Morais de Deus
Demea inicia a discussão na Parte 10. Na tentativa de se redimir de sua recente derrota, ele sugere que não aceitamos as verdades da religião como resultado do raciocínio, mas pelo que sentimos quando confrontados com o quanto somos desamparados e miseráveis. A religião se baseia em sentimentos de medo e ansiedade que surgem da consciência de nossa “imbecilidade e miséria” (DCNR 10.1/68). Nossas formas de adoração são tentativas de apaziguar poderes desconhecidos que nos oprimem e atormentam.
Filo se junta a nós, afirmando estar convencido de que
o melhor e, de fato, o único método de levar todos a um senso de religião adequado é por meio de representações justas da miséria e da maldade dos homens. (DCNR 10.2/68)
Eles prosseguem com uma ladainha conjunta sobre a miséria e a melancolia da condição humana, superando um ao outro com catálogos de infortúnios. Demea não percebe que Filo pode estar querendo dizer coisas muito diferentes do que ele com “representação justa” e “devido senso de religião”, por isso não percebe que Filo está apenas instigando-o.
Filo afirma que não podemos nos esquivar dos fatos da doença, da fome e da pestilência, exceto por “desculpas, que ainda agravam mais a acusação” (DCNR 10.16/72). Essas desculpas são teodicéias — tentativas sistemáticas de reconciliar a bondade de Deus com a existência do mal. Demea também desdenha das teodicéias, ignorando alegremente que, muito em breve, estará oferecendo a sua própria.
Cleanthes finalmente interrompe para dizer que não se sente opressivamente ansioso ou infeliz e espera que a angústia não seja tão comum quanto eles afirmam. Contudo, esperar que a extensão da miséria humana não seja assim tão generalizada não é o mesmo que provar que ela seja. Cleanthes está em um terreno fraco. Filo capitaliza isso, desafiando Cleanthes a explicar como a misericórdia e a benevolência de Deus podem se assemelhar à misericórdia e à benevolência humanas. Dada a onipotência de Deus, tudo o que ele deseja acontece, mas nem os humanos nem os animais são felizes, portanto, Deus presumivelmente não deseja a felicidade deles.
Cleanthes — “sorrindo” — concede que, se Filo puder provar que a humanidade é “infeliz ou corrompida”, ele terá sido bem-sucedido na religião (DCNR 10.28/74). Ele acha que finalmente tem Filo nas cordas. Ao forçar um cético a provar uma tese positiva, ele não só deve ser bem-sucedido em uma tarefa difícil, mas também violar seu ceticismo no processo. Cleanthes não percebe que Filo apresentará seu caso sem precisar provar nada, nem percebe que logo será ele quem precisará de uma prova.
Demea objeta que Cleanthes exagera as consequências terríveis de reconhecer a condição humana e, apesar de sua rejeição veemente anterior às teodicéias, oferece a sua própria. Às vezes chamada de “visão do alpendre”, a teodicéia de Demea compara nossa experiência do mundo com o mundo como um todo, incluindo a vida após a morte, com a tentativa de determinar a estrutura de um grande edifício a partir do pouco que podemos ver de seu alpendre. De nossa perspectiva, sofremos, mas de uma visão mais ampla, ou não sofremos nada, ou então nosso sofrimento é para nosso bem maior ou para o bem maior do mundo.
Cleanthes retruca que Demea nega os fatos e oferece apenas hipóteses vazias, que, se fossem inteligíveis, só poderiam estabelecer sua simples possibilidade, mas nunca sua realidade. A única maneira de responder aos desafios à benevolência de Deus é negar que a condição humana seja realmente tão miserável.
Cleanthes agora se colocou na posição em que ele achava que havia colocado Filo. Ele deve estabelecer que os fatos são como ele afirma, e Filo é rápido em enfatizar como isso será difícil. Ao fundamentar seu caso em um ponto tão incerto, qualquer conclusão a que ele chegue será igualmente incerta.
Filo, então, aumenta a aposta, admitindo, para fins de argumentação, que a felicidade humana excede a miséria humana. Porém, se Deus é infinitamente poderoso, sábio e bom, por que existe alguma miséria? Não há resposta que preserve todos os atributos de Deus, exceto conceder que o assunto excede os limites de nossa compreensão.
Filo, entretanto, se abstém de pressionar a questão da inteligibilidade; ele está mais interessado em construir um caso ainda mais forte contra a inferência de Cleanthes sobre a benevolência de Deus. Elevando ainda mais a aposta, ele admite que a dor e o sofrimento são compatíveis com o poder e a bondade infinitos de Deus. Cleanthes, no entanto, deve provar, a partir dos “fenômenos mistos e confusos”, que a benevolência de Deus é atual, e não meramente possível. Fazer isso é duplamente difícil, uma vez que qualquer inferência do finito para o infinito é, na melhor das hipóteses, instável, mesmo quando os dados são “puros e não misturados” (DCNR 10.35/77).
Filo conclui admitindo, com menos do que total sinceridade, que, embora ele tenha sido duramente pressionado para defender seu caso contra Cleanthes quando a discussão dizia respeito aos atributos naturais de Deus, no que diz respeito a seus atributos morais, ele está à vontade. Ele desafia Cleanthes a “puxar o remo” e explicar como ele pode inferir os atributos morais de Deus a partir dos fatos sobre a condição humana (DCNR 10.36/77).
Cleanthes “puxa”, mas apenas por um curto parágrafo. Ele admite que se formos além de seus significados usuais quando aplicamos termos humanos a Deus, o que dizemos é de fato ininteligível. Abandonar toda analogia humana é, portanto, abandonar a religião natural, mas preservá-la torna impossível reconciliar o mal com um Deus infinito.
Cleanthes percebe que está encurralado, mas mais uma vez ele acha que há uma saída. Abandone a infinidade de Deus; pense nele como “finitamente perfeito”. Então, “a benevolência, regulada pela sabedoria e limitada pela necessidade, pode produzir um mundo exatamente como o atual” (DCNR 11.1/78).
Cleanthes não percebe que sua nova teoria é pior do que a anterior. Ele também parece não se lembrar da pergunta anterior de Filo sobre o que “finitamente perfeito” poderia significar. Em vez de Deus, ele agora está comprometido com algum tipo de super-herói. Além disso, a história que ele está contando é, em si, uma teodicéia. As limitações de seu super-herói explicam por que ele não pode eliminar o mal ou criar um mundo livre do mal.
De qualquer modo, Cleanthes não está melhor do que estava antes. As conjecturas podem mostrar que os dados são consistentes com a idéia de Deus, mas nunca são suficientes para provar que ele realmente existe.
Filo passa então a delinear quatro hipóteses possíveis sobre a causa do universo: é perfeitamente bom; é perfeitamente mau; é tanto bom quanto mau; não é nem bom nem mau. Considerando o mal que sabemos que existe, os dados são, na melhor das hipóteses, mistos, de modo que não podemos estabelecer nenhuma das duas primeiras hipóteses. A regularidade e a uniformidade das leis gerais que encontramos na experiência são suficientes para descartar a terceira hipótese, de modo que a quarta parece ser a mais provável. Nessa hipótese, a causa do universo é totalmente indiferente à quantidade de bem e mal no mundo.
Esses pontos sobre o mal natural também se aplicam ao mal moral. Não temos mais motivos para pensar que a justiça de Deus se assemelha à justiça humana do que temos para pensar que sua benevolência se assemelha à benevolência humana. De fato, temos ainda menos motivos, já que o mal moral supera a bondade moral mais do que o mal natural supera a bondade natural.
Ademais, a nova forma de antropomorfismo de Cleanthes está sobrecarregada com o fato de que o mal moral deve ser atribuído a Deus. Uma vez que todo efeito deve ter uma causa, ou a cadeia de causas retrocede infinitamente ou para no princípio original que é a causa última de todas as coisas — Deus.
Nesse ponto, Demea, que estava ficando cada vez mais agitado durante o discurso de Filo, interrompe. Ele finalmente percebe que o caso que Filo está apresentando vai contra sua própria visão, tanto quanto vai contra a de Cleanthes. Embora possa parecer que Demea possa se retirar para alguma forma de teodicéia que ele esboçou anteriormente, o grau de perturbação do argumento de Filo sugere que ele agora percebe que isso é inadequado. Se ele se apoiar no mistério que professou até agora, Filo mostrou que, por causa de sua falta de conteúdo específico, ele não aponta exclusivamente para um Deus bom. Pode muito bem comprometê-lo com um ser supremo que está “além do bem e do mal” e é totalmente indiferente à moralidade. O compromisso sem conteúdo acaba não sendo compromisso algum. Demea percebe isso, pelo menos vagamente, quando deixa a conversa.
8.4 A Conclusão: Parte 12
Com a partida de Demea, Cleanthes e Filo são deixados para terminar a conversa. O tom deles é conciliatório, tão conciliatório que Filo diz que deve “confessar” que, embora seja menos cauteloso com relação à religião natural do que com qualquer outro assunto,
ninguém tem um senso mais profundo de religião impresso em sua mente, ou presta uma adoração mais profunda ao Ser divino, conforme ele se revela à razão, no inexplicável arranjo e artifício da natureza. (DCNR 12.2/89)
A “confissão” de Filo abre caminho para um sucesso de bilheteria que tem intrigado gerações de leitores. Filo parece inverter o campo, aparentemente se retratando do que defendeu com tanta veemência. Ele concede a Cleanthes que “um propósito, uma intenção, um desígnio, atinge em toda parte o mais descuidado, o mais estúpido pensador” (DCNR 12.2/89).
Suas observações, no entanto, não são de forma alguma diretas. Alguns consideram que Filo — e, por implicação, Hume — está se expondo como um teísta oculto. Outros concluem que, como ele tem todas as cartas na mão nesse momento, pode se dar ao luxo de ser conciliador. Lido de forma irônica, Filo poderia estar dizendo que enquanto os observadores “descuidados e estúpidos” são atingidos pelo propósito, intenção e design no universo, os observadores cuidadosos, críticos e inteligentes não são. Mas não há necessidade de forçar a ironia aqui. Em uma leitura direta, o “artifício e a artimanha” da natureza são “inexplicáveis” precisamente porque a razão não pode descobrir nada sobre os atributos naturais ou morais de Deus. Todos — até mesmo os estúpidos e descuidados — podem ver que as partes de animais e plantas têm funções e, portanto, podem entender facilmente por que “um anatomista, que descobriu um novo órgão ou canal, nunca estaria satisfeito até que tivesse descoberto também seu uso e intenção” (DCNR 12.2/90).
Reconhecer que as partes de um organismo têm usos — funções — não diz nada sobre se seus usos ou funções são devidos ao plano de um designer, de modo que o reconhecimento de Filo não implica nada sobre se ele agora aceita a hipótese do design. De fato, o que ele diz aqui reitera sua posição na Parte 8, de que a função por si só não é prova do design divino:
é em vão (…) insistir nos usos das partes de animais ou vegetais e em seu curioso ajuste entre si. Eu teria vontade de saber como um animal poderia subsistir, a menos que suas partes estivessem assim ajustadas? (DCNR 8.9/61)
Ninguém deve negar o design nesse sentido, desde que o faça “sem qualquer propósito religioso” (DCNR 12.2/90). Longe de se inverter, então, a posição de Filo é contínua com a linha que ele adotou ao longo dos Diálogos.
À medida que a conversa continua, Filo fornece um diagnóstico da disputa. Embora as obras da natureza tenham “uma grande analogia” com os produtos do artifício humano, como afirmam seus proponentes, há também diferenças consideráveis. Ele suspeita que essa pode ser a fonte da intratabilidade da controvérsia, o que sugere que ela pode ser, no fundo, “uma espécie de disputa de palavras” (DCNR 12.6/92).
Porém, as disputas verbais podem ser resolvidas — ou dissolvidas — por meio de definições claras. Entretanto, o dilema sobre o conteúdo de nossa idéia de Deus que Filo construiu implica claramente que tal solução construtiva não é possível aqui.
Filo explica por que somente uma solução crítica é possível, oferecendo um diagnóstico mais profundo do problema. Embora a disputa possa parecer meramente verbal, ela é, de fato, “ainda mais incuravelmente ambígua”, pois
há uma espécie de controvérsia que, pela própria natureza da linguagem e das idéias humanas, está envolvida em perpétua ambiguidade, e nunca pode, por qualquer precaução ou definições, ser capaz de alcançar uma razoável certeza ou precisão. Essas são as controvérsias relativas aos graus de qualquer qualidade ou circunstância. (DCNR 12.7/92)
É exatamente disso que se trata a disputa sobre o design inteligente. As analogias são sempre questões de grau, e os graus das qualidades envolvidas no argumento do design não são passíveis de medição exata. A controvérsia, portanto, “não admite nenhum significado preciso nem, consequentemente, nenhuma determinação” (DCNR 12.7/93). A disputa sobre o design é, na verdade, pior do que uma disputa verbal.
É por isso que qualquer pessoa, até mesmo um ateu, pode dizer, com igual plausibilidade, que “o apodrecimento de um nabo, a geração de um animal e a estrutura do pensamento humano”, todos “provavelmente têm alguma analogia remota entre si” (DCNR 12.7/93). É por isso que Filo, sem renunciar a nenhuma de suas afirmações anteriores, pode concordar com a proposição “um tanto ambígua, pelo menos indefinida” e, como vimos, indefinível, na qual
toda a teologia natural (…) se resolve (…) no fato de que a causa ou as causas da ordem no universo provavelmente têm alguma analogia remota com a inteligência humana. (DCNR 12.33/101)
Qualquer coisa é como qualquer outra coisa em algum aspecto remoto. Portanto, o princípio ordenador do universo, se de fato existe um, pode ser absolutamente qualquer coisa.
Se isso é tudo o que existe em “toda a teologia natural”, então podemos certamente concluir que a conclusão do argumento não tem conteúdo religiosamente significativo. Mas ela não tem conteúdo religiosamente significativo porque a crítica de Filo a esvaziou de qualquer conteúdo. A hipótese de design de Cleanthes não é apenas falsa; ela é ininteligível.
A conversa começou com todos os três participantes concordando que seu tópico era discutir apenas a natureza de Deus, não sua existência. Ao final da conversa, não está mais claro que essas questões sejam realmente tão distintas como se supunha originalmente. Não sabemos do que estamos falando quando falamos de um Deus cuja natureza é inconcebível, incompreensível, indeterminada e indefinível. O que, então, devemos fazer com a afirmação sobre sua existência?
Os Diálogos trazem as consequências da afirmação de Hume, no primeiro Inquérito, de que
a idéia de Deus, como significando um Ser infinitamente inteligente, sábio e bom, surge da reflexão sobre as operações de nossa própria mente e do aumento, sem limites, dessas qualidades de bondade e sabedoria. (EHU 2.6/19)
Se insistirmos em “aumentar sem limites”, soltaremos as amarras que dão conteúdo inteligível à inteligência, sabedoria e bondade de Deus. Se pararmos antes do limite, talvez tenhamos conteúdo, mas também perdemos Deus.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com

Bibliography
Primary Literature
Hume’s Works
The standard critical edition of Hume’s philosophical writings is The Clarendon Edition of the Works of David Hume, currently in progress. The General Editors are Tom L. Beauchamp, the late David Fate Norton, and the late M.A. Stewart. The following volumes, in order of publication, are now in print:
- An Enquiry concerning the Principles of Morals, edited by Tom L. Beauchamp, Oxford: Clarendon Press, 1998.
- An Enquiry concerning Human Understanding, edited by Tom. L. Beauchamp, Oxford: Clarendon Press, 1999.
- A Treatise of Human Nature, edited by David Fate Norton and Mary J. Norton, Oxford: Clarendon Press, 2000.
- A Dissertation on the Passions and The Natural History of Religion, edited by Tom L. Beauchamp, Oxford: Clarendon Press, 2007.
- Essays, Moral, Political, and Literary, edited by Tom L. Beauchamp and Mark A. Box, Oxford: Clarendon Press, 2021.
Oxford is also simultaneously keeping these two long-familiar editions of the Treatise and the Enquiries in print, in order to “ensure their continued availability”:
- [T] A Treatise of Human Nature, edited by L. A. Selby-Bigge, 2nd ed. revised by P. H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press, 1975. Page references in this entry are to this edition. [It also contains Hume’s “Abstract” of the Treatise. Abbreviated [Abstract], with paragraph references also to this edition.]
- [EHU] An Enquiry concerning Human Understanding, and [EPM] An Enquiry concerning the Principles of Morals. Both are contained in Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, edited by L. A. Selby-Bigge, 3rd edition, revised by P. H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press, 1975. Page references in this entry are to this edition.
Other Works by Hume
- The Letters of David Hume, edited by J.Y.T. Grieg, 2 volumes, Oxford: Clarendon Press, 1932. [HL]
- “My Own Life” (Hume’s Autobiographical Essay), in HL 1–7].
- New Letters of David Hume, edited by Raymond Klibansky and Ernest C. Mossner, Oxford: Clarendon Press, 1954.
- Further Letters of David Hume, edited by Felix Waldman, Edinburgh: Edinburgh Bibliographical Society, 2014.
- Dialogues concerning Natural Religion, edited by Dorothy Coleman, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. [Abbreviated [DCNR], wirth page references to this edition.]
Other Primary Literature
- Bentham, J., 1776, A Fragment on Government, J.H. Burns and H.L.A. Hart (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Hobbes, T., 1651, Leviathan, in E. Curley (ed.), Leviathan, with selected variants from the Latin edition of 1668, Indianapolis: Hackett, 1994.
- Kant, I., 1783, Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will Be Able to Come Forward as a Science, in H. Allison and P. Heath (eds.), Immanuel Kant: Theoretical Philosophy after 1781, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 19–170
Secondary Literature
- Ainslie, D.C., 2015, Hume’s True Scepticism, Oxford: Oxford University Press.
- Ainslie, D.C., and Annemarie Butler (eds.), 2015, The Cambridge Companion to Hume’s Treatise, Cambridge: Cambridge University Press.
- Allison, H.E., 2008, Custom and Reason in Hume, Oxford: Oxford University Press.
- Árdal, P.S., 1966, Passion and Value in Hume’s Treatise, Edinburgh: Edinburgh University Press. 2nd edition, revised, 1989.
- Baier, A.C., 1991, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s Treatise, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- –––, 2008, Death and Character: Further Reflections on Hume, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Baxter, D.L.M., 2008, Hume’s Difficulty, London: Routledge.
- Beauchamp, T.L. and A. Rosenberg, 1981, Hume and the Problem of Causation, New York: Oxford University Press.
- Bennett, J., 2001, Learning from Six Philosophers, Two Volumes, Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S., 1993, Essays in Quasi-Realism, New York: Oxford University Press.
- Bricke, J., 1980, Hume’s Philosophy of Mind, Princeton: Princeton University Press.
- Box, M. A., 1990, The Suasive Art of David Hume, Princeton: Princeton University Press.
- Brown, C. and W. E. Morris, 2012, Starting with Hume, London: Continuum.
- Buckle, S., 2001, Hume’s Enlightenment Tract: The Unity and Purpose of An Enquiry concerning Human Understanding, Oxford: Clarendon Press.
- Cohon, R. (ed.), 2001, Hume: Moral and Political Philosophy, Aldershot: England and Burlington, Vermont: Dartmouth/Ashgate.
- –––, 2008, Hume’s Morality. New York/Oxford: Oxford University Press.
- Costelloe, T.M., 2018, The Imagination in Hume’s Philosophy: The Canvas of the Mind, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- De Pierris, G., 2015, Ideas, Evidence, and Method: Hume’s Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation, Oxford: Oxford University Press.
- Dicker, G., 1998, Hume’s Epistemology and Metaphysics: An Introduction, London and New York: Routledge.
- Earman, J., 2000, Hume’s Abject Failure: The Argument Against Miracles, New York: Oxford University Press.
- Fodor, J.A., 2003, Hume Variations, Oxford: Clarendon Press.
- Fogelin, R.J., 1985, Hume’s Scepticism in the Treatise of Human Nature, London: Routledge and Kegan Paul.
- –––, 2003 A Defense of Hume on Miracles, Princeton: Princeton University Press.
- –––, 2009, Hume’s Skeptical Crisis, Oxford: Oxford University Press.
- Frasca-Spada, M., 1998, Space and the Self in Hume’s Treatise, Cambridge: Cambridge University Press.
- Frasca-Spada, M. and P.J.E. Kail (eds.), 2005, Impressions of Hume, Oxford: Clarendon Press.
- Garfield, J.L., 2019, The Concealed Influence of Custom: Hume’s Treatise from the Inside Out, Oxford: Oxford University Press.
- Garrett, D., 1996, Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy, Oxford/New York: Oxford University Press.
- –––, 2015, Hume, London and New York: Routledge.
- Harris, J.A., 2005, Of Liberty and Necessity: The Free Will Debate in Eighteenth-Century British Philosophy, Oxford: Clarendon Press.
- –––, 2015, Hume: An Intellectual Biography, Cambridge: Cambridge University Press.
- Holden, T., 2010, Spectres of False Divinity: Hume’s Moral Atheism, Oxford: Oxford University Press.
- Jones, P., 1982, Hume’s Sentiments, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kail, P.J.E., 2007, Projection and Realism in Hume’s Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
- Livingston, D.W., 1984, Hume’s Philosophy of Common Life, Chicago: University of Chicago Press.
- –––, 1998, Philosophical Melancholy and Delirium: Hume’s Pathology of Philosophy, Chicago: University of Chicago Press.
- Loeb, L.E., 2002, Stability and Justification in Hume’s Treatise, New York: Oxford University Press.
- Millican, P. (ed.), 2002, Reading Hume on Human Understanding, Oxford: Clarendon Press.
- Mossner, E.C., 1954, The Life of David Hume, London: Nelson.
- Noonan, H.W., 1999, Hume on Knowledge, London and New York: Routledge.
- Norton, D.F., 1982, David Hume, Common Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, Princeton: Princeton University Press.
- Norton, D. F. and J. Taylor (eds.), 2009, The Cambridge Companion to Hume, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Noxon, J., 1973, Hume’s Philosophical Development, Oxford: Oxford University Press.
- Owen, D., 2000, Hume’s Reason, Oxford: Oxford University Press.
- Passmore, J., 1952, Hume’s Intentions, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pears, D., 1990, Hume’s System, Oxford: Oxford University Press.
- Penelhum, T., 1975, Hume, London: Macmillan.
- –––, 2000, Themes in Hume: The Will, The Self, Religion, Oxford: Clarendon Press.
- Price, H.H., 1940, Hume’s Theory of the External World, Oxford: Clarendon Press.
- Qu, H.M., 2020, Hume’s Epistemological Evolution, Oxford: Oxford University Press.
- Radcliffe, E.S. (ed.), 2008, A Companion to Hume, Oxford: Blackwell.
- –––, 2018, Hume, Passion, and Action, Oxford: Oxford University Press.
- Read, R. and K.A. Richman (ed.), 2000, The New Hume Debate, New York and London: Routledge.
- Russell, P., 1995, Freedom and Moral Sentiment, New York: Oxford University Press.
- –––, 2008, The Riddle of Hume’s Treatise: Skepticism, Naturalism, and Irreligion, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2016, The Oxford Handbook of Hume, Oxford: Oxford University Press.
- Schabas, M. and Carl Wennerlund, 2020, A Philosopher’s Economist: Hume and the Rise of Capitalism, Chicago: University of Chicago Press.
- Schmitt, F.F., 2014, Hume’s Epistemology in the Treatise: A Veritistic Interpretation, Oxford: Oxford University Press.
- Smith, N.K., 1941, The Philosophy of David Hume, London: Macmillan.
- Stanistreet, P., 2002, Hume’s Scepticism and the Science of Human Nature, Aldershot: Ashgate.
- Stewart, M.A. and J.P. Wright (eds.), 1994, Hume and Hume’s Connexions, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Strawson, G., 1989, The Secret Connexion: Causation, Realism and David Hume, Oxford: Oxford University Press.
- Stroud, B., 1977, Hume, London: Routledge and Kegan Paul.
- Taylor, J.A., 2015, Reflecting Subjects: Passion, Sympathy, and Society in Hume’s Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
- Traiger, S. (ed.), 2006, The Blackwell Guide to Hume’s Treatise, Oxford: Blackwell.
- Tweyman, S., 1995, David Hume: Critical Assessments, Six Volumes, London and New York: Routledge.
- Watkins, M., 2020, The Philosophical Progress of Hume’s Essays, Cambridge: Cambridge University Press.
- Waxman, W., 1994, Hume’s Theory of Consciousness, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright, J. P., 1983, The Sceptical Realism of David Hume, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- –––, 2009, Hume’s “A Treatise of Human Nature”: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.
Academic Tools
- How to cite this entry.
- Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
- Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
- Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.
Other Internet Resources
- Hume Texts Online.
- The Hume Society
Related Entries
Berkeley, George | Clarke, Samuel | free rider problem | Hobbes, Thomas | Hume, David: aesthetics | Hume, David: moral philosophy | Hume, David: Newtonianism and Anti-Newtonianism | Hume, David: on free will | Hume, David: on religion | induction: problem of | Kant, Immanuel: and Hume on causality | Kant, Immanuel: and Hume on morality | Locke, John | miracles | Scottish Philosophy: in the 18th Century
Este artigo foi publicado originalmente no site Plato Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/hume/