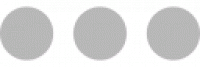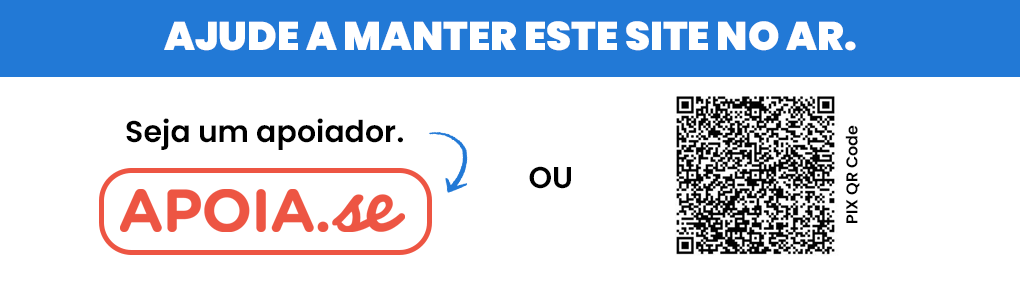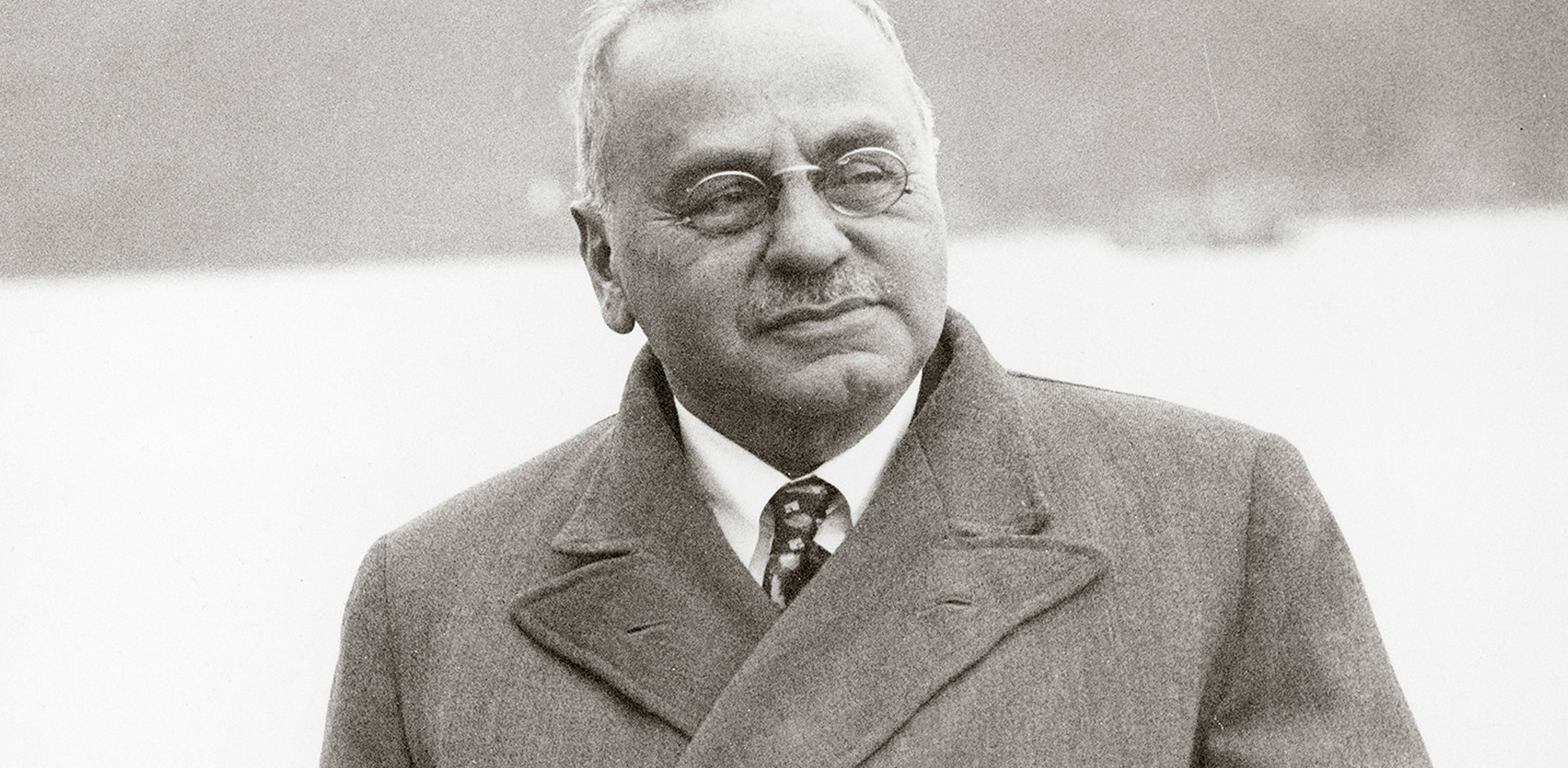“O Que é Um Clássico?” é um ensaio extraído da coleção Gateway to the Greatbooks.
Essa é uma pergunta DELICADA, para a qual podem ser dadas soluções um tanto diversas, de acordo com os tempos e as estações. Um homem inteligente me sugeriu essa questão, e eu pretendo tentar, se não resolvê-la, pelo menos examiná-la e discuti-la face a face com meus leitores, apenas para persuadi-los a respondê-la por si mesmos e, se eu puder, tornar clara a opinião deles e a minha sobre o assunto. E por que, na crítica, não deveríamos, de tempos em tempos, nos aventurar a tratar de alguns desses assuntos que não são pessoais, nos quais não falamos mais de alguém, mas de alguma coisa? Nossos vizinhos, os ingleses, conseguiram fazer disso uma espécie de divisão especial da literatura, sob o modesto título de “Ensaios”. É verdade que, ao escrever sobre tais assuntos, sempre ligeiramente abstratos e morais, é aconselhável falar sobre eles em uma época de tranquilidade, para garantir nossa própria atenção e a dos outros, a fim de aproveitar um desses momentos de calma, moderação e lazer que raramente são concedidos à nossa amável França; mesmo quando ela deseja ser sábia e não está promovendo revoluções, seu gênio brilhante mal pode ignorá-las.
Um clássico, de acordo com a definição usual, é um autor antigo “canonizado pela admiração e considerado uma autoridade em seu estilo particular”. A palavra clássico foi usada pela primeira vez nesse sentido pelos romanos. Entre eles, nem todos os cidadãos das diferentes classes eram chamados propriamente de classici, mas apenas os da classe superior, aqueles que possuíam uma renda de uma determinada quantia fixa. Aqueles que possuíam uma renda menor eram descritos pelo termo infra classem, abaixo da classe proeminente. A palavra classicus foi usada em um sentido figurado por Aulus Gellius e aplicada a escritores: um escritor de valor e distinção, classicus assiduusque scriptor, um escritor que é importante, tem propriedade real e que não se perde na multidão proletária. Essa expressão indica uma época suficientemente avançada para já se ter feito algum tipo de avaliação e classificação da literatura.
No princípio, os verdadeiros clássicos para os modernos eram os antigos. Os gregos, devido à sorte peculiar e à iluminação natural da mente, não tinham outros clássicos além deles próprios. No início, eles eram os únicos autores clássicos para os romanos, que se esforçavam e tentavam imitá-los. Após os grandes períodos da literatura romana, depois de Cícero e Virgílio, os romanos, por sua vez, tiveram seus clássicos, que se tornaram quase que exclusivamente os autores clássicos dos séculos seguintes. A Idade Média, que ignorava menos a antiguidade latina do que se acredita, mas que carecia de proporção e gosto, confundiu as classificações e as ordens. Ovídio foi colocado acima de Homero, e Boécio foi considerado um clássico igual a Platão. O renascimento do aprendizado nos séculos XV e XVI ajudou a colocar em ordem esse longo caos, e somente então a admiração foi corretamente proporcionada. A partir de então, os verdadeiros autores clássicos da antiguidade grega e latina destacaram-se em um cenário luminoso e foram harmoniosamente agrupados em suas duas alturas.
Enquanto isso, as literaturas modernas nasciam, e algumas das mais precoces, como a italiana, já possuíam o estilo da antiguidade. Dante apareceu e, já no primeiro momento, a posteridade o saudou como um clássico. Desde então, a poesia italiana tem se encolhido em limites muito mais estreitos; mas, quando desejou fazê-lo, sempre encontrou novamente e preservou o impulso e o eco de sua elevada origem. Não é uma questão indiferente para uma poesia o fato de ter seu ponto de partida e sua fonte clássica em lugares elevados; por exemplo, brotar de Dante em vez de emanar laboriosamente de Malherbe.
A Itália moderna tinha seus autores clássicos, e a Espanha tinha todo o direito de acreditar que também tinha os seus, em uma época em que a França ainda buscava os dela. Alguns escritores talentosos, dotados de originalidade e animação excepcional, alguns esforços brilhantes, isolados, sem continuidade, interrompidos e recomeçados, não foram suficientes para dotar uma nação de uma base sólida e imponente em termos de riqueza literária. A idéia de um clássico implica em algo que tem continuidade e consistência, que produz unidade e tradição, que se modela e se transmite, e que perdura. Foi somente após os gloriosos anos de Luís XIV que a nação sentiu com tremor e orgulho o fato de tal sorte ter acontecido com ela. Todas as vozes falavam de Luís XIV com lisonja, exagero e ênfase, mas com um certo sentimento de verdade. Surgiu então uma contradição singular e impressionante: aqueles homens dos quais Perrault era o chefe, os homens que estavam mais impressionados com as maravilhas da era de Luís, o Grande, que chegavam ao ponto de sacrificar os antigos aos modernos, tinham como objetivo exaltar e canonizar até mesmo aqueles que eles consideravam como adversários e oponentes inveterados. Boileau se vingou e defendeu raivosamente os antigos contra Perrault, que exaltou os modernos — ou seja, Corneille, Molière, Pascal e os homens eminentes de sua época, incluindo Boileau, um dos primeiros. Gentilmente, La Fontaine, participando da disputa em nome do erudito Huet, não percebeu que, apesar de seus defeitos, ele próprio estava a ponto de ser considerado um clássico.
O exemplo é a melhor definição. Desde o momento em que a França teve sua era sob Luís XIV e pôde contemplá-la a uma pequena distância, ela sabia, melhor do que qualquer argumento, o que significava ser um clássico. O século XVIII, mesmo em sua mistura de coisas, fortaleceu essa idéia por meio de algumas obras excelentes, devido a seus quatro grandes homens. Leiam A Era de Luís XIV, de Voltaire, A Grandeza e a Queda dos Romanos, de Montesquieu, As Épocas da Natureza, de Buffon, as belas páginas cheias de devaneios e descrições naturais de O Vigário de Sabóia, de Rousseau, e digam se o século XVIII, com essas obras memoráveis, não entendeu como conciliar tradição com liberdade de desenvolvimento e independência. Todavia, no início do século em curso e sob o Império, à vista das primeiras tentativas de uma literatura decididamente nova e um tanto aventureira, a idéia de um clássico em algumas poucas mentes resistentes, mais pesarosas do que severas, foi estranhamente reduzida e contraída. O primeiro Dicionário da Academia (1694) simplesmente definiu um autor clássico como “um escritor antigo muito aprovado, que é uma autoridade no que diz respeito ao assunto de que trata”. O Dicionário da Academia de 1835 restringe ainda mais essa definição e dá precisão e até mesmo limites à sua forma um tanto vaga. Ele descreve os autores clássicos como aqueles “que se tornaram modelos em qualquer idioma” e, em todos os verbetes que se seguem, as expressões modelos, regras fixas de composição e estilo, regras rígidas de arte às quais os homens devem se submeter, são continuamente recorrentes. Essa definição de clássico foi evidentemente elaborada pelos respeitáveis acadêmicos, nossos predecessores, em face e à vista do que era então chamado de romântico — ou seja, à vista do inimigo. Parece-me que é hora de renunciar a essas definições tímidas e restritivas e de libertar nossa mente delas.
Um verdadeiro clássico, tal como eu gostaria de ouvi-lo definido, é um autor que enriqueceu a mente humana, aumentou seu tesouro e a fez avançar um passo; que descobriu alguma verdade moral e não equívoca, ou que revelou alguma paixão eterna naquele coração no qual tudo parecia ser conhecido e já descoberto; que expressou seu pensamento, observação ou invenção, não importa a forma, desde que seja ampla e grandiosa, refinada e sensível, sã e bela em si mesma; que falou a todos em seu próprio estilo peculiar, um estilo que se descobriu ser também o de todo o mundo, um estilo novo e sem neologismo, novo e antigo, que é perfeitamente contemporâneo de todos os tempos.
Esse clássico pode, por um momento, ter sido revolucionário; pode, pelo menos, ter parecido ser, mas não o é; ele apenas chicoteou e subverteu tudo o que impedia a restauração do equilíbrio da ordem e da beleza.
Se desejar, nomes podem ser aplicados a essa definição que desejo tornar propositalmente majestosa e fluida, ou, em uma palavra, abrangente. Em primeiro lugar, eu deveria colocar Corneille, de Polyeucte, Cinna e Horácio. Eu deveria incluir Molière, o gênio poético mais pleno e completo que já tivemos na França. Goethe, o rei dos críticos, disse:
“Molière é tão grandioso que nos surpreende mais uma vez a cada vez que o lemos. Ele é um homem à parte; suas peças beiram o trágico, e ninguém tem a coragem de tentar imitá-lo. Sua Avare, na qual o vício destrói todo o afeto entre pai e filho, é uma das obras mais sublimes e dramáticas no mais alto grau. Em um drama, toda ação deve ser importante em si mesma e levar a uma ação ainda maior. Nesse aspecto, Tartufo é um modelo. Que exposição é a primeira cena! Desde o início, tudo tem um significado importante e faz com que algo muito mais importante seja previsto. A exposição em uma certa peça de Lessing que poderia ser mencionada é muito boa, mas o mundo só vê aquela de Tartufo uma vez. Ela é a melhor que possuímos nesse gênero. Todo ano leio uma peça de Molière, assim como, de tempos em tempos, contemplo alguma gravura dos grandes mestres italianos.”
Não escondo de mim mesmo que a definição de clássico que acabei de dar excede um pouco a noção normalmente atribuída ao termo. Ela deve, acima de tudo, incluir condições de uniformidade, sabedoria, moderação e razão, que dominam e contêm todas as outras. Tendo que elogiar M. Royer-Collard, M. de Rémusat disse: “Se ele deriva a pureza do gosto, a propriedade dos termos, a variedade de expressão, o cuidado atento em adequar a dicção ao pensamento, de nossos clássicos, ele deve somente a si mesmo o caráter distintivo que dá a tudo isso”. Aqui fica evidente que a parte atribuída às qualidades clássicas parece depender principalmente da harmonia e das nuances de expressão, do estilo gracioso e moderado: essa também é a opinião mais geral. Nesse sentido, os clássicos preeminentes seriam escritores de uma ordem mediana, exatos, sensatos, elegantes, sempre claros, mas de sentimento nobre e força velada. Marie-Joseph Chénier descreveu a poética desses escritores temperados e realizados através de linhas em que ele se mostra como sendo seu feliz discípulo:
“É o bom senso, a razão que faz tudo, a virtude, o gênio, a alma, o talento e o gosto. O que é a virtude? a razão posta em prática; o talento? a razão expressa com brilho; a alma? a razão delicadamente apresentada; e o gênio é a razão sublime.”
Ao escrever essas linhas, ele estava evidentemente pensando em Pope, Boileau, e em Horácio, o mestre de todos eles. A característica peculiar da teoria que subordina a imaginação e o sentimento mesmo à razão, da qual Scaliger talvez tenha dado o primeiro sinal entre os modernos, é, propriamente falando, a teoria Latina, e por muito tempo foi também, por preferência, a teoria Francesa. Se for usada apropriadamente, se o termo razão não for abusado, essa teoria possui alguma verdade; mas é evidente que ele é abusado, e que se, por exemplo, a razão pode ser confundida com o gênio poético e tornar-se um com ele em uma epístola moral, ela não pode ser a mesma coisa que o gênio, tão variado e tão diversamente criativo em sua expressão das paixões, do drama ou da epopéia. Onde você encontrará a razão no quarto livro da Æneida e nos relatos de Dido? Seja como for, o espírito que impulsionou a teoria fez com que os escritores que governaram sua inspiração, em vez daqueles que se abandonaram a ela, fossem colocados no primeiro escalão dos clássicos; para colocar Virgílio lá mais seguramente do que Homero, Racine em preferência a Corneille. A obra-prima para a qual a teoria gosta de apontar, que de fato reúne todas as condições de prudência, força, ousadia moderada, elevação moral e grandeza, é Athalie. Turenne, em suas duas últimas campanhas, e Racine, em Athalie, são os grandes exemplos do que os homens sábios e prudentes são capazes de fazer quando atingem a maturidade de seu gênio e alcançam a suprema ousadia.
Buffon, em seu Discurso sobre o Estilo, insistindo na unidade de design, arranjo e execução, que são os selos das verdadeiras obras clássicas, disse: “Todo assunto é um só e, por mais vasto que seja, pode ser incluído em um único tratado. Interrupções, pausas, subdivisões só devem ser usadas quando muitos assuntos são tratados, quando, tendo que falar de coisas grandes, intrincadas e diferentes, a marcha do gênio é interrompida pela multiplicidade de obstáculos e contraída pela necessidade das circunstâncias: caso contrário, longe de tornar uma obra mais sólida, um grande número de divisões destrói a unidade de suas partes; o livro parece mais claro para a vista, mas o projeto do autor permanece obscuro”. E ele continua sua crítica, tendo em vista o Espírito das Leis de Montesquieu, um excelente livro no fundo, mas subdividido: o famoso autor, desgastado antes do fim, foi incapaz de infundir inspiração em todas as suas idéias e de organizar toda a sua matéria. No entanto, dificilmente posso acreditar que Buffon não estivesse pensando também, por contraste, no Discurso sobre a História Universal de Bossuet, um assunto realmente vasto e, no entanto, de tal unidade que o grande orador foi capaz de englobá-lo em um único tratado. Quando abrimos a primeira edição, a de 1681, antes da divisão em capítulos, que foi introduzida mais tarde, e passou da margem para o texto, tudo é desenvolvido em uma única série, quase em um só fôlego. Pode-se dizer que o orador agiu aqui como a natureza da qual Buffon fala, que “ele trabalhou em um plano eterno do qual não se afastou em lugar algum”, tão profundamente que parece ter participado dos conselhos e desígnios familiares da providência.
Athalie e o Discurso sobre a História Universal são as maiores obras-primas que a estrita teoria clássica pode apresentar tanto a seus amigos quanto a seus inimigos? Apesar da admirável simplicidade e dignidade na realização de tais produções únicas, gostaríamos, no entanto, no interesse da arte, de expandir um pouco essa teoria e mostrar que é possível ampliá-la sem relaxar a tensão. Goethe, que gosto de citar sobre esse assunto, disse
“Eu chamo o clássico de saudável e o romântico de doentio. Em minha opinião, a canção do Nibelungo é tão clássica quanto Homero. Ambas são saudáveis e vigorosas. As obras da atualidade são românticas, não por serem novas, mas por serem fracas, doentes ou debilitadas. As obras antigas são clássicas não porque são velhas, mas porque são poderosas, frescas e saudáveis. Se considerarmos o romântico e o clássico sob esses dois pontos de vista, logo estaremos todos de acordo.”
De fato, antes de determinar e fixar as opiniões sobre esse assunto, eu gostaria que todas as mentes imparciais fizessem uma viagem ao redor do mundo e se dedicassem a uma pesquisa sobre diferentes literaturas em seu vigor primitivo e variedade infinita. O que seria visto? Em primeiro lugar, um Homero, o pai do mundo clássico, menos como um único indivíduo distinto do que como a vasta expressão viva de toda uma época e de uma civilização semi-bárbara. Para torná-lo um verdadeiro clássico, era necessário atribuir-lhe, mais tarde, um projeto, um plano, uma invenção literária, qualidades de aticismo e urbanidade com as quais ele certamente nunca havia sonhado no desenvolvimento exuberante de suas inspirações naturais. E quem aparece ao seu lado? Augusto, veneráveis antigos, Æschyluses e Sófocles, mutilados, é verdade, e que só estão ali para nos apresentar um fragmento de si mesmos, os sobreviventes dentre muitos outros tão dignos, sem dúvida, quanto eles de sobreviver, mas que sucumbiram aos danos do tempo. Esse pensamento, por si só, ensinaria um homem de mente imparcial a não olhar para o conjunto das literaturas clássicas com uma visão muito estreita e restrita; ele aprenderia que a ordem exata e bem proporcionada que, desde então, tem prevalecido tão amplamente em nossa admiração pelo passado foi apenas o resultado de circunstâncias artificiais.
E ao chegar ao mundo moderno, como seria? Os maiores nomes que podem ser vistos no início das literaturas são aqueles que perturbam e contrariam certas idéias fixas sobre o que é belo e apropriado na poesia. Por exemplo, Shakespeare é um clássico? Sim, na atualidade, para a Inglaterra e o mundo; mas na época de Pope ele não era considerado assim. Pope e seus amigos eram os únicos clássicos proeminentes; logo após sua morte, eles pareciam que seriam assim para sempre. Atualmente, eles ainda são clássicos, como merecem ser, mas são apenas de segunda ordem e estão para sempre subordinados e relegados ao seu lugar de direito por aquele que voltou a se impor no alto do horizonte.
No entanto, não me cabe falar mal de Pope ou de seus grandes discípulos, sobretudo quando possuem pathos e naturalidade como Goldsmith: depois dos maiores, eles talvez sejam os escritores mais agradáveis e os poetas mais aptos a acrescentar charme à vida. Certa vez, quando Lorde Bolingbroke estava escrevendo para Swift, Pope acrescentou um pós-escrito, no qual dizia: “Acho que haveria alguma vantagem para nossa época se nós três passássemos três anos juntos”. Nunca se deve falar levianamente de homens que, sem se vangloriar, têm o direito de dizer tais coisas: as épocas afortunadas, quando homens de talento podiam propor tais coisas, então sem quimeras, devem ser invejadas. As eras chamadas pelo nome de Luís XIV ou da Rainha Ana são, no sentido desapaixonado da palavra, as únicas eras clássicas verdadeiras, aquelas que oferecem proteção e um clima favorável ao verdadeiro talento. Sabemos muito bem como, em nossos tempos livres, devido à instabilidade e à agitação da época, os talentos se perdem e se dissipam. No entanto, reconheçamos a parte e a superioridade de nossa época em termos de grandeza. O gênio verdadeiro e soberano triunfa sobre as dificuldades que levam os outros ao fracasso: Dante, Shakespeare e Milton conseguiram atingir seu apogeu e produzir suas obras imperecíveis apesar dos obstáculos, dificuldades e tempestades. A opinião de Byron sobre Pope foi muito discutida, e a explicação para ela foi buscada no tipo de contradição pela qual o cantor de Don Juan e Childe Harold exaltava a escola puramente clássica e a declarava a única boa, enquanto ele próprio agia de modo tão diferente. Goethe disse a verdade sobre esse ponto quando observou que Byron, grande pelo fluxo e fonte da poesia, temia que Shakespeare fosse mais poderoso do que ele na criação e realização de seus personagens. “Ele gostaria de negar isso; a elevação tão livre de egoísmo o irritava; ele sentia que, quando estava perto dela, não podia se mostrar à vontade. Ele nunca contestou Pope, porque não o temia; ele sabia que Pope era apenas um muro baixo ao seu lado.”
Se, como Byron desejava, a escola de Pope tivesse mantido a supremacia e uma espécie de império honorário no passado, Byron teria sido o primeiro e o único poeta em seu estilo particular; a altura do muro de Pope esconde da vista a grande figura de Shakespeare, ao passo que, quando Shakespeare reina e governa em toda a sua grandeza, Byron é apenas o segundo.
Na França, não havia nenhum grande clássico antes da era de Luís XIV; faltavam os Dantes e Shakespeares, as primeiras autoridades às quais, em tempos de emancipação, os homens mais cedo ou mais tarde retornam. Havia meros esboços de grandes poetas, como Mathurin Regnier, como Rabelais, sem qualquer ideal, sem a profundidade da emoção e a seriedade que canoniza. Montaigne era uma espécie de clássico prematuro, da família de Horácio, mas por falta de um ambiente digno, como uma criança mimada, ele se entregou às fantasias desenfreadas de seu estilo e humor. Assim, aconteceu que a França, menos do que qualquer outra nação, encontrou em seus autores antigos o direito de exigir veementemente, em determinado momento, liberdade literária e autonomia, e era mais difícil para ela, ao se autorizar, permanecer clássica. No entanto, com Molière e La Fontaine entre seus clássicos do grande período, nada poderia ser justamente recusado àqueles que possuíam coragem e habilidade.
O ponto importante agora me parece ser manter, e ao mesmo tempo ampliar, a idéia e a crença. Não há receita para criar clássicos; esse ponto deve ser claramente reconhecido. Acreditar que um autor se tornará um clássico ao imitar certas qualidades de pureza, moderação, precisão e elegância, independentemente do estilo e da inspiração, é acreditar que depois de Racine, o pai, há um lugar para Racine, o filho; um papel monótono e estimável, o pior da poesia. Além disso, é perigoso tomar muito rapidamente e sem oposição o lugar de um clássico na visão de seus contemporâneos; nesse caso, há uma boa chance de não manter a posição com a posteridade. Fontanes, em sua época, era considerado por seus amigos como um clássico puro; veja como, a vinte e cinco anos de distância, sua estrela se firmou. Quantos desses clássicos precoces existem que não perduram, e que o são apenas por um tempo! Nós nos viramos em uma manhã e ficamos surpresos por não encontrá-los atrás de nós. Madame de Sévigné diria espirituosamente que eles possuem apenas uma cor evanescente. Com relação aos clássicos, os menos esperados provam ser os melhores e maiores: procure-os antes no gênio vigoroso que nasceu imortal e floresce para sempre. Aparentemente, o menos clássico dos quatro grandes poetas da era de Luís XIV foi Molière; na época, ele era muito mais aplaudido do que estimado; os homens se deleitavam com ele sem entender seu valor. Depois dele, La Fontaine parecia o menos clássico: observe, depois de dois séculos, qual é o resultado para ambos. Muito acima de Boileau, até mesmo acima de Racine, eles não são agora unanimemente considerados como possuidores, no mais alto grau, das características de uma moralidade abrangente?
Entretanto, não se trata de sacrificar ou depreciar nada. Acredito que o templo do gosto deva ser reconstruído, mas sua reconstrução é apenas uma questão de ampliação, para que possa se tornar o lar de todos os seres humanos nobres, de todos os que aumentaram permanentemente a soma das delícias e posses da mente. Quanto a mim, que não posso, obviamente, de forma alguma pretender ser o arquiteto ou projetista de tal templo, limitar-me-ei a expressar alguns desejos sinceros, para apresentar, por assim dizer, meus projetos para o edifício. Acima de tudo, eu gostaria de não excluir ninguém entre os dignos, cada um deveria estar lá em seu lugar, desde Shakespeare, o mais livre dos gênios criativos, e o maior dos clássicos sem o saber, até Andrieux, o último dos clássicos com pouco. “Nas mansões de meu Pai há mais de um aposento”; isso deve ser tão verdadeiro para o reino da beleza aqui embaixo quanto para o reino dos céus. Homero, como sempre e em toda parte, deveria ser o primeiro, o mais parecido com um deus; mas atrás dele, como a procissão dos três reis sábios do Oriente, seriam vistos os três grandes poetas, os três Homeros, há tanto tempo ignorados por nós, que escreveram épicos para o uso dos povos antigos da Ásia, os poetas Valmiki, Vyasa dos hindus e Firdousi dos persas: no domínio do gosto, é bom saber que tais homens existem, e não dividir a raça humana. Prestamos nossa homenagem ao que é reconhecido assim que percebido, e não devemos nos dispersar mais; os olhos devem se deliciar com mil espetáculos agradáveis ou majestosos, devem se regozijar com mil combinações variadas e surpreendentes, cuja aparente confusão nunca deixaria de ser concórdia e harmonia. Os mais antigos dos sábios e poetas, aqueles que colocavam a moralidade humana em máximas e aqueles que a cantavam de maneira simples, conversavam entre si em um discurso raro e gentil e não se surpreendiam ao entender o significado um do outro logo na primeira palavra. Sólon, Hesíodo, Teógnis, Jó, Salomão e, por que não, Confúcio, dariam as boas-vindas aos modernos mais inteligentes, La Rochefoucauld e La Bruyère, que, ao ouvi-los, diriam “eles sabiam tudo o que nós sabemos e, ao repetir as experiências da vida, não descobrimos nada”. Na colina, mais facilmente discernível e de subida mais acessível, Virgílio, cercado por Menandro, Tibulo, Terêncio, Fénélon, ocuparia-se em conversar com eles com grande charme e encantamento divino: seu semblante gentil brilharia com uma luz interior e seria tingido de modéstia; como no dia em que entrou no teatro em Roma, assim que terminaram de recitar seus versos, ele viu o povo se levantar com um movimento unânime e prestar a ele a mesma homenagem que a Augustus. Não muito longe dele, lamentando a separação de um amigo tão querido, Horácio, por sua vez, presidiria (na medida em que um poeta tão talentoso e sábio podia presidir) o grupo de poetas da vida social que podiam falar embora cantassem — Pope, Boileau, um se tornando menos irritável, o outro menos crítico. Montaigne, um verdadeiro poeta, estaria entre eles e daria o toque final que deveria privar aquele canto encantador do ar de escola literária. Lá, La Fontaine se esqueceria de si mesmo e, tornando-se menos volátil, não vagaria mais. Voltaire se sentiria atraído por esse lugar, mas, embora sentisse prazer nele, não teria paciência para permanecer. Um pouco mais abaixo, na mesma colina de Virgílio, Xenofonte, com porte simples, não se parecendo de modo algum com um general, mas sim com um sacerdote das Musas, seria visto reunindo em torno de si os áticos de todas as línguas e de todas as nações, os Addisons, Pellissons, Vauvenargues — todos que sentem o valor de uma persuasão fácil, uma simplicidade requintada e uma negligência gentil misturada com ornamento. No centro do lugar, no pórtico do templo principal (pois haveria vários no recinto), três grandes homens gostariam de se encontrar com frequência e, quando estivessem juntos, nenhum quarto, por maior que fosse, sonharia em participar de seu discurso ou de seu silêncio. Neles se veria beleza, proporção em grandeza e aquela harmonia perfeita que aparece apenas uma vez na plena juventude do mundo. Seus três nomes se tornaram o ideal da arte — Platão, Sófocles e Demóstenes. Em homenagem a esses semi-deuses, veríamos uma companhia numerosa e familiar de espíritos escolhidos que os seguiriam, os Cervantes e os Molières, pintores práticos da vida, amigos indulgentes que ainda são os primeiros benfeitores, que abraçam com riso toda a humanidade, transformam a experiência do homem em alegria e conhecem os poderosos efeitos de uma alegria sensível, sincera e legítima. Não quero me alongar mais nessa descrição, que, se fosse completa, encheria um volume. Na Idade Média, acreditem, Dante ocuparia as alturas sagradas: aos pés do cantor do Paraíso, toda a Itália estaria espalhada como um jardim; Boccaccio e Ariosto se divertiriam ali, e Tasso reencontraria os laranjais de Sorrento. Normalmente, um canto seria reservado para cada uma das várias nações, mas os autores teriam prazer em deixá-lo e, em suas viagens, reconheceriam, onde menos se esperaria, irmãos ou mestres. Lucrécio, por exemplo, gostava de discutir a origem do mundo e a redução do caos à ordem com Milton. Mas ambos argumentando a partir de seus próprios pontos de vista, eles só concordariam no que diz respeito às imagens divinas da poesia e da natureza.
Esses são nossos clássicos; cada imaginação individual pode terminar o esboço e escolher o grupo preferido. Pois é necessário fazer uma escolha, e a primeira condição do gosto, depois de obter conhecimento de tudo, não está em viajar continuamente, mas em descansar e parar de vagar. Nada embota e destrói o gosto tanto quanto as viagens intermináveis; o espírito poético não é o Judeu Errante. No entanto, quando falo em descansar e fazer escolhas, não estou querendo dizer que devemos imitar aqueles que mais nos encantam entre nossos mestres do passado. Devemos nos contentar em conhecê-los, penetrá-los e admirá-los; mas nós, os que chegaram mais tarde, devemos nos esforçar para sermos nós mesmos. Tenhamos a sinceridade e a naturalidade presentes em nossos próprios pensamentos, em nossos próprios sentimentos; isso é sempre possível. Acrescentemos a isso o que é mais difícil, a elevação, um objetivo, se possível, em direção a uma meta exaltada; e enquanto falamos nossa própria língua e nos submetemos às condições da época em que vivemos, de onde tiramos nossa força e nossos defeitos, perguntemos de tempos em tempos, com nossas sobrancelhas erguidas para as alturas e nossos olhos fixos no grupo de mortais honrados: o que eles diriam de nós?
Todavia, por que falar sempre de autores e escritos? Talvez esteja chegando uma época em que não haverá mais escrita. Felizes aqueles que lêem e lêem novamente, aqueles que em sua leitura podem seguir sua inclinação irrestrita! Chega um momento na vida em que, terminadas todas as nossas jornadas, terminadas nossas experiências, não há prazer mais agradável do que estudar e examinar minuciosamente as coisas que sabemos, ter prazer no que sentimos e ver e rever as pessoas que amamos: as puras alegrias de nossa maturidade. É então que a palavra clássico assume seu verdadeiro significado e é definida para todo homem de bom gosto por meio de uma escolha irresistível. Então, o gosto é formado, moldado e definido; então, o bom senso, se é que vamos possuí-lo, é aperfeiçoado em nós. Não temos mais tempo para experimentos, nem o desejo de sair em busca de novos pastos. Nós nos apegamos aos nossos amigos, àqueles que foram comprovados por uma longa convivência. Vinho antigo, livros antigos, velhos amigos. Dizemos a nós mesmos, com Voltaire, nestas deliciosas linhas: “Vamos desfrutar, vamos escrever, vamos viver, meu caro Horácio!… Eu vivi mais do que você: meu verso não durará tanto. Mas, à beira da tumba, farei com que seja meu principal cuidado seguir as lições de sua filosofia, desprezar a morte e aproveitar a vida, ler seus escritos cheios de charme e bom senso, como se bebêssemos um vinho antigo que reaviva nossos sentidos”.
De fato, seja Horácio ou outro o autor preferido, que reflete nossos pensamentos em toda a riqueza de sua maturidade, pediremos a algum desses excelentes e antigos cérebros uma entrevista a todo momento; pediremos a algum deles uma amizade que nunca nos engana, que não poderia nos faltar; apelaremos a algum deles para aquela sensação de serenidade e amenidade (que muitas vezes precisamos) que nos reconcilia com a humanidade e com nós mesmos.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com