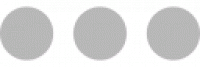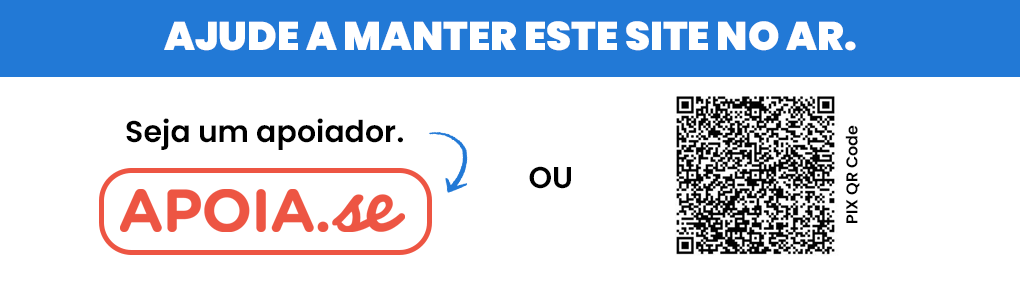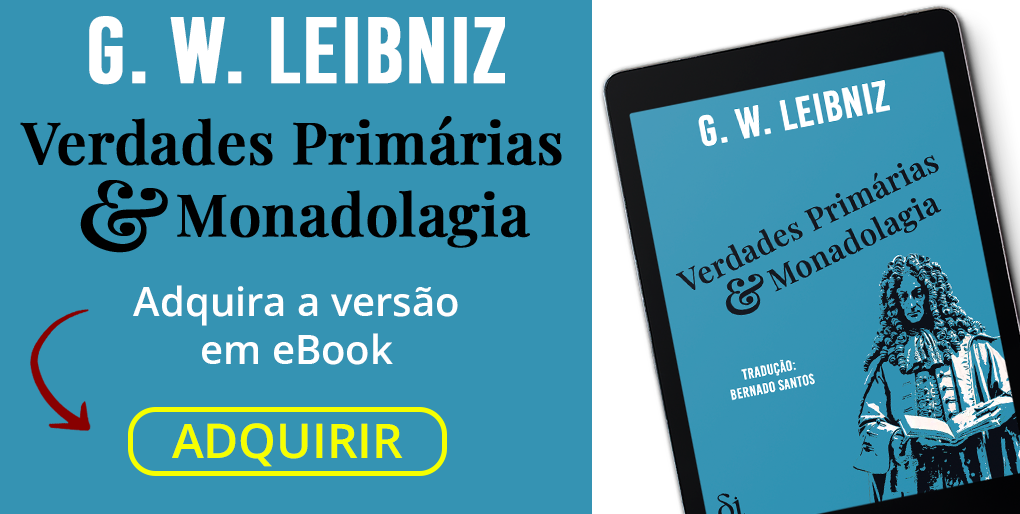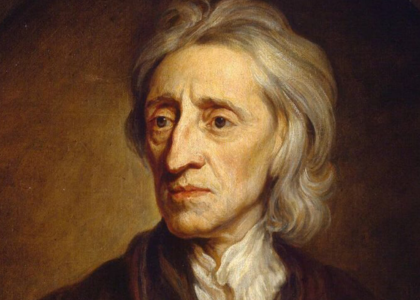Agostinho foi talvez o maior filósofo cristão da Antiguidade e certamente aquele que exerceu a influência mais profunda e duradoura. Ele é um santo da Igreja Católica, e sua autoridade em questões teológicas foi universalmente aceita na Idade Média latina e permaneceu, na tradição cristã ocidental, praticamente incontestada até o século XIX. O impacto de suas opiniões sobre o pecado, a graça, a liberdade e a sexualidade na cultura ocidental dificilmente pode ser subestimado. Esses pontos de vista, profundamente em desacordo com a antiga tradição filosófica e cultural, provocaram, no entanto, críticas ferozes durante a vida de Agostinho e, por sua vez, sofreram vigorosa oposição nos séculos XX e XXI desde vários pontos de vista (por exemplo, humanista, liberal, feminista). No entanto, os filósofos continuam fascinados por suas idéias, muitas vezes inovadoras, sobre linguagem, ceticismo e conhecimento, vontade e emoções, liberdade e determinismo, sobre a estrutura da mente humana e, por último, mas não menos importante, por sua maneira de fazer filosofia, que, embora obviamente comprometida com a verdade da revelação bíblica, é surpreendentemente não-dogmática e marcada por um espírito de investigação incansável. Sua obra mais famosa, Confissões, é única na tradição literária antiga, mas influenciou muito a tradição moderna da auto-biografia; é uma peça intrigante de filosofia a partir de uma perspectiva de primeira pessoa. Devido à sua importância para a tradição filosófica da Idade Média, ele é frequentemente listado como o primeiro filósofo medieval. Contudo, apesar de ter nascido várias décadas após o imperador Constantino I ter encerrado as perseguições anti-cristãs e, em sua idade madura, ter visto a legislação anti-pagã e anti-herética de Teodósio I e seus filhos, que praticamente tornou o cristianismo católico (ou seja, niceno) a religião oficial do Império Romano, Agostinho não viveu em um mundo cristão “medieval”. As tradições religiosas, culturais e sociais pagãs estavam muito vivas em sua congregação, conforme ele frequentemente lamenta em seus sermões, e sua própria perspectiva cultural foi, como a da maioria de seus contemporâneos eruditos de classe alta, moldada pelos autores, poetas e filósofos latinos clássicos que ele estudou nas escolas de gramática e retórica muito antes de encontrar a Bíblia e os escritores cristãos. Em toda a sua obra, ele se envolve com a filosofia pré-cristã e não-cristã, muitas das quais ele conhecia de primeira mão. O platonismo, em particular, continuou sendo um ingrediente decisivo de seu pensamento. Portanto, ele é melhor lido como um filósofo cristão da antiguidade tardia, moldado pela tradição clássica e em constante diálogo com ela.
As traduções de textos gregos ou latinos neste verbete são de autoria do autor, salvo indicação em contrário. As citações bíblicas são traduzidas da versão latina de Agostinho; elas podem diferir do original grego ou hebraico e/ou da Vulgata Latina.
- 1. Vida
- 2. Obra
- 3. Agostinho e a Filosofia
- 4. A Tradição Filosófica; o Platonismo de Agostinho
- 5. Teoria do Conhecimento
- 6. Antropologia: Deus e a Alma; Alma e Corpo
- 7. Ética
- 8. História e filosofia política
- 9. Gênero, Mulheres e Sexualidade
- 10. Criação e Tempo
- 11. Legado
- Bibliography
- Selected Secondary Literature
- Academic Tools
- Other Internet Resources
- Related Entries
1. Vida
Agostinho (Aurelius Augustinus) viveu de 13 de novembro de 354 a 28 de agosto de 430. Ele nasceu em Thagaste, na África romana (atual Souk Ahras, na Argélia). Sua mãe Mônica (falecida em 388), uma cristã devota, parece ter exercido uma influência profunda, mas não totalmente clara, em seu desenvolvimento religioso. Seu pai Patricius (falecido em 372) foi batizado em seu leito de morte. O próprio Agostinho foi feito catecúmeno no início de sua vida. Esperava-se que seus estudos de gramática e retórica nos centros provinciais de Madauros e Cartago, que sobrecarregavam os recursos financeiros de seus pais de classe média, preparassem seu caminho para uma futura carreira na alta administração imperial. Em Cartago, com cerca de 18 anos de idade, ele encontrou uma amante com quem viveu em uma união monogâmica por cerca de 14 anos e que lhe deu um filho,, Adeodato, que foi batizado junto com seu pai em Milão e morreu um pouco mais tarde (em cerca de 390) com 18 anos. Por volta de. 373 Agostinho se tornou um “ouvinte” (auditor) do maniqueísmo, uma religião dualista de origem persa que, no norte da África, se desenvolveu como uma variedade do cristianismo (e foi perseguida pelo Estado como uma heresia). Sua adesão ao maniqueísmo durou nove anos e sofreu forte oposição de Mônica. Embora provavelmente tenha atuado como apologista e missionário maniqueísta, ele nunca se tornou um dos “eleitos” (electi) da seita, que se comprometiam com o ascetismo e a abstinência sexual. Em 383, ele se mudou para Milão, na época a capital da metade ocidental do Império, para se tornar um professor de retórica pago publicamente pela cidade e um panegirista oficial da corte imperial. Lá, ele despediu sua amante para abrir caminho para um casamento vantajoso (um comportamento presumivelmente comum para jovens carreiristas naquela época). Em Milão, ele sofreu a influência do bispo Ambrósio (339-397), que lhe ensinou o método alegórico de exegese das Escrituras, e de alguns cristãos com inclinação neoplatônica que o familiarizaram com uma compreensão do cristianismo que era filosoficamente informada e, para Agostinho, intelectualmente mais satisfatória do que o maniqueísmo, do qual ele já havia começado a se distanciar. O período de incerteza e dúvida que se seguiu — descrito em Confissões como uma crise no sentido clínico — terminou no verão de 386, quando Agostinho se converteu ao cristianismo ascético e desistiu de sua cadeira de retórica e de suas perspectivas de carreira. Após um inverno de lazer filosófico na propriedade rural de Cassiciacum, perto de Milão, Agostinho foi batizado por Ambrósio na Páscoa de 387 e retornou à África, acompanhado por seu filho e alguns amigos e sua mãe, que morreu durante a viagem (Óstia, 388). Em 391, ele foi, aparentemente contra sua vontade, ordenado sacerdote na diocese da cidade marítima de Hipona Régio (atual Annaba/Bône, na Argélia). Cerca de cinco anos depois (por volta de 396), ele sucedeu o bispo local. Essa função eclesiástica envolvia novos deveres pastorais, políticos, administrativos e jurídicos, e sua responsabilidade e experiências com uma congregação cristã comum podem ter contribuído para modificar seus pontos de vista sobre a graça e o pecado original (Brown 2000: cap. 15). Todavia, suas habilidades retóricas o capacitaram bem para sua pregação diária e para disputas religiosas. Durante toda a sua vida como bispo, ele se envolveu em controvérsias religiosas com maniqueístas, donatistas, pelagianos e, em menor escala, pagãos. A maioria dos inúmeros livros e cartas que ele escreveu nesse período fazia parte dessas controvérsias ou, pelo menos, foi inspirada por elas, e mesmo os que não eram (por exemplo, De Genesi ad litteram, De trinitate) combinam ensinamentos filosóficos ou teológicos com persuasão retórica (Tornau 2006a). A polêmica contra seus antigos correligionários, os maniqueístas, aparece em grande escala em sua obra até cerca do ano 400; o debate com eles ajudou a moldar suas idéias sobre a não-substancialidade do mal e sobre a responsabilidade humana. O cisma donatista teve suas raízes na última grande perseguição no início do século IV. Os donatistas se consideravam os sucessores legítimos daqueles que haviam permanecido firmes durante a perseguição e alegavam representar a tradição africana de uma “igreja dos puros” cristãos. Desde 405, os donatistas foram enquadrados nas leis imperiais contra heresia e forçados a reingressar na igreja católica por meios legais; essas medidas foram intensificadas depois que uma conferência em Cartago (em 411) marcou o fim oficial do donatismo na África (Lancel & Alexander 1996-2002). Por meio de seus escritos assíduos contra os donatistas, Agostinho aprimorou suas idéias eclesiológicas e desenvolveu uma teoria de coerção religiosa baseada em uma compreensão intencionalista do amor cristão. O Pelagianismo (nomeado em homenagem ao asceta britânico Pelágio) foi um movimento do qual Agostinho tomou conhecimento por volta de 412. Ele e seus colegas bispos africanos conseguiram fazer com que fosse condenado como heresia em 418. Embora não negassem a importância da graça divina, Pelágio e seus seguidores insistiam que o ser humano era, por natureza, livre e capaz de não pecar (possibilitas). Contra essa visão, Agostinho defendeu vigorosamente sua doutrina da dependência radical do ser humano da graça, uma convicção já expressa em Confissões, mas refinada e endurecida durante a controvérsia. A última década da vida de Agostinho é marcada por um debate acirrado com o ex-bispo pelagianista Juliano de Aeclanum, que acusou Agostinho de cripto-maniqueísmo e de negar o livre-arbítrio, enquanto Agostinho culpou a ele e aos pelagianistas por anularem o sacrifício de Cristo ao negarem o pecado original (Drecoll 2012-2018). A controvérsia com os tradicionalistas pagãos parece ter atingido o auge depois do ano 400, quando Agostinho refutou uma série de objeções contra o cristianismo aparentemente extraídas do tratado de Porfírio Contra os Cristãos (Carta 102; Bochet 2011), e depois de 410, quando a cidade de Roma foi saqueada por Alarico e seus godos. A Cidade de Deus, a grande apologia de Agostinho, foi motivada por esse evento simbólico, embora não seja, de modo algum, apenas uma resposta às polêmicas pagãs. A vida de Agostinho terminou quando os vândalos sitiaram Hipona; diz-se que ele morreu com uma palavra de Plotino em seus lábios (Possidius, Vita Augustini 28.11, seguindo Plotino, Enneads I 4.7.23-24).
2. Obra
A produção literária de Agostinho supera em quantidade o trabalho preservado de quase todos os outros escritores antigos. Nas Retractationes (“Revisões“, um levantamento crítico de seus escritos em ordem cronológica até 428 d.C.), ele sugere uma divisão tripla de sua obra em livros, cartas e sermões (Retractationes 1, prólogo 1); cerca de 100 livros, 300 cartas e 500 sermões sobreviveram. A carreira literária de Agostinho após sua conversão começou com diálogos filosóficos. O primeiro deles, escrito em Cassiciacum em 386/7, trata de tópicos tradicionais como o ceticismo (Contra Academicos), a felicidade (De beata vita), o mal (De ordine) e a imortalidade da alma (Soliloquia, De immortalitate animae). Agostinho continuou a se dedicar a essas questões em diálogos sobre a imaterialidade da alma (De quantitate animae, 388), linguagem e aprendizado (De magistro, 388-391), liberdade de escolha e responsabilidade humana (De libero arbitrio, iniciado em 388 e concluído talvez em 395) e a estrutura numérica da realidade (De musica, 388-390). O tratado De vera religione (389-391) é uma espécie de summa agostiniana da filosofia cristã primitiva. Após o início de sua carreira eclesiástica, ele abandonou a forma dialógica, talvez por ter percebido seu caráter elitista e potencialmente enganoso (G. Clark 2009; Catapano 2013). Das obras de seu sacerdócio e episcopado, muitas são escritos polêmicos contra os maniqueus (por exemplo, Contra Faustum Manichaeum, por volta de 400), os donatistas (por exemplo, Contra litteras Petiliani, 401-405; De baptismo, 404) e os pelagianos (por exemplo, De spiritu et littera, 412; Contra Iulianum, 422; De gratia et libero arbitrio, 424-427; e sua última e inacabada obra Contra Iulianum opus imperfectum, que preserva uma parte substancial do tratado Ad Florum, de outro modo perdido, de seu adversário pelagiano Juliano de Aeclanum). Entre as obras filosoficamente mais interessantes estão De utilitate credendi (391-392, uma defesa da fé/crença contra o racionalismo maniqueísta), De natura boni (399, um argumento antimaniqueísta conciso em favor da doutrina de que o mal é uma privação da bondade e não uma substância independente), De natura et gratia (413-417, uma resposta ao tratado De natura, de Pelágio) e De correptione et gratia (426/427, refutando uma versão cristã do “Argumento Preguiçoso” estóico que havia sido apresentado contra a doutrina da graça de Agostinho). No entanto, Agostinho é mais famoso pelos cinco longos tratados com um escopo mais amplo que compôs entre 396 e 426. Confissões (cerca de 396-400), provavelmente sua obra mais original, é uma “filosofia em autobiografia” (Mann 2014) em vez de uma autobiografia em um sentido moderno. Ela mostra como uma vida individual — a de Agostinho — é compreendida pela providência e graça de Deus, bem como por sua criação e sua economia da salvação. De doctrina christiana (iniciado em 396/7, mas concluído apenas em 426/7) é um manual de hermenêutica bíblica e retórica cristã; ele delineia a dicotomia semiótica das “coisas” (res) e — especialmente linguística — dos “sinais” (signa) e avalia criticamente a importância das disciplinas clássicas para o exegeta bíblico. O De trinitate (iniciado em 399 e concluído em 419 ou talvez em 426) impressionou os leitores filosóficos modernos por suas análises investigativas sobre a mente humana como uma “imagem” da Trindade Divina. De Genesi ad litteram (401/2-416) é uma tentativa de obter uma cosmologia filosoficamente justificável a partir dos primeiros capítulos do Gênesis. Aqui, como na maioria das obras de Agostinho, a filosofia é inseparável da exegese bíblica. O monumental tratado apologético De civitate dei (iniciado em 412, dois anos após o saque de Roma, e concluído em 426) argumenta que a felicidade não pode ser encontrada nem na tradição romana nem na filosófica, mas somente por meio da participação na cidade de Deus, cujo fundador é Cristo. Entre muitas outras coisas, ele tem reflexões interessantes sobre o estado secular e sobre a vida do cristão em uma sociedade secular. Os sermões documentam a capacidade de Agostinho de adaptar idéias complexas a um público grande e não muito instruído. Duas longas séries sobre os Salmos (Enarrationes in Psalmos, ca. 392-422) e o Evangelho de João (In Iohannis evangelium tractatus, ca. 406-420) se destacam; uma série de sermões sobre a Primeira Carta de João (In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem, 407) é a discussão mais prolongada de Agostinho sobre o amor cristão. As cartas não são documentos pessoais ou íntimos, mas escritos públicos que fazem parte do ensino de Agostinho e de sua política eclesiástica. Algumas delas atingem a extensão de tratados completos e oferecem excelentes discussões filosóficas (Carta 155 sobre virtude; Carta 120 sobre fé e razão; Carta 147 sobre o “ver” de Deus).
3. Agostinho e a Filosofia
Do pensamento antigo, Agostinho herdou a noção de que a filosofia é o “amor à sabedoria” (Confissões 3.8; De civitate dei 8.1), ou seja, uma tentativa de buscar a felicidade — ou, como os pensadores do final da antiguidade, tanto pagãos quanto cristãos, gostavam de dizer, a salvação — buscando a compreensão da verdadeira natureza das coisas e vivendo de acordo com ela. Ele endossa enfaticamente esse tipo de filosofia, especialmente em seus primeiros trabalhos (cf., por exemplo, Contra Academicos 1.1). Ele está convencido de que o verdadeiro filósofo é um amante de Deus porque a verdadeira sabedoria é, em última instância, idêntica a Deus, um ponto em que ele concorda tanto com Paulo (1 Coríntios 1:24) quanto com Platão (cf. De civitate dei 8.8). É por isso que ele pensa que o cristianismo é “a verdadeira filosofia” (Contra Iulianum 4.72; essa opinião é comum entre os pensadores cristãos antigos, especialmente gregos) e que a verdadeira filosofia e a verdadeira religião (cúltica) são idênticas (De vera religione 8). Em caso de dúvida, a prática tem precedência sobre a teoria: nos diálogos Cassiciacum, Mônica, que representa os santos, mas sem instrução, é creditada com uma filosofia própria (De ordine 1,31-32; 2.45). Ao mesmo tempo, Agostinho critica duramente a “filosofia deste mundo”, censurada no Novo Testamento, que afasta a atenção em Cristo (Colossenses 2:8). Em seus primeiros trabalhos, ele geralmente limita esse veredicto aos sistemas materialistas helenísticos (Contra Academicos 3.42; De ordine 1.32); mais tarde, ele o estende até mesmo ao platonismo, porque este último nega a possibilidade de uma história de salvação (De civitate dei 12.14). O principal erro de que ele acusa os filósofos é a arrogância ou orgulho (superbia), uma censura que não pesa pouco, já que a arrogância é, na visão de Agostinho, a raiz de todos os pecados. Por arrogância, os filósofos presumem ser capazes de alcançar a felicidade por meio de sua própria virtude (De civitate dei 19.4, uma crítica dirigida principalmente contra os estóicos), e até mesmo aqueles entre eles que obtiveram uma visão da verdadeira natureza de Deus e de sua Palavra (ou seja, os platônicos) são incapazes de “retornar” à sua “pátria” divina porque rejeitam orgulhosamente a mediação do Cristo encarnado e, em vez disso, recorrem a demônios orgulhosos e malévolos, ou seja, aos cultos pagãos tradicionais e à teurgia (Confissões 7.27; In evangelium Iohannis tractatus 2.2-4; De civitate dei 10.24-29; Madec 1989). Em suas primeiras obras, Agostinho sintetiza seu próprio programa filosófico com a frase “conhecer Deus e a alma” (Soliloquia 1.7; De ordine 2.47) e promete persegui-lo com os meios fornecidos pela filosofia platônica, desde que não entrem em conflito com a autoridade da revelação bíblica (Contra Academicos 3.43). Desse modo, ele reafirma as antigas questões filosóficas sobre a verdadeira natureza do ser humano e sobre o primeiro princípio da realidade, e ele aduz a idéia neoplatônica fundamental de que o conhecimento de nosso verdadeiro eu implica o conhecimento de nossa origem divina e nos permitirá retornar a ela (cf. Plotino, Enéadas VI.9.7.33-34). Embora essas continuem sendo as características básicas da filosofia de Agostinho ao longo de sua carreira, elas são consideravelmente diferenciadas e modificadas à medida que seu envolvimento com o pensamento bíblico se intensifica e as noções de criação, pecado e graça adquirem maior importância. Agostinho desconhece totalmente a distinção medieval e moderna entre “filosofia” e “teologia”; ambas estão inextricavelmente entrelaçadas em seu pensamento, e não é aconselhável tentar separá-las concentrando-se exclusivamente em elementos considerados “filosóficos” a partir de um ponto de vista moderno.
4. A Tradição Filosófica; o Platonismo de Agostinho
Agostinho nos conta que, aos dezoito anos de idade, o diálogo protréptico de Cícero (agora perdido), Hortensius, o entusiasmou pela filosofia (Confissões 3.7), e que, quando jovem, ele leu as Categorias de Aristóteles (ib. 4.28) e que sua conversão foi grandemente promovida por suas leituras neoplatônicas (ib. 7.13), bem como pelas cartas de Paulo (ib. 7.27; Contra Academicos 2.5). Ele é mais reticente em relação aos textos maniqueístas, dos quais deve ter tido muito conhecimento (van Oort 2012). A partir da década de 390, a Bíblia se torna decisiva para seu pensamento, em particular Gênesis, os Salmos e os escritos paulinos e joaninos (embora sua exegese permaneça filosoficamente impregnada), e sua doutrina madura sobre a graça parece ter crescido a partir de uma nova leitura de Paulo por volta de 395 (veja 7.6 Graça, Predestinação e Pecado Original).
A influência filosófica mais marcante em Agostinho é o neoplatonismo. Ele não especifica os autores e os temas exatos dos “livros dos platônicos” (Confissões 7.13) traduzidos para o latim pelo neoplatonista cristão do século IV Marius Victorinus (ib. 8.3) que ele leu em 386. No século XX, houve um debate contínuo e, às vezes, acalorado sobre se se deveria privilegiar Plotino (que é mencionado em De beata vita 4) ou Porfírio (que é mencionado pela primeira vez em De consensus evangelistarum 1.23, por volta de 400) como a principal influência neoplatônica para Agostinho (para resumos do debate, consulte O’Donnell 1992: II 421-424; Kany 2007: 50-61). Atualmente, a maioria dos estudiosos aceita o compromisso de que os “livros dos platonistas” compreendiam alguns tratados de Plotino (por exemplo, Enéadas I.6, I.2, V.1, VI.4-5) e uma seleção de Porfírio (Sententiae e, talvez, Symmikta Zetemata). De qualquer modo, a importância desse problema não deve ser superestimada, pois Agostinho parece ter continuado suas leituras neoplatônicas após 386. Por volta de 400, ele tinha à sua disposição a Filosofia dos Oráculos, de Porfírio; em De civitate dei 10 (por volta de 417), ele cita sua Carta a Anebo e um tratado anagógico, até então não mencionado, intitulado, na tradução usada por Agostinho, De regressu animae, cuja influência alguns suspeitaram já nas primeiras obras de Agostinho. Para a filosofia da mente na segunda metade do De trinitate, ele pode ter recorrido a textos neoplatônicos sobre psicologia. Embora as fontes exatas do neoplatonismo de Agostinho nos escapem, a crítica das fontes foi capaz de determinar algumas características difundidas de seu pensamento que são, sem dúvida, de origem neoplatônica: a transcendência e a imaterialidade de Deus; a superioridade do imutável sobre o mutável (cf. Platão, Timeu 28d); a hierarquia ontológica de Deus, alma e corpo (Carta 18.2); a incorporeidade e a imortalidade da alma; a dicotomia dos reinos inteligível e sensível (atribuída a Platão em Contra Academicos 3. 37); a onipresença não espacial do inteligível no sensível (Confissões 1.2-4; Carta 137.4) e a presença causal de Deus em sua criação (De immortalitate animae 14-15; De Genesi ad litteram 4. 12.22); a existência de Formas inteligíveis (platônicas) que estão localizadas na mente de Deus e que funcionam como paradigmas das coisas sensíveis (De diversis quaestionibus 46); a interioridade do inteligível e a idéia de que encontramos Deus e a Verdade voltando-nos para dentro (De vera religione 72); a doutrina do mal como falta ou privação da bondade; a compreensão do amor da alma em relação a Deus como um desejo quase erótico pela verdadeira beleza (Confissões 10.38; cf. Rist 1994: 155). Um elemento nitidamente platônico é a noção de ascensão intelectual ou espiritual. Agostinho pensa que, ao nos voltarmos para dentro e para cima, do corpo para a alma (ou seja, do conhecimento dos objetos para o autoconhecimento) e do sensível para o inteligível, finalmente seremos capazes de transcender a nós mesmos e entrar em contato com o ser supremo que não é outro senão Deus e a Verdade e que é mais interno a nós do que o nosso eu mais íntimo (Confissões 3.11; MacDonald 2014: 22-26; o texto bíblico de prova de Agostinho é Romanos 1:20, citado, por exemplo, ib. 7.16). Ascensões desse tipo são onipresentes na obra de Agostinho (por exemplo, De libero arbitrio 2.7-39; Confissões 10.8-38; De trinitate 8-15). É difícil determinar se as versões condensadas nas Confissões (7.16; 7.23; 9.24-26) devem ser lidas como relatos de experiências místicas (Cassin 2017). Uma versão inicial da ascensão agostiniana é o projeto — delineado em De ordine (2.24-52), mas logo abandonado e praticamente retraído em De doctrina christiana — de voltar a mente para o inteligível e para Deus por meio de um cursus nas disciplinas liberais (especialmente matemáticas) (Pollmann & Vessey 2005). Ele é remotamente inspirado pela República de Platão e pode ter tido um precedente neoplatônico (Hadot 2005), embora o uso do trabalho de Varrão sobre as disciplinas não possa ser excluído (Shanzer 2005). Já em De civitate dei 8 (cerca de 417), ele concede, em uma breve doxografia organizada de acordo com os campos tradicionais da física, da ética e da epistemologia, que o platonismo e o cristianismo compartilham algumas percepções filosóficas básicas, a saber, que Deus é o primeiro princípio, que ele é o bem supremo e que ele é o critério do conhecimento (De civitate dei 8.5-8; cf. De vera religione 3-7). Apesar dessas importantes percepções, o platonismo não pode, entretanto, levar à salvação porque é incapaz ou não está disposto a aceitar a mediação de Cristo. Portanto, ele também é filosoficamente defeituoso (De civitate dei 10.32).
Cícero é a principal fonte de Agostinho para as filosofias helenísticas, especialmente o ceticismo acadêmico e o estoicismo. Como parte de sua herança cultural, Agostinho cita Cícero e outros clássicos latinos quando isso se adequa a seus propósitos argumentativos (Hagendahl 1967). Seu ideal inicial do sábio, que é independente de todos os bens que se pode perder contra a própria vontade, foi herdado da ética estóica (De beata vita 11; De moribus 1.5; Wetzel 1992: 42-55). Embora a implicação de que a virtude do sábio garante sua felicidade já nesta vida seja mais tarde rejeitada como ilusória (De trinitate 13.10; De civitate dei 19.4; Retractationes 1.2; Wolterstorff 2012), o mártir cristão pode ser denominado à maneira do sábio estóico, cuja felicidade é imune à tortura (Carta 155.16; Tornau 2015: 278). O passado maniqueísta de Agostinho estava constantemente em sua mente, como mostram suas incessantes polêmicas; seu impacto preciso em seu pensamento é, no entanto, difícil de avaliar (van Oort (ed.) 2012; Fuhrer 2013; BeDuhn 2010 e 2013). A alegação de Juliano de Aeclanum de que, com sua doutrina da predestinação e da graça, Agostinho havia caído novamente no dualismo maniqueísta atraiu alguns críticos modernos, mas Juliano precisou ignorar características essenciais do pensamento de Agostinho (por exemplo, a noção do mal como privatio boni) para tornar sua alegação plausível (Lamberigts 2001).
5. Teoria do Conhecimento
5.1 Ceticismo e Certeza
A obra mais antiga de Agostinho que sobreviveu é um diálogo sobre o ceticismo acadêmico (Contra Academicos ou De Academicis, 386; Fuhrer 1997). Ele a escreveu no início de sua carreira como filósofo cristão a fim de salvar a si mesmo e a seus leitores do “desespero” que resultaria se não fosse possível provar que, contra o desafio cético, a verdade é alcançável e o conhecimento e a sabedoria são possíveis (cf. Retractationes 1.1.1). A sensação de desespero deve ter sido muito real para ele quando, depois de ter rompido com o maniqueísmo, mas ainda incapaz de ver a verdade do cristianismo católico, ele decidiu “reter o consentimento até que alguma certeza se acendesse” (Confissões 5.25). Suas informações sobre ceticismo não vêm de uma “escola” cética contemporânea, que quase não existia, mas da Academica de Cícero e de Hortensius. Grande parte da discussão em Contra Academicos é, portanto, dedicada ao debate entre os estóicos e céticos helenísticos sobre a chamada aparência “apreensiva” ou kataléptica, ou seja, o problema de saber se existem aparências sobre a verdade das quais não podemos nos enganar porque elas são evidentes por si mesmas (Bermon 2001: 105-191). Ao contrário dos estóicos e acadêmicos originais, Agostinho limita a discussão às impressões sensoriais porque quer apresentar o platonismo como uma solução para o problema cético e apontar uma fonte de conhecimento verdadeiro que estavam indisponível para os materialistas helenísticos.
Diferentemente das linhas modernas de argumentação anti-cética, a refutação do ceticismo por Agostinho não visa justificar nossas práticas e crenças comuns. Para refutar a alegação acadêmica de que, uma vez que a pessoa sábia nunca pode ter certeza de que apreendeu a verdade, ela sempre reterá o consentimento para não sucumbir à opinião vazia, ele considera suficiente demonstrar a existência de algum tipo de conhecimento que seja imune à dúvida cética. Sua estratégia, portanto, consiste em apontar 1) a certeza do conhecimento auto-referencial (a pessoa sábia “conhece a sabedoria”, Contra Academicos 3.6; o cético acadêmico “conhece” o critério estóico da verdade, ib. 3.18-21); 2) a certeza do conhecimento privado ou subjetivo (estou certo de que algo parece branco para mim, mesmo que eu não saiba se é realmente branco, ib. 3.26); 3) a certeza de estruturas formais, lógicas ou matemáticas (ib. 3.24-29), cujo conhecimento é possível independentemente do estado mental do conhecedor, enquanto a confiabilidade das impressões sensoriais difere de acordo com o fato de estarmos acordados ou sonhando, sãos ou loucos. Os críticos modernos não ficaram muito impressionados com esses argumentos (por exemplo, Kirwan 1989: 15-34), e um cético antigo teria corretamente objetado que, sendo limitados ao conhecimento subjetivo ou formal, eles não poderiam justificar a reivindicação dos dogmáticos quanto ao conhecimento objetivo da realidade (cf. Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism 1.13). No entanto, esse não é o ponto de vista de Agostinho. Para ele, é importante ter mostrado que, mesmo que concessões máximas sejam feitas ao ceticismo com relação à incognoscibilidade do mundo externo alcançável pelos sentidos, permanece uma área interna de cognição que permite e até garante a certeza. É por isso que Contra Academicos termina com um esboço da epistemologia e da ontologia platônicas e com uma reconstrução idiossincrática, se não totalmente inigualável, da história da Academia, segundo a qual os acadêmicos eram, na verdade, cripto-platônicos que escondiam sua concepção da realidade transcendente e se restringiam a argumentos céticos para combater as escolas materialistas e sensualistas dominantes na época helenística, até que o platonismo autêntico emergiu novamente com Plotino (Contra Academicos 3. 37-43; a história ainda é contada na Carta 118 do ano 410, onde o renascimento do platonismo está, no entanto, ligado ao surgimento do cristianismo). As únicas realidades que satisfazem o critério helenístico de verdade e garantem certeza absoluta por serem autoevidentes são as formas platônicas (Contra Academicos 3.39; cf. De diversis quaestionibus 9; Cary 2008a: 55-60). Os “objetos” do conhecimento que aparecem nos argumentos anticéticos de Agostinho são, portanto, as próprias Formas platônicas ou, pelo menos, indicam a maneira de acessá-las. Isso está de acordo com a tendência inicial de Agostinho de interpretar as Formas, ou pelo menos as mais básicas entre elas, como “números”, ou seja, como estruturas e padrões formais e normativos que governam toda a realidade e nos permitem compreendê-la e avaliá-la (De ordine 2.14; 16; De musica 6.57-58; O’Daly 1987: 101-102; veja também 5.2 Iluminação). Estritamente falando, os argumentos anti-céticos de Agostinho não justificam a afirmação de que o conhecimento pode ser derivado dos sentidos; havendo objetos sensíveis e mutáveis, eles não podem deixar de produzir opinião ou, na melhor das hipóteses, crença verdadeira. O Agostinho posterior, em uma maneira mais generosa de falar, amplia o termo “conhecimento” (scientia, para ser distinguido de “sabedoria”, sapientia) de modo a incluir o que aprendemos por meio da percepção dos sentidos e de testemunhas confiáveis (De trinitate 15.21; cf. De civitate dei 8.7; Retractationes 1.14.3; Siebert 2018; ver 5.3 Fé e Razão).
O argumento anti-cético mais famoso de Agostinho é aquele que é comumente chamado de argumento “semelhante ao cogito” porque é semelhante (e provavelmente o inspirou) ao Cogito de Descartes (Matthews 1992; Menn 1998; Fuchs 2010). Assim como o de Descartes, o cogito de Agostinho estabelece uma área imune à dúvida cética ao inferir da minha consciência da minha própria existência a verdade da proposição “eu existo”. Mesmo que eu estivesse em erro ao proferir essa proposição, ainda seria verdade que eu, que estou em erro, existo (De civitate dei 11.26: si enim fallor, sum; para a reconstrução exata desse argumento, cf. Horn 1995: 81-87; Matthews 2005: 34-42). O argumento ainda não aparece em Contra Academicos, mas é facilmente reconhecido como um desenvolvimento do argumento do conhecimento subjetivo (Contra Academicos 3.26); Agostinho o considera uma refutação válida do ceticismo desde suas primeiras obras (De beata vita 7) até as mais tardias (De trinitate 15.21; para mais evidências, veja Soliloquia 2.1; De duabus animabus 13; De libero arbitrio 2.7; De vera religione 73; Confissões 7.5; 13.12). O escopo do argumento em Agostinho é ao mesmo tempo mais amplo e mais restrito do que em Descartes. O cogito agostiniano não tem a importância sistemática de sua contraparte cartesiana; não há nenhuma tentativa de fundar uma filosofia coerente e abrangente com base nele. Em algumas ocasiões, entretanto, ele funciona como ponto de partida para a ascensão agostiniana a Deus (De libero arbitrio 2.7, em que a ascensão leva a uma compreensão de Deus como verdade e sabedoria imutáveis; para uma versão condensada, cf. De vera religione 72-73, em que Agostinho chega a fazer da Verdade supra-racional a fonte e o critério da verdade do próprio cogito). O exemplo mais impressionante é a segunda metade do De trinitate. Aqui, a tentativa de alcançar uma compreensão racional do mistério da Trindade por meio de uma investigação sobre a estrutura da mente humana começa com uma análise do inalienável amor-próprio e da autoconsciência da mente (ver 6.2 A Mente Humana Como Imagem de Deus; Agostinho, no entanto, não afirma que a certeza da mente sobre si mesma implica uma certeza semelhante sobre a natureza de Deus). O argumento do cogito de Agostinho não se limita à epistemologia, mas também pode ser empregado em um contexto ético porque prova não apenas minha existência e meu pensamento (e, por implicação, meu estar vivo), mas também meu amor e minha vontade. Estou tão certo de que desejo quanto estou certo de que existo e vivo, e minha vontade é tão inegavelmente minha quanto minha existência e minha vida. Portanto, minhas volições são imputáveis a mim, e sou eu quem é responsável por minhas escolhas (e não alguma substância maligna presente em minha alma, mas estranha ao meu próprio ser, como, na interpretação de Agostinho, o dualismo maniqueísta o diria; cf. De duabus animabus 13; Confissões 7.5; De civitate dei 5.10).
5.2 Iluminação
A teoria do conhecimento de Agostinho — sua chamada doutrina da iluminação — é uma epistemologia nitidamente não empirista baseada em uma leitura provavelmente neoplatônica da doutrina da reminiscência de Platão (Burnyeat 1987; MacDonald 2012b; King 2014a: 147-152; Karfíková 2017). Como Platão e seus seguidores, Agostinho pensa que o conhecimento verdadeiro requer conhecimento de primeira mão; informações de segunda mão, por exemplo, de testemunhos confiáveis, podem produzir crenças verdadeiras e até justificáveis, mas não conhecimento no sentido estrito. No caso de objetos sensíveis — que, estritamente falando, não admitem conhecimento algum, mas apenas opinião —, esse conhecimento de primeira mão é possível por meio da percepção sensorial. A cognição de objetos inteligíveis, no entanto, não pode ser alcançada empiricamente por meio de abstração nem transmitida a nós linguisticamente por um professor humano (ver 5.4 Linguagem e Signos); em vez disso, essa cognição exige atividade intelectual pessoal que resulta em um insight intelectual, que julgamos por um critério que não encontramos em nenhum outro lugar a não ser em nós mesmos. O paradigma desse tipo de cognição são as verdades matemáticas e lógicas e as intuições morais fundamentais, que entendemos não porque acreditamos em um professor ou em um livro, mas porque as vemos por nós mesmos (De magistro 40, cf. De libero arbitrio 2.34). A condição de possibilidade e o critério de verdade desse insight intelectual não é outro senão Deus (uma opinião atribuída, com aprovação explícita, aos platonistas em De civitate dei 8.7), que, à maneira de um princípio imaterial neoplatônico, é tanto imanente quanto transcendente em relação à nossa alma. Agostinho explica principalmente essa teoria platonizante do conhecimento a priori por meio de duas imagens marcantes: o professor interno e a iluminação. A primeira é introduzida no diálogo De magistro (por volta de 390) e permanece frequente especialmente nos sermões (por exemplo, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem 3.13; Fuhrer 2018b); de acordo com ela, Cristo está presente em nossas almas e, ao “presidi-las” como um professor, garante a veracidade de nosso entendimento (De magistro 38-39, cf. Efésios 3:17 para a imagem e, para a ideia de que a verdade “vive no homem interior”, De vera religione 72). A última aparece pela primeira vez em Solilóquia (1.12-15) e é onipresente nos escritos de Agostinho (cf. especialmente De trinitate 12.24). Em última análise, ela é derivada da Analogia do Sol na República de Platão (508a-509b; cf. Rist 1994: 78-79). Em Solilóquia, Agostinho diz, de uma maneira que lembra fortemente Platão, que assim como o sol é visível e ilumina os objetos da visão para permitir que o olho os veja, Deus é inteligível e ilumina os objetos inteligíveis (que aqui são identificados com os objetos das disciplinas liberais e subordinados a Deus) para permitir que a razão (o “olho” da alma) ative sua capacidade de intelecção. A versão posterior em De trinitate apresenta explicitamente a iluminação divina como uma alternativa à reminiscência platônica e a situa na estrutura de uma teoria da criação. Aqui Agostinho diz que a mente humana foi criada por Deus de modo a estar “conectada” à realidade inteligível “de baixo para cima” (subiuncta) e com uma capacidade (capacitas) que lhe permite “ver” os inteligíveis à luz da verdade inteligível, assim como o olho é, por natureza, capaz de ver as cores à luz do sol. Obviamente, “capacidade”, nesse caso, não significa pura potencialidade (como na teoria da tabula rasa endossada pelo interlocutor de Agostinho, Euodius, em De quantitate animae 34), mas compreende pelo menos o conhecimento implícito ou latente dos padrões morais e epistemológicos. Ambas as imagens, se lidas corretamente, devem impedir o mal-entendido de que a gnoseologia de Agostinho torna o conhecimento humano inteiramente dependente da agência divina, com o ser humano se tornando meramente um receptor passivo da revelação (cf. Gilson 1943: cap. 4 e Lagouanère 2012: 158-180 para os debates sobre a iluminação agostiniana na filosofia medieval e moderna). A cognição não resulta simplesmente da presença de Cristo em nossa alma, mas de nossa “consulta” ao mestre interior, ou seja, nosso teste de proposições que afirmam transmitir uma verdade sobre a realidade inteligível (ou mesmo uma verdade geral sobre objetos sensíveis, cf. Carta 13.3-4) em comparação com os padrões internos que possuímos graças à presença de Cristo (De magistro 37-38; essa maneira de “consultar” a verdade interior é repetidamente dramatizada em Confissões, por exemplo, 11.10; 11.31; Cary 2008b: 100). E, embora todo ser humano seja “iluminado” pela luz divina, pelo menos internamente, de modo a ser capaz de fazer julgamentos verdadeiros sobre o certo e o errado ou sobre o bem e o mal, para desenvolver essas intuições naturais até o pleno conhecimento ou sabedoria e para ser capaz de realmente levar uma vida virtuosa, precisamos nos converter a Deus, a “fonte” da luz (De trinitate 14.21). Assim, embora todos os seres humanos sejam, por natureza, capazes de acessar a verdade inteligível, somente aqueles que têm uma vontade suficientemente boa conseguem fazê-lo (De magistro 38) — presumivelmente aqueles que endossam a religião cristã e vivem de acordo com ela. Esse forte elemento voluntário conecta intimamente a epistemologia de Agostinho com sua ética e, por fim, com sua doutrina da graça (sobre a estrutura paralela da cognição e da graça em Agostinho, veja Lorenz 1964). Como toda ação humana, a busca pela sabedoria ocorre sob as condições de um mundo decaído e encontra as dificuldades e os obstáculos aos quais a humanidade está sujeita por causa do pecado original.
A fim de ilustrar o que ele quer dizer com “ver as coisas por nós mesmos” “à luz da verdade”, Agostinho frequentemente cita o exemplo do diálogo maiêutico socrático (De magistro 40; cf. De immortalitate animae 6; De trinitate 12. 24) e, em algumas passagens de sua obra inicial, ele parece subscrever a doutrina platônica da reminiscência (que lhe era familiar por Cícero, Disputas Tusculanas 1.57) de modo a implicar a preexistência da alma (Soliloquia 2.35, retratada em Retractationes 1.4.4; De immortalitate animae 6; De quantitate animae 34, retratada em Retractationes 1.8.2). É difícil dizer se o Agostinho inicial acreditava literalmente na reminiscência e na pre-existência (Karfíková 2017; O’Daly 1987: 70-75; 199-207), principalmente porque ele estava ciente de que alguns neoplatônicos interpretavam a reminiscência platônica como uma atualização de nosso conhecimento sempre presente, mas latente, do inteligível, e não como uma rememoração de nosso conhecimento passado dele (Carta 7.2, cf. Plotino, Enéadas IV.3.25.31-33; O’Daly 1976). Se, como no De immortalitate animae 6, a reminiscência for usada para provar a imortalidade da alma (como aconteceu no Fedro), é difícil ver como a preexistência não deveria estar implícita. Em todo caso, é impreciso dizer, como às vezes se diz, que Agostinho abandonou a teoria da reminiscência porque percebeu que a pre-existência estava em desacordo com a fé cristã. No De civitate dei (12.14 etc.), Agostinho rejeita enfaticamente a metempsicose platônico-pitagórica, ou a transmigração das almas, por considerá-la incompatível com a felicidade eterna e a economia da salvação, e no De trinitate (12.24) a versão menoniana da teoria da reminiscência, que implica transmigração, é rejeitada em favor da iluminação. No entanto, é uma falácia afirmar que a reminiscência implica transmigração. O Agostinho inicial pode ter acreditado na pre-existência (talvez simplesmente como um corolário da imortalidade da alma), mas não há evidências de que ele acreditava na transmigração das almas; por outro lado, sua rejeição da transmigração não impediu que até mesmo o Agostinho tardio considerasse a pre-existência — pelo menos teoricamente — como uma opção para a origem da alma (Carta 143.6 de 412; cf. 6.1 A Alma como um Ser Criado).
5.3 Fé e Razão
Enquanto a discussão moderna tende a considerar a fé e a razão como caminhos alternativos ou até mesmo mutuamente exclusivos para a verdade (religiosa), no programa epistemológico e exegético de Agostinho as duas são inseparáveis. Ele rejeita o racionalismo dos filósofos e, especialmente, dos maniqueus como um excesso de confiança injustificado nas habilidades da razão humana resultante do orgulho pecaminoso e como uma negligência arrogante da revelação de Cristo nas Escrituras (De libero arbitrio 3.56; 60; Confissõess 3.10-12). Contra o fideísmo que encontrou em alguns círculos cristãos (cf. Carta 119 de Consentius a Agostinho), ele afirmou que era bom e natural empregar a capacidade racional com a qual fomos criados para buscar uma compreensão das verdades que aceitamos a partir da autoridade da revelação bíblica, embora uma verdadeira compreensão de Deus só seja possível após esta vida, quando O virmos “face a face” (Carta 120.3-4). Nesse programa epistemológico e exegético, que desde Anselmo de Canterbury tem sido apropriadamente rotulado como “fé em busca de entendimento” (cf. De trinitate 15.2: fides quaerit, intellectus invenit) ou “entendimento da fé” (intellectus fidei), a fé é anterior ao entendimento no tempo, mas posterior a ele em importância e valor (De ordine 2.26; De vera religione 45; Carta 120.3; van Fleteren 2010). O primeiro passo em direção à perfeição é acreditar nas palavras da Escritura; o segundo é perceber que as palavras são sinais externos de uma realidade interna e inteligível e que elas nos admoestam a nos voltarmos para a verdade interna e a “consultá-la” para alcançarmos o verdadeiro entendimento e, consequentemente, a boa vida (cf. 5.2 Iluminação; 5.4 Linguagem e Signos). O argumento filosófico pode ser útil nesse processo; no entanto, tal como Agostinho observa já em Contra Academicos (3.43), ele precisa estar vinculado à autoridade da Escritura e do Credo para evitar que a fragilidade da razão humana se desvie (cf. Confissões 7.13). O Agostinho dos primeiros diálogos parece ter alimentado a idéia elitista de que aqueles educados nas artes liberais e capazes da ascensão intelectual neoplatônica podem, na verdade, superar a autoridade e alcançar uma compreensão plena do divino já nesta vida (De ordine 2.26, mas contraste com ib. 2.45 sobre Mônica). Em sua obra posterior, ele abandona essa esperança e enfatiza que durante esta vida, inevitavelmente caracterizada pelo pecado e pela fraqueza, todo ser humano continua necessitando da orientação da autoridade revelada de Cristo (Cary 2008b: 109-120). Portanto, a fé não é apenas uma categoria epistemológica, mas também ética; ela é essencial para a purificação moral pela qual precisamos passar antes de podermos esperar até mesmo um vislumbre do verdadeiro entendimento (Soliloquia 1.12; De diversis quaestionibus 48; De trinitate 4.24; Rist 2001). Em grande parte, a defesa de Agostinho da fé como uma categoria epistêmica válida se baseia em uma reabilitação da crença verdadeira frente à tradição filosófica (platônica e helenística). Agostinho distingue perfeitamente a “crença” (fides, a palavra que ele também usa para a fé religiosa), que implica a consciência do crente de que ele não sabe, da “opinião” (opinio), definida pelos filósofos como a ilusão de saber o que de fato não se sabe (De utilitate credendi 25; Carta 120.3). Sem a crença no primeiro sentido, teríamos que admitir que somos ignorantes de nossa própria linhagem (Confissões 6.7) e dos objetos das ciências históricas e empíricas, das quais, segundo Agostinho afirma em uma crítica ao platonismo, o conhecimento em primeira mão raramente é possível (De trinitate 4.21). A crença de que uma pessoa que não vimos foi ou é justa pode desencadear nosso amor fraterno por ela (De trinitate 8.7; Bouton-Touboulic 2012: 182-187; por outro lado, Agostinho pede àqueles que estão unidos a ele no amor fraterno que acreditem no que ele lhes conta sobre sua vida, Confissões 10.3) E, obviamente, os eventos cruciais da história da salvação, a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, não podem ser conhecidos, mas apenas acreditados como eventos históricos, embora, como signos, eles possam levar à compreensão, levando-nos a uma verdade inteligível (De trinitate 13.2). Assim, embora, sem dúvida, a fé na revelação preceda o discernimento racional de seu verdadeiro significado, a decisão sobre a autoridade de quem acreditar e quem aceitar como testemunha confiável é, por si só, razoável (De vera religione 45; Carta 120.3). Mesmo assim, é claro que a crença pode ser equivocada (De trinitate 8.6). Na vida cotidiana, isso é inevitável e, na maioria das vezes, não é problemático. Um problema mais sério é a justificação da crença na Escritura, que, para Agostinho, é a tradição e a autoridade (auctoritas, não potestas) da Igreja (Contra epistulam fundamenti 5.6; Rist 1994: 245).
5.4 Linguagem e Signos
A filosofia da linguagem de Agostinho é tanto uma dívida com as teorias helenísticas e romanas da gramática, de influência estóica, como altamente inovadora (Rist 1994: 23-40; King 2014b). Ele segue os estóicos na distinção entre o som de uma palavra, seu significado e o que ela representa (De dialectica 5; De quantitate animae 66; cf. Sextus Empiricus, Adversus mathematicos 8.11-12 = 33B Long-Sedley), mas parece ter sido o primeiro a interpretar a linguagem como um sistema de signos e a integrá-la em uma semiótica geral (Fuhrer 2018a: 1696; Cary 2008b; Mayer 1969 e 1974). Em seu manual de exegese bíblica e retórica cristã, De doctrina christiana (1.2; 2.1-4), Agostinho divide o mundo em “coisas” e “signos” (ou seja, coisas que, além de serem o que são, significam outras coisas) e, ademais, distingue entre signos “naturais” ou involuntários (por exemplo, fumaça significando fogo) e signos voluntários ou “dados” (uma distinção semelhante, mas não equivalente, à discussão mais antiga sobre natureza ou convenção como a origem da linguagem). A linguagem é definida como um sistema de signos dados por meio dos quais o falante significa coisas ou seus pensamentos e emoções (Enchiridion 22). Na estrutura exegética do De doctrina christiana, a “coisa” significada pelos signos verbais da Escritura é Deus, o Ser Supremo. Agostinho, portanto, começa com um esboço de sua teologia e ética centrada nas noções de amor a Deus e ao próximo antes de expor sua hermenêutica bíblica que, mais uma vez, coloca o amor como critério de adequação exegética (Pollmann 1996; Williams 2001). As palavras da Bíblia são signos externos destinados a nos levar ao fenômeno mais interno do amor e, em última análise, a Deus, que está para além de toda linguagem e pensamento. Isso pode ser generalizado para o princípio de que os signos verbais e não verbais externos operam em um nível ontológico inferior ao da verdade interior e inteligível que tentam significar e que são superados pelo conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento não dos signos, mas das coisas. Isso se aplica não apenas às palavras, mesmo às palavras das Escrituras, mas também aos sacramentos e à Encarnação de Cristo (Contra epistulam fundamenti 36.41). A discussão mais constante de Agostinho sobre a linguagem, o diálogo inicial De magistro, pergunta como aprendemos coisas com as palavras e relaciona a significação linguística à epistemologia da iluminação (Nawar 2015). Depois de uma longa discussão sobre como os signos verbais significam coisas ou estados mentais e como eles se relacionam com outros signos, conclui-se, de modo surpreendente, que não aprendemos nada com os signos porque, para entender o significado de um signo, já precisamos estar familiarizados com a coisa significada. Em última análise, essa é uma versão do paradoxo de Mênon, e Agostinho o resolve introduzindo as metáforas do professor interno e da iluminação, ou seja, por meio de uma teoria internalista de aprendizagem reconhecível como uma interpretação neoplatônica da anamnese platônica (De magistro 38-40). Isso não quer dizer que as palavras sejam inúteis. Elas nos informam sobre coisas que são inacessíveis ao conhecimento direto e, portanto, geram crenças verdadeiras; o mais importante é que elas nos aconselham a “consultar” o professor interno e a entender as coisas por nós mesmos (esse, de acordo com Agostinho, é o objetivo do diálogo socrático). Isso vale até mesmo para a aquisição da própria linguagem: Entendemos o signo “capturar-pássaros”, não simplesmente por nos mostrar uma pessoa engajada nessa atividade e nos dizer que ela é significada por esse nome, mas por observá-la e descobrir por nós mesmos o que significa “capturar-pássaros” (ib. 32; sobre isso e sobre a crítica de Wittgenstein ao que ele considerava ser a visão de Agostinho sobre a aquisição da linguagem, ver Matthews 2005: 23-33). Nos últimos livros do De trinitate e nos Sermões sobre a Trindade, Agostinho frequentemente se refere a um fenômeno chamado “palavra interior”, que ele usa para explicar a relação da Palavra interior trinitária ou Logos do Prólogo de João (João 1:1) com o Cristo encarnado. Assim como a palavra falada significa um conceito que formamos em nossa mente e o comunicamos aos outros, Cristo encarnado significa o Logos divino e nos admoesta e nos ajuda a nos voltarmos para Ele (cf. De trinitate 15.20; De doctrina christiana 1.12; Sermão 119.7; 187.3). No De trinitate, Agostinho expande isso para uma teoria sobre como a palavra ou conceito interior é formado (14.10; 15.25; cf. 15.43). A palavra interior é gerada quando atualizamos algum conhecimento latente ou implícito que está armazenado em nossa memória. Ela não é um signo, nem de natureza linguística (Agostinho insiste que não é nem latim, nem grego, nem hebraico), mas parece ser uma espécie de insight intelectual a-temporal que transcende a linguagem (cf. De catechizandis rudibus 3). Em termos adequados, então, a teoria da palavra interior não é uma teoria linguística de modo algum.
6. Antropologia: Deus e a Alma; Alma e Corpo
6.1 A Alma como um Ser Criado
Como a maioria dos filósofos antigos, Agostinho pensa que o ser humano é um composto de corpo e alma e que, dentro desse composto, a alma — concebida como o elemento que proporciona a vida e o centro da consciência, da percepção e do pensamento — é, ou deveria ser, a parte dominante. A alma racional deve controlar os desejos e as paixões sensuais; ela pode se tornar sábia se se voltar para Deus, que é, ao mesmo tempo, o Ser Supremo e o Bem Supremo. Em sua fase maniqueísta, ele considerava Deus e a alma como entidades materiais, sendo a alma, na verdade, uma porção de Deus que havia caído no mundo corpóreo, onde permaneceu como uma estranha, até mesmo para seu próprio corpo (De duabus animabus 1; Confissões 8.22). Depois que suas leituras platonistas em Milão lhe forneceram os meios filosóficos adequados para pensar sobre a realidade imaterial e não-espacial (Confissões 7.1-2; 7.16), ele substituiu essa opinião, que mais tarde representou como um dualismo bastante grosseiro, por uma hierarquia ontológica na qual a alma, que é mutável no tempo, mas imutável no espaço, ocupa uma posição intermediária entre Deus, que é um ser imaterial totalmente imutável (cf. MacDonald 2014), e os corpos, que estão sujeitos a mudanças temporais e espaciais (Carta 18.2). A alma é de origem divina e até mesmo semelhante a Deus (De quantitate animae 2-3); ela não é divina em si mesma, mas criada por Deus (o discurso sobre a divindade da alma nos diálogos Cassiciacum parece ser um elemento tradicional ciceroniano, cf. Cary 2000: 77-89; para uma interpretação plotiniana, veja O’Connell 1968: 112-131). Em De quantitate animae, Agostinho argumenta amplamente que a “grandeza” da alma não se refere à extensão espacial, mas aos seus poderes vivificantes, perceptivos, racionais e contemplativos que permitem que ela se aproxime de Deus e que são compatíveis com a imaterialidade e até mesmo a pressupõem (especialmente ib. 70-76; Brittain 2003). Uma definição inicial de alma como “uma substância racional apta a governar um corpo” (ib. 22) ecoa as visões platônicas (cf. a definição do ser humano como “uma alma racional com um corpo” em In Iohannis evangelium tractatus 19.15; O’Daly 1987: 54-60). Mais tarde, quando a ressurreição do corpo se torna mais importante para ele, Agostinho enfatiza — contra a alegada afirmação de Porfírio de que, para ser feliz, a alma deve se libertar de qualquer coisa corpórea — que é natural e até mesmo desejável que uma alma governe um corpo (De Genesi ad litteram 12.35.68), mas ele continua convencido de que a alma é uma substância incorpórea e imortal que pode, em princípio, existir independentemente de um corpo. Em Soliloquia (2.24), seguindo a tradição de Platão e das Disputas Tusculanas de Cícero, ele propõe uma prova para a imortalidade da alma que ele expressamente introduz como uma alternativa à prova final do Fedro (Soliloquia 2.23, cf. Fedro 102d-103c). A prova é construída a partir de elementos da Isagoge de Porfírio e de seu Comentário sobre as Categorias de Aristóteles (textos bastante elementares que Agostinho teria encontrado muito antes de suas leituras platônicas em Milão) e parece ser original dele (Tornau 2017). Ele diz que, como a verdade é ao mesmo tempo eterna e está na alma como seu sujeito, segue-se que a alma, que é sujeito da verdade, também é eterna. Isso [aparentemente] é falacioso, porque se a verdade é eterna independentemente da alma, ela não pode estar na alma como seu sujeito (ou seja, como uma propriedade) e, se for uma propriedade da alma, não pode garantir sua eternidade. No rascunho incompleto de um terceiro livro de Soliloquia, preservado sob o título De immortalitate animae, Agostinho, portanto, modifica a prova e argumenta que a alma é imortal por causa da presença causal inalienável de Deus (= Verdade) nela. Acontece, porém, que mesmo que essa versão da prova seja bem-sucedida, ela só demonstra a existência eterna da alma como uma alma (racional), mas não sua sabedoria eterna (De immortalitate animae 19; Zum Brunn 1969: 17-41 [1988: 9-34]), na esperança de que os interlocutores tenham se proposto a provar a imortalidade da alma em primeiro lugar (Soliloquia 2.1). Depois do De immortalitate animae, Agostinho nunca mais voltou à sua prova. Mas também não a renegou; já no De trinitate (13.12), ele endossa o axioma platônico de que a alma é imortal por natureza e que sua imortalidade pode, em princípio, ser provada por meios filosóficos. Ele também defende sua convicção de que a imortalidade é uma condição necessária para a felicidade, mas insiste que não é uma condição suficiente, uma vez que a imortalidade e a miséria são compatíveis (cf. De civitate dei 9.15 sobre a miséria dos demônios perversos). A verdadeira felicidade só será alcançada na vida após a morte como um dom da graça de Deus, quando, graças à ressurreição do corpo, não apenas a alma, mas o ser humano como um todo viverá para sempre. A ressurreição, no entanto, não é passível de prova racional; é uma promessa de Deus que deve ser acreditada com base na autoridade das Escrituras (De trinitate ib.).
Juntamente com uma noção essencialmente platônica da alma, Agostinho herda os problemas clássicos do dualismo platônico alma-corpo. Como a alma pode cumprir sua tarefa de “governar” o corpo (cf. De quantitate animae 22) se ela mesma é incorpórea? E como os aspectos corpóreos e psíquicos estão relacionados entre si em fenômenos que envolvem tanto o corpo quanto a alma, especialmente se, assim como as paixões e os desejos, eles são moralmente relevantes? Esses problemas são ainda mais complicados pelo axioma platônico de que as entidades incorpóreas, sendo ontologicamente anteriores às corpóreas, não podem ser causalmente afetadas por elas. A solução de Agostinho está em dívida com a estratégia de Plotino de tornar a relação da alma com as afecções corporais essencialmente cognitiva (O’Daly 1987, 84-87; Hölscher 1986, cap. 2.2.1; Nash 1969, 39-59; Bermon 2001: 239-281). Com Plotino, ele insiste que a percepção dos sentidos não é uma afecção que a alma sofre passivamente (como o materialismo estóico queria que fosse, onde a percepção sensorial era interpretada como um tipo de impressão na alma), mas sua consciência ativa das afecções sofridas pelo corpo (De quantitate animae 41; 48; De Genesi ad litteram 7.14.20; Plotino, Enéadas I.4.2.3-4; Brittain 2002: 274-282). Em De quantitate animae, a estrutura dessa teoria é o argumento geral de que a relação da alma com o corpo deve ser concebida não em termos de espaço, mas de “poder” (veja acima). Em De musica (6.11), isso é desenvolvido na idéia de que a percepção dos sentidos é a consciência da alma das modificações de suas próprias atividades formativas e vivificantes que resultam de sua reação aos impulsos externos sofridos pelo corpo. Além dos cinco sentidos usuais, Agostinho identifica uma faculdade sensorial que relaciona os dados dos sentidos entre si e os julga esteticamente (mas não moralmente; De musica 6.5; 19); em De libero arbitrio (2.8-13), ele chama isso de “sentido interno” (sobre o contexto aristotélico, cf. O’Daly 1987: 102-105).
No neo-platonismo, discutia-se como a alma, sendo imortal, imaterial e ontologicamente superior ao corpo, veio a ser incorporada. As opções básicas, presentes já nos diálogos de Platão, eram que a alma desencarnada havia “caído” no mundo corpóreo por causa de algum erro (como no mito do Fedro) ou que havia sido enviada ao cosmos por Deus para lhe conferir vida e ordem (como no Timeu; para harmonizar as exegeses neo-platônicas, consulte Plotino, Enéadas IV.8, e Macrobius, Comentário sobre o Somnium Scipionis de Cícero 1.10-14). Agostinho aborda a questão no horizonte de sua doutrina da criação e, no período da controvérsia pelagiana, do debate sobre a transmissão do pecado original (consulte 9. Gênero, Mulheres e Sexualidade). Em De libero arbitrio (3.56-59), ele distingue as três opções de criacionismo (Deus cria uma nova alma para cada corpo recém-nascido), traducianismo (a alma é transmitida dos pais para a criança como propriedades corpóreas) e preexistência, que é subdividida nas opções platônicas de descendência voluntária ou enviada por Deus. Depois do ano 412, todas essas opções voltam à tona novamente (Cartas 143.5-11; 166; 190; e o tratado De anima et eius origine). Agostinho não descarta nenhuma delas oficialmente, exceto a noção, erroneamente associada ao Origenismo, que era considerado uma heresia na época, de que a incorporação era uma punição por um pecado cometido pela alma preexistente (De civitate dei 11.23). Na prática, ele reduz o debate à alternativa entre o criacionismo e o traducianismo, que parecem ter sido as únicas opções levadas a sério por seus contemporâneos cristãos. Agostinho se recusou a tomar uma posição até o fim de sua vida, provavelmente porque nenhuma das opções era realmente adequada aos seus propósitos (Rist 1994: 317-320; O’Connell 1987; Mendelson 1998): O criacionismo tornava o pecado original muito difícil de ser explicado; o traducianismo era funcional nesse aspecto, mas era uma teoria materialista e até biologista que ia contra o platonismo de Agostinho e estava ainda mais comprometida porque havia sido criada por seu antecessor africano, Tertuliano (d. c. 220 d.C.), um corporealista estoicista que terminou sua vida como herege (Rist 1994: 123).
6.2 A Mente Humana como Imagem de Deus
Agostinho emprega o que podemos chamar de sua filosofia da mente de maneira mais completa em sua grande obra sobre a teologia trinitária nicena, De trinitate. Tendo removido os aparentes obstáculos bíblicos à igualdade e consubstancialidade das três pessoas divinas (livros 1-4) e tendo estabelecido a gramática, por assim dizer, do discurso adequado sobre a Trindade ao distinguir proposições absolutas e relativas sobre Deus e as três Pessoas (livros 5-7; King 2012), ele se volta para uma análise da mente humana como uma imagem de Deus (livros 8-15; Brachtendorf 2000; Ayres 2010; Bermon & O’Daly (eds.) 2012). A base para essa mudança é, obviamente, Gênesis 1:26-27. Agostinho segue uma tradição judaica e patrística de longa data, familiar a ele desde Ambrósio, segundo a qual a qualificação bíblica do ser humano como uma imagem de Deus não se refere ao corpo vivo (uma leitura literalista vulnerável à acusação maniqueísta de antropomorfismo, cf. Confissões 6.4), mas ao que é especificamente humano, ou seja, o “homem interior” (2 Coríntios 4:16, citado, por exemplo, em De trinitate 11.1) ou a mente (mens). Assumindo, de maneira platônica, que “imagem”, nesse caso, não significa meramente uma analogia, mas um efeito causal do original que reflete as características essenciais do último em um nível ontológico inferior, ele examina a mente humana em busca de estruturas triádicas que atendam aos requisitos nicenos de igualdade e consubstancialidade e que possam, assim, dar uma — ainda que fraca — compreensão acerca do Deus Triúno. O padrão geral de seu argumento é a ascensão agostiniana do externo para o interno e dos sentidos para Deus; mas como a razão humana é, seja por natureza ou devido ao seu estado decaído, dificilmente capaz de conhecer Deus, Agostinho desta vez é obrigado a interromper e reiniciar a ascensão várias vezes. O livro final mostra que o exercício de analisar a mente humana tem valor preparatório para o nosso pensamento sobre a Trindade, mas não produz um insight sobre o divino pelo simples fato de ser transferido para ele (De trinitate 15.10-11). Os três elementos que Agostinho discerne em todos os nossos atos cognitivos, desde a percepção dos sentidos até a razão teórica ou a contemplação, são: [1] um objeto que é externo à mente (como na percepção sensorial) ou interno a ela, caso em que é uma imagem ou um conceito armazenado em nossa memória; [2] uma faculdade cognitiva que deve ser ativada ou “formada” pelo objeto para que a cognição ocorra; [3] um elemento voluntário ou intencional que faz com que a faculdade cognitiva se volte para seu objeto de modo a ser realmente formada por ele. O último elemento garante o caráter ativo da percepção e da intelecção, mas também dá peso à idéia de que não conhecemos um objeto a menos que conscientemente direcionemos nossa atenção para ele (MacDonald 2012b). Embora esse padrão triádico seja operativo em todos os níveis da cognição humana, Agostinho argumenta que somente o autoconhecimento intelectual da mente no nível da razão contemplativa (sua “memória de si mesma, conhecimento de si mesma e amor a si mesma”) se qualifica como uma imagem de Deus porque somente aqui os três elementos estão tão intimamente relacionados entre si quanto no dogma niceno e porque são tão inalienáveis quanto a presença imediata da mente para si mesma (De trinitate 14.19). Essa idéia é cuidadosamente preparada no Livro 10, que contém um dos argumentos mais notáveis de Agostinho para a substancialidade da mente e sua independência do corpo (Stróżyński 2013; Brittain 2012a; Matthews 2005: 43-52; Bermon 2001, 357-404). Agostinho começa argumentando (de uma maneira que lembra seu argumento do tipo cogito; ver 5.1 Ceticismo e Certeza) que a mente sempre já conhece a si mesma porque está sempre presente e, portanto, consciente de si mesma. Essa autoconsciência pré-reflexiva é pressuposta por todo ato de cognição consciente. Se for assim, no entanto, o comando délfico “Conhece-te a ti mesmo” não pode significar que a mente deve se familiarizar consigo mesma como se fosse desconhecida antes, mas sim que ela deve se tornar consciente do que sabia sobre si mesma o tempo todo e distingui-lo do que não sabe sobre si mesma. Como a mente, em seu estado decaído, está profundamente imersa na realidade sensível, ela tende a esquecer o que realmente é e o que sabe que é e se confunde com as coisas às quais atribui maior importância, ou seja, os objetos sensíveis que lhe dão prazer. O resultado são teorias materialistas sobre a alma, que, portanto, derivam de uma moralidade falha (De trinitate 10.11-12). No entanto, se seguir o comando délfico, a mente perceberá que sabe com certeza que existe, pensa, deseja etc., ao passo que, na melhor das hipóteses, pode apenas acreditar que é ar, fogo ou cérebro (ib. 10.13). E como a substância ou essência da mente não pode ser outra coisa senão o que ela sabe com certeza sobre si mesma, segue-se que nada material é essencial para a mente e que sua essência deve ser buscada em seus atos mentais (ib. 10.16). O auto-conhecimento pleno é alcançado, então, quando a auto-consciência inalienável da mente (se nosse, “conhecer a si mesmo”) é atualizada para o “pensamento próprio” consciente (se cogitare). Como isso se relaciona com a presença pré-reflexiva da mente para si mesma não está totalmente claro (para problemas de interpretação, veja, por exemplo, Horn 2012; Brittain 2012b), mas Agostinho parece pensar que não apenas o auto-pensamento intelectual da mente, mas também sua auto-consciência imediata é triadicamente estruturada e uma imagem do Deus Triúno (De trinitate 14.7-14). Além disso, o lado ético da teoria não deve ser negligenciado. Como um forte elemento voluntário está presente e é necessário para um ato de cognição, os objetos (imaginações, pensamentos) que conhecemos são moralmente relevantes e indicativos de nossos amores e desejos. E embora a estrutura triádica da mente seja sua própria essência e, portanto, inalienável, Agostinho reitera que a mente é criada à imagem de Deus, não porque seja capaz de auto-conhecimento, mas porque tem o potencial de se tornar sábia, ou seja, de se lembrar, conhecer e amar a Deus, seu criador (ib. 14.21-22).
7. Ética
7.1 Felicidade
A estrutura básica da ética de Agostinho é a do antigo eudaimonismo (Holte, 1962), mas ele adia a felicidade para a vida após a morte e culpa os antigos eticistas por sua convicção arrogante — resultante de sua ignorância da condição decaída da humanidade — de que poderiam alcançar a felicidade nesta vida por meio do esforço filosófico (De civitate dei 19.4; Wolterstorff, 2012; para uma visão mais otimista, cf. o antigo De ordine 2.26). Ele considera axiomático que a felicidade é o objetivo final buscado por todos os seres humanos (por exemplo, De beata vita 10; De civitate dei 10.1; De trinitate 13.7, citando Hortensius de Cícero; para uma discussão interessante sobre como o desejo de felicidade se relaciona com nossos desejos igualmente naturais de prazer e verdade, cf. Confissões 10.29-34; Matthews 2005: 134-145; Menn 2014: 80-95). A felicidade ou a boa vida é provocada pela posse do maior bem da natureza que os seres humanos podem alcançar e que não se pode desperdiçar contra a própria vontade (por exemplo, lib. arb. 1.10-12; especialmente em seu trabalho inicial, Agostinho compartilha a preocupação dos estóicos com a autossuficiência e a independência da pessoa sábia e feliz, cf. Wetzel 1992, 42-55). Essa estrutura Agostinho inscreve em sua hierarquia ontológica de três níveis, de inspiração neoplatônica (Carta 18.2), e conclui que a única coisa capaz de preencher os requisitos para o bem supremo estabelecido pelo eudaimonismo é o próprio Deus imutável. O Ser Supremo também é o bem maior; o desejo de felicidade do ser criado só pode ser satisfeito pelo criador. Tal como Agostinho coloca de maneira concisa em De beata vita (11): “Feliz é aquele que tem Deus”. Formulações alternativas são “gozo de Deus” (De civitate dei 8.8; De trinitate 13.10), “contemplação de Deus” ou “gozo da verdade” (De libero arbitrio 2.35). “Ter” Deus significa, de fato, conhecer e, especialmente, amar a Deus; Agostinho, portanto, interpreta o Salmo 72:28 (“Para mim é bom apegar-me a Deus”) como uma fórmula bíblica de telos ou definição do bem supremo e beatificante (De civitate dei 10.18; Tornau 2015: 265-266). Em outras palavras, somos felizes, sábios e virtuosos se nos voltarmos ou nos “convertermos” a Deus. Se nos afastarmos dele e direcionarmos nossa atenção e nosso amor para os corpos — que não são per se ruins, como no maniqueísmo, mas um bem infinitamente menor do que Deus — ou para nós mesmos, que são um grande bem, mas ainda subordinados a Deus, nos tornaremos miseráveis, tolos e perversos (Carta 18.2; De libero arbitrio 2.52-54; In Iohannis evangelium tractatus 20.11). A virtude é “o amor que conhece suas prioridades” (ordo amoris, De civitate dei 15.22), enquanto o vício ou pecado perverte a ordem natural. Assim como após a Queda todos os seres humanos são inevitavelmente contaminados pelo pecado, precisamos ser purificados por meio da fé para viver bem e restaurar nossa capacidade de conhecer e amar a Deus (De diversis quaestionibus 68.3; Cary 2008a: 12-13). Agostinho não descarta o elemento intelectual herdado da antiga tradição ética (socrática), e sua noção de conversão é certamente inspirada pelo “retorno” neoplatônico (epistrophe), no entanto, Agostinho aumenta a relevância ética da conversão e da aversão ao enfatizar seu caráter voluntário (cf. já De immortalitate animae 11-12). O elemento da vontade ou do amor também é crucial para a distinção entre “gozo” (frui) e “uso” (uti), que é desenvolvida pela primeira vez em De doctrina christiana, livro 1 (c. 396) e permanece básica para seu pensamento ético. Seguindo o antigo insight de que buscamos alguns bens por si mesmos e outros por causa de outros bens maiores, Agostinho afirma que “desfrutar” de uma coisa significa apegar-se a ela com o amor por ela mesma, enquanto “usá-la” significa amá-la por causa de outra coisa que queremos desfrutar. Amamos absolutamente apenas o que desfrutamos, enquanto nosso amor pelas coisas que usamos é relativo e até mesmo instrumental (De doctrina christiana 1.4). O único objeto adequado de prazer é Deus (cf. De civitate dei 8.8, onde a mesma visão é atribuída aos platônicos). A maldade e a confusão da ordem moral resultam de uma inversão do uso e do desfrute, quando queremos desfrutar do que devemos usar (todas as coisas criadas, por exemplo, riqueza, corpos ou nós mesmos) e usar o que devemos desfrutar (isso provavelmente se refere à compreensão “carnal” da religião da qual Agostinho frequentemente acusa os judeus). Um problema óbvio desse sistema é a categorização do amor ao próximo prescrito pela Bíblia. Devemos desfrutar de nosso próximo ou usá-lo? Enquanto a intuição moral natural sugere a primeira opção, a sistemática de Agostinho parece exigir a segunda. O problema é herdado do antigo eudaimonismo, em que é necessário algum esforço filosófico para conciliar a intuição de que a preocupação com os outros é moralmente relevante com a suposição de que a ética trata principalmente da virtude e da felicidade do indivíduo. Agostinho está ciente do problema e dá uma resposta diferenciada. Em De doctrina christiana (1.20-21), ele sugere, de modo um tanto provisório, que amar o próximo significa usá-lo, não porque ele seja meramente instrumental para a nossa felicidade, mas porque somos obrigados a amá-lo como a nós mesmos e porque amamos a nós mesmos corretamente somente se referirmos nosso amor próprio ao nosso desejo de desfrutar de Deus. O amor ao próximo, portanto, significa desejar sua verdadeira felicidade da mesma maneira que desejamos a nossa própria. Em essência, essa continua sendo a visão de Agostinho também em seu trabalho posterior (cf., por exemplo, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem 1.9), mas ele prefere evitar a conversa contra-intuitiva e potencialmente enganosa sobre “usar” os outros seres humanos e a substitui por uma descrição do amor fraterno como “prazer mútuo em Deus” (por exemplo, De trinitate 9.13; cf. De doctrina christiana 1.35; 3.16; Rist 1994: 159-168; O’Donovan 1980: 32-36; 112-136). “Em Deus” provavelmente foi acrescentado para evitar o mal-entendido segundo o qual devemos desfrutar do próximo “em si mesmo” ou “por nós mesmos” sem referência a Deus. Isso significaria que esperamos nossa verdadeira felicidade da pessoa, o que nenhum ser humano pode dar; o resultado dessa má orientação seria a extrema miséria no caso da perda do próximo (cf. Confissões 4.9-11 sobre a tristeza excessiva de Agostinho após a morte de seu amigo; Nawar 2014).
7.2 Virtude
Em princípio, Agostinho segue a opinião dos antigos eudaimonistas de que a virtude é suficiente ou, pelo menos, relevante para a felicidade. No entanto, há várias modificações importantes. (1) Toda a estrutura se torna dependente da graça preveniente de Deus. A verdadeira virtude garante a verdadeira felicidade, mas não há virtude verdadeira que não seja um dom da graça. (2) Agostinho aceita a definição de Cícero de virtude como a arte de “viver bem”, mas rejeita enfaticamente sua equação de viver bem e viver feliz, ou seja, a alegação estoicista de que uma disposição virtuosa é equivalente à felicidade (De libero arbitrio 2.50; De civitate dei 4.21; De moribus 1.10; contraste com Cícero, Discussões Tusculanas 5.53). Nossa vida pós-lapsária na Terra é inevitavelmente o local do pecado e da punição, e mesmo os santos são incapazes de superar o conflito interno permanente entre “o espírito” e “a carne”, ou seja, entre as volições boas e más ou desejos racionais e irracionais nesta vida (De civitate dei 19.4, citando Gálatas 5:17). A perfeita tranquilidade interior que a virtude almeja só será alcançada na vida após a morte. (3) Agostinho substitui a antiga definição de virtude como “razão correta” (como no estoicismo) ou “atividade de acordo com a razão” (como na tradição aristotélica) por uma definição de virtude como amor a Deus ou, em textos posteriores, como amor a Deus e ao próximo. A virtude é uma disposição interior ou um hábito motivacional que nos permite realizar todas as ações que fazemos por causa do amor correto. Há vários catálogos das tradicionais quatro virtudes cardeais — prudência, justiça, coragem e temperança — que as redefinem como variedades do amor de Deus, seja nesta vida ou no eschaton (De moribus 1.25; Carta 155.12; cf. Carta 155.16 para as virtudes cardeais como variedades do amor ao próximo; De libero arbitrio 1.27 para descrições das virtudes em termos de boa vontade). Sua definição mais breve de virtude é “amor ordenado” (De civitate dei 15.22). Isso não significa que a virtude se torne não racional (para Agostinho, o amor e a vontade são características essenciais da mente racional; consulte 6.2 A Mente Humana como Imagem de Deus), mas significa que ela se torna essencialmente intencional. O critério da verdadeira virtude é o fato de ela ser orientada para Deus. Mesmo que Agostinho ocasionalmente fale como se as quatro virtudes cardeais pudessem ser adicionadas às virtudes paulinas ou teológicas do amor, da fé e da esperança para formar uma soma de sete (Carta 171A.2), elas são mais bem interpretadas como uma subdivisão do amor, a única das virtudes paulinas que persiste no eschaton (Soliloquia 1.14).
Essas modificações têm várias consequências interessantes. Embora Agostinho adie a felicidade que é a recompensa da virtude para a vida após a morte, ele não faz da virtude um meio para um fim, no sentido de que a virtude se torna supérflua quando a felicidade é alcançada. Ao contrário, ele insiste que a virtude persistirá no eschaton, onde será transformada em eterna e livre fruição de Deus e do próximo em Deus. Então, ela será de fato sua própria recompensa e idêntica à felicidade (Carta 155.2; 12). Tanto a virtude escatológica quanto a virtude nesta vida são, portanto, amor a Deus; elas diferem apenas no fato de que a última está sujeita a obstáculos e tentações. Por essa razão, aqueles que têm o verdadeiro amor de Deus — por exemplo, os mártires cristãos — são felizes já nesta vida, pelo menos na esperança (por exemplo, Confissões 10.29; Tornau 2015). A descrição de Agostinho das virtudes escatológicas e não-escatológicas (Carta 155) é parcialmente modelada na doutrina neoplatônica da escala das virtudes com sua hierarquia ascendente de virtudes sociais ou cívicas, purificatórias e contemplativas (Tornau 2013; Dodaro 2004a: 206-212; Dodaro 2004b). Ao analisar a virtude nesta vida, Agostinho retoma a distinção estóica, que lhe era familiar desde Cícero (De officiis 1.7-8), entre o fim último de uma virtude (finis) e sua ação apropriada (officium; cf., por exemplo, Contra Iulianum 4.21; De civitate dei 10.18). A ação apropriada que caracteriza a virtude nesta vida, mas que não é mais necessária na bem-aventurança eterna, é subjugar as partes inferiores da alma à razão e resistir às tentações que emergem do conflito permanente entre as boas e as más volições (por assim dizer, um estado “akrático” permanente; veja 7.4 Vontade e Liberdade) que resulta de nossa condição decaída (De civitate dei 19.4). Tal como ensinam os exemplos dos melhores filósofos e dos heróis do glorioso passado de Roma, a quem Agostinho acusa regularmente de amor à glória, essas ações podem facilmente surgir de outras motivações que não o verdadeiro amor a Deus. Portanto, Agostinho distingue entre a verdadeira virtude (isto é, a cristã), que é motivada pelo amor a Deus, e a “virtude como tal” (virtus ipsa: De civitate dei 5.19), que realiza as mesmas ações apropriadas, mas é, em última instância, guiada pelo amor próprio ou pelo orgulho (ib. 5.12; 19.25). Entre outras coisas, essa distinção sustenta sua solução do chamado problema da virtude pagã (Harding 2008; Tornau 2006b; Dodaro 2004a: 27-71; Rist 1994: 168-173) porque permite atribuir virtude em um sentido significativo aos paradigmas pagãos e pré-cristãos de virtude, tais como o de Sócrates, sem ter que admitir que eles eram elegíveis para a salvação. Se for adotada uma perspectiva “teleológica” sobre a virtude que se concentra exclusivamente nos fins, as virtudes do pagão devem ser julgadas como vícios em vez de virtudes e serão punidas de acordo com isso (De civitate dei 19.25, a passagem da qual parece derivar a frase não agostiniana de que as virtudes pagãs são “vícios esplêndidos”; veja Irwin 1999). Uma perspectiva “operativa”, entretanto, revela que, no que diz respeito às ações apropriadas, os não-cristãos virtuosos diferem dos tolos e dos ímpios, mas são indistinguíveis dos cristãos virtuosos. Desse ponto de vista, Sócrates está mais próximo de Paulo do que de Nero, mesmo que sua virtude não lhe traga felicidade, ou seja, felicidade eterna. O fato de Agostinho ter uma perspectiva sobre a virtude que se abstrai do nexo causal entre a virtude e a felicidade talvez represente o afastamento mais significativo do eudaimonismo antigo.
7.3 Amor
O amor é uma noção crucial e abrangente na ética de Agostinho. Está intimamente relacionado à virtude e é frequentemente usado como sinônimo de vontade (por exemplo, De trinitate 15.38; nos argumentos do tipo cogito, amor e vontade são intercambiáveis, cf. De civitate dei 11.27 com Confissões 13.12) ou intenção (intentio). O texto básico de Agostinho é, obviamente, o mandamento bíblico de amar a Deus e ao próximo (Mateus 22.37; 39), que ele está, no entanto, preparado, ao longo de sua vida, para interpretar em termos do amor erótico platônico (Rist 1994: 148-202). Como no Banquete e em Plotino (Enéadas I.6), o amor é uma força em nossas almas que nos atrai para a verdadeira beleza que não encontramos em nenhum outro lugar, mas em nós mesmos e acima de nós mesmos; ele nos leva a ascender do mundo sensível ao inteligível e à cognição e contemplação de Deus (Confissões 10.8-38, esp. 38). Até mesmo o amor fraternal cristão pode ser descrito, de uma maneira que lembra o Fedro, como um tipo de sedução por meio da retidão real ou presumida do outro (De trinitate 9.11). De uma maneira mais geral, o amor significa a direção geral de nossa vontade (positivamente) em relação a Deus ou (negativamente) em relação a nós mesmos ou à criatura corpórea (De civitate dei 14.7; Byers 2013: 88-99; 217-231). O primeiro é chamado de amor em um bom sentido (caritas), o último é cupidez ou concupiscência (cupiditas), ou seja, amor mal direcionado e pecaminoso (De doctrina christiana 3.16). A raiz do pecado é o amor próprio excessivo que quer se colocar na posição de Deus e é equivalente ao orgulho (De civitate dei 14.28). Ele deve ser diferenciado do amor-próprio legítimo que faz parte do mandamento bíblico e busca a verdadeira felicidade subordinando o eu a Deus (O’Donovan 1980). Em sua obra anterior, Agostinho tem algumas dificuldades para incorporar o amor ao próximo na estrutura platônica e eudaimonista de seu pensamento (De doctrina christiana 1.20-21, veja 7.1 Felicidade). Depois do ano 400, no contexto de suas reflexões sobre a Trindade e sua exegese da Primeira Epístola de João (especialmente 1 João 4:8; 16, “Deus é amor”), ele encontra a solução de que o amor é, por sua própria natureza, auto-reflexivo. Ao amarmos nosso próximo, necessariamente amamos aquele amor que nos permite fazê-lo, que não é outro senão Deus; o amor a Deus e o amor ao próximo são, portanto, co-extensivos e, em última análise, idênticos (De trinitate 8.12; In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem 9.10). O amor ou intenção — caridade ou concupiscência — correto e perverso torna-se, assim, o critério predominante e até mesmo o único critério de avaliação moral; a ética de Agostinho pode, nesse sentido, ser rotulada de intencionalista (cf. Mann 1999 sobre a “ética da vida interior” de Agostinho). Ele enfatiza que toda e qualquer ação, mesmo que seja externamente boa e impressionante, pode ser motivada por uma intenção boa ou má, por amor correto ou perverso, por caridade ou orgulho. Isso vale para as ações prescritas pelo Sermão da Montanha e até mesmo para o martírio (In epistulam Iohannis tractatus decem 8.9, baseando-se parcialmente em 1 Coríntios 13:3). Portanto, é impossível dar regras casuísticas para o comportamento moral externo. A única coisa possível é a recomendação geral de “Amar e fazer o que se quer” (ib. 7.8), ou seja, cuidar para que a disposição interior ou a intenção por trás das ações seja o amor a Deus e ao próximo, e não o amor próprio ou o orgulho. É importante não interpretar isso erroneamente como subjetivismo moral, que os pressupostos ontológicos e éticos de Agostinho excluem. Ele nunca desculpa as más ações feitas “com as melhores intenções” ou com uma consciência subjetivamente pura, e não permite ações que são sempre condenáveis porque não podem resultar do amor, como a heresia. De certo modo, seu agente ideal é um sucessor do sábio estóico e neoplatônico, que sempre age a partir da virtude interior ou da racionalidade perfeita (esta última Agostinho substitui pelo amor verdadeiro), mas adapta suas ações externas às circunstâncias externas (cf. Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos 11.200-201 = 59 G Long-Sedley; Diogenes Laertius 7.121; Porphyry, Sententiae 32). O intencionalismo de Agostinho tem, no entanto, a implicação ambivalente de que, como o amor e a vontade pertencem inevitavelmente à privacidade da mente, os motivos internos para a ação externa de uma pessoa são desconhecidos por qualquer pessoa, exceto pelo próprio agente e por Deus. Por um lado, isso limita a autoridade de outras pessoas — inclusive aquelas dotadas de poder mundano ou de um cargo eclesiástico — para fazer julgamentos morais. Agostinho recomenda repetidamente não julgar para preservar a humildade (De civitate dei 1.26; Sermão 30.3-4). Por outro lado, Agostinho considera nossa vida moral e motivacional interna opaca até para nós mesmos e totalmente transparente apenas para Deus (Confissões 10.7; In Iohannis evangelium tractatus 32.5). Nunca podemos ter plena certeza da pureza de nossas intenções e, mesmo que tivéssemos, não poderíamos ter certeza de que persistiremos nelas. Todos os seres humanos são, portanto, chamados a examinar constantemente o status moral de seu eu interior em um diálogo de oração com Deus (tal como é dramatizado em Confissões). Esse auto-exame pode muito bem ser atormentador; a obsessão do cristianismo ocidental com a culpa interna latente tem suas raízes agostinianas. A encenação pública da confissão de Agostinho perante Deus em Confissões pode, entre muitas outras coisas, representar uma tentativa de remediar a solidão do autoexame cristão (cf. Confissões 10.1-7).
O intencionalismo de Agostinho também lhe fornece argumentos a favor da coerção religiosa. Como o objetivo do amor fraterno correto não é o bem-estar temporal do próximo, mas sua felicidade ou salvação eterna, não devemos tolerar passivamente os pecados de nossos semelhantes, mas devemos corrigi-los ativamente, se pudermos; caso contrário, nossa motivação seria a inércia e não o amor (In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem 7.11; cf. Carta 151.11; Ad Simplicianum 1.2.18). Os bispos católicos são, portanto, obrigados a compelir os hereges e cismáticos a reingressar na Igreja Católica, mesmo à força, assim como um pai bate em seus filhos quando os vê brincando com cobras ou como amarramos um louco que, de outra forma, se atiraria em um precipício (Carta 93.8; 185.7; e Carta 93.1-10 em geral). Obviamente, esse é um argumento paternalista que pressupõe um discernimento superior naqueles que legitimamente exercem o poder coercitivo. Embora isso possa ser aceitável no caso da Igreja, que, de acordo com a eclesiologia de Agostinho, é o corpo de Cristo e a encarnação do amor fraterno, torna-se problemático quando é transferido para governantes seculares (Agostinho raramente faz isso, porém cf. Carta 138.14-15). E como até mesmo a Igreja neste mundo é um corpo misto de pecadores e santos (ver 8. História e Filosofia Política), pode-se perguntar como os bispos individuais podem ter certeza de suas boas intenções quando usam a força religiosa (Rist 1994: 242-245). Agostinho não aborda esse problema, presumivelmente porque a maioria de seus textos relevantes são defesas propagandísticas da coerção contra os donatistas.
7.4 Vontade e Liberdade
Embora outros filósofos latinos, especialmente Sêneca, tenham feito uso do conceito de vontade (voluntas) antes de Agostinho, ele tem uma aplicação muito mais ampla em sua ética e psicologia moral do que em qualquer outro antecessor e abrange uma gama mais ampla de fenômenos do que a boulesis aristotélica (aproximadamente, escolha racional) ou a prohairesis estóica (aproximadamente, a decisão fundamental de levar uma vida boa). Agostinho está mais próximo do que qualquer outro filósofo anterior de postular a vontade como uma faculdade de escolha que não pode ser reduzida nem à razão nem ao desejo não-racional. Por isso, afirmou-se que Agostinho “descobriu” a vontade (Dihle 1982: cap. 6; Kahn 1988; contraste com Frede 2011: 153-174 que, principalmente com base no De libero arbitrio, enfatiza a dívida de Agostinho com o estoicismo). Agostinho admite tanto as volições de primeira ordem quanto as de segunda ordem, sendo estas últimas atos do liberum voluntatis arbitrium, a capacidade de escolher entre volições de primeira ordem conflitantes (Stump 2001; Horn 1996; den Bok 1994). Assim como os desejos, as volições de primeira ordem são intencionais ou direcionadas ao objeto e operam em todos os níveis da alma. Assim como a memória e o pensamento, a vontade é um elemento constitutivo da mente (consulte 6.2 A Mente Humana como Imagem de Deus). Ela está intimamente relacionada ao amor e, portanto, é o locus da avaliação moral. Agimos bem ou mal se, e somente se, nossas ações forem originadas de uma vontade boa ou má, o que equivale a dizer que elas são motivadas pelo amor correto (ou seja, dirigido por Deus) ou perverso (ou seja, dirigido por nós mesmos) (De civitate dei 14.7). Com essa id[eia básica em vista, Agostinho defende as paixões ou emoções contra a condenação estóica como disfunções do julgamento racional, redefinindo-as de maneira mais neutra como volições (voluntates) que podem ser boas ou más dependendo de seus objetos intencionais (De civitate dei 9.4-5; 14.9; Wetzel 1992: 98-111; Byers 2012b). A mecânica da vontade na psicologia moral de Agostinho deve muito à teoria estóica do assentimento, que, no entanto, é modificada em pelo menos um aspecto. Tal como no estoicismo, a vontade de agir é desencadeada por uma impressão gerada por um objeto externo (visum). A isso, a mente responde com um movimento apetitivo que nos impele a perseguir ou evitar o objeto (por exemplo, prazer ou medo). Contudo, somente quando damos nosso consentimento interno a esse impulso ou o negamos, surge uma vontade que, se as circunstâncias permitirem, resulta em uma ação correspondente. A vontade é o locus apropriado de nossa responsabilidade moral porque não está em nosso poder se um objeto se apresenta aos nossos sentidos ou ao nosso intelecto, nem se nos deleitamos com ele (De libero arbitrio 3.74; Ad Simplicianum 1.2.21), e nossas tentativas de agir externamente podem ser bem-sucedidas ou fracassar por razões que estão fora de nosso controle. O único elemento que está em nosso poder é nossa vontade ou consentimento interno, pelo qual somos, portanto, totalmente responsáveis. Assim, uma pessoa que consentiu com o adultério é culpada mesmo que sua tentativa de cometê-lo não tenha êxito, e uma vítima de estupro que não consentiu com o ato mantém sua vontade livre de pecado mesmo que sinta prazer físico (De civitate dei 1.16-28). Portanto, Agostinho define o pecado como “a vontade de manter ou buscar algo injustamente” (De duabus animabus 15). O segundo estágio da estrutura acima, o movimento apetitivo involuntário da alma, é uma reminiscência das “primeiras moções” estóicas, mas também corresponde ao “impulso”, que no estoicismo não precede o consentimento, mas o segue e resulta imediatamente em ação. As tentações desse tipo, segundo Agostinho, não são pecados pessoais, mas sim devidas ao pecado original, e elas assombram até mesmo os santos. Nossa vontade deve ser libertada pela graça divina para resistir a elas (Contra Iulianum 6.70; consulte, sobre essa teoria e seus antecedentes estóicos e platônicos, Byers 2013: 100-150; J. Müller 2009: 157-161; Sorabji 2000: 372-384; Rist 1994: 176-177).
O pensamento de Agostinho sobre o livre-arbítrio (liberum arbitrium ou liberum voluntatis arbitrium) passou por algum desenvolvimento durante sua carreira. Nos anos 390, opondo-se ao fatalismo dualista dos maniqueístas, ele usa o argumento do tipo cogito (ver 5.1 Ceticismo e Certeza) para demonstrar que somos responsáveis por nossas volições porque estamos tão certos de que desejamos quanto estamos certos de que existimos e pensamos (De duabus animabus 13; De libero arbitrio 3.3; Confissões 7.5; S. Harrison 1999). Uma definição contemporânea de vontade como um movimento da alma em direção a algum objeto de desejo enfatiza a ausência de restrição externa, e a definição subsequente de pecado como uma volição injusta (veja acima) parece endossar o princípio de possibilidades alternativas (De duabus animabus 14-15). Em De libero arbitrio, o livre-arbítrio aparece como a condição de possibilidade da bondade moral e, portanto, como um grande bem em si; mas como não é um bem absoluto (o qual é somente Deus), mas apenas um bem intermediário, é passível de mau uso e, portanto, também a fonte do mal moral (De libero arbitrio 2.47-53). Em sua exegese inicial do capítulo de Paulo sobre a eleição divina (Romanos 9), Agostinho faz questão de estabelecer que Paulo não aboliu o livre-arbítrio (Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos 13-18). Com tudo isso, Agostinho está basicamente em harmonia com a perspectiva tradicional da teologia e exegese cristã primitiva, que ainda é adotada nos anos 420 por Juliano de Aeclanum, quando ele culpa Agostinho por ter caído no fatalismo maniqueísta e cita suas primeiras definições contra ele (Juliano, Ad Florum, em Contra Iulianum opus imperfectum 1.44-47). As coisas mudam com Ad Simplicianum 1.2 e em Confissões. Por volta do ano 400 d.C., Agostinho chegou à conclusão de que nossa capacidade de fazer escolhas foi seriamente prejudicada pela condição decaída da humanidade e que fazia pouco sentido falar sobre o livre-arbítrio sem fazer referência à graça. A afirmação otimista no primeiro livro do De libero arbitrio (1.25-26; 29) de que está em nosso poder ser bom assim que escolhemos ser bons, porque “nada está tão completamente em nossa vontade quanto a própria vontade” provavelmente nunca foi a versão completa do assunto; já no livro 3 da mesma obra, Agostinho diz que as deficiências cognitivas e motivacionais causadas pelo pecado de Adão (“ignorância e dificuldade”, ib. 3.52; S. Harrison 2006: 112-130) são um problema. Harrison 2006: 112-130) comprometem seriamente nossa capacidade natural de escolher o bem, e em sua obra posterior, especialmente antipelagiana, ele radicaliza isso para a idéia de que o pecado original nos torna incapazes de subjugar completamente nossas volições pecaminosas enquanto vivermos, de modo que vivemos em um estado permanente de “akrasia” ou fraqueza da vontade (De natura et gratia 61-67; De civitate dei 19.4; De nuptiis et concupiscentia 1.35). No entanto, ele nunca questiona o princípio de que fomos criados com a capacidade natural de escolher livre e voluntariamente o bem, nem nega a aplicabilidade do argumento do cogito à vontade (cf. De civitate dei 5.10) ou duvida que nossas volições sejam imputáveis a nós. O que a graça faz é restaurar nossa liberdade natural; ela não nos compele a agir contra nossa vontade. O que isso significa é melhor ilustrado pela narrativa de Confissões 8 (para interpretações particularmente lúcidas, veja Wetzel 1992: 126-138; J. Müller 2009: 323-335). Imediatamente antes de sua conversão, Agostinho sofre de uma “vontade dividida”, sentindo-se dividido entre a vontade de levar uma vida cristã ascética e a vontade de continuar sua vida anterior, sexualmente ativa. Embora se identifique com a primeira vontade, melhor do que com a segunda, que na verdade o atormenta, ele é incapaz de optar por ela por causa de seus maus hábitos, que ele adquiriu voluntariamente, mas que agora se transformaram em uma espécie de necessidade viciante (ib. 8.10-12). Tradições filosóficas anteriores teriam interpretado esse estado “akrático” como um conflito entre razão e desejo, e o dualismo maniqueísta teria atribuído a má vontade de Agostinho a uma substância maligna presente na alma, mas estranha a ela, porém Agostinho insiste que ambas as vontades eram de fato suas. Usando metáforas médicas que lembram a filosofia moral helenística, ele argumenta que sua vontade não tinha o poder da livre escolha porque a doença de estar dividido entre volições conflitantes a enfraqueceu (ib. 8.19; 21). Sua capacidade de escolha só é restaurada quando, na cena do jardim no final do livro, sua vontade é reintegrada e curada pelo chamado de Deus, que imediatamente o liberta para optar pela vida ascética (ib. 8.29-30). Antes, quando ele havia apenas continuado seu modo de vida habitual, essa era uma não-escolha, e não uma escolha, embora, conforme insiste Agostinho, ele tivesse feito isso voluntariamente. Em essência, essa continuou sendo sua linha de defesa quando, na controvérsia pelagiana, ele foi confrontado com a acusação de que sua doutrina da graça abolia o livre-arbítrio (De spiritu et littera 52-60; cf. De correptione et gratia 6). Enquanto os pelagianos pensavam que o princípio das possibilidades alternativas era indispensável para a responsabilidade humana e a justiça divina, Agostinho aceita esse princípio apenas para os primeiros humanos no paraíso (Contra Iulianum opus imperfectum 1.47; 5.28; 5.40-42 etc.). De certa maneira, ao escolherem erroneamente, Adão e Eva abandonaram o livre-arbítrio tanto para si mesmos quanto para toda a humanidade. O pecado original transformou nossa capacidade inicial de não pecar em uma incapacidade de não pecar; a graça pode restaurar a capacidade de não pecar nesta vida e a transformará em incapacidade de pecar na próxima (De civitate dei 22.30; De correptione et gratia 33).
7.5 A Vontade e o Mal
A noção de vontade em Agostinho está intimamente relacionada ao seu pensamento sobre o mal. Ele afirma que o problema da origem do mal (unde malum) o assombrou desde a juventude (Confissões 7.7). A princípio, ele aceitou a solução dualista dos maniqueus, que livrava Deus da responsabilidade pelo mal, mas comprometia sua onipotência (ib. 3.12; 7.3). Depois de se deparar com os livros dos platonistas, Agostinho rejeitou a existência de uma substância maligna e endossou a opinião neoplatônica (defendida, por exemplo, em Plotino, Enéadas I.8) de que o mal é, na verdade, insubstancial e uma privação ou corrupção da bondade. Em sua visão madura, que foi amplamente desenvolvida durante suas polêmicas anti-maniqueístas, tudo o que tem existência é bom na medida em que foi criado por Deus. É claro que existem diferentes graus de bondade, assim como de ser (Carta 18.2), mas tudo o que é real é bom “em seu grau”, e a ordem hierárquica da realidade é, em si mesma, uma boa criação de Deus (Bouton-Touboulic 2004). Agostinho, portanto, rejeita a opinião de Plotino de que a matéria primordial é equivalente ao mal primordial, porque a ausência de forma da matéria não é pura negatividade, mas uma capacidade positiva e, portanto, divinamente criada, de receber formas (Confissões 12.6; ver 10. Criação e Tempo). Pode-se dizer que um ser criado é mau se, e somente se, ficar aquém de sua bondade natural ao ser corrompido ou viciado; estritamente falando, somente a corrupção em si é má, enquanto a natureza, a substância ou a essência (para a equivalência dos termos, veja De moribus 2.2) da coisa em si permanece boa (Confissões 7.18; Contra epistulam fundamenti 35.39 etc.; para um relato sistemático, De natura boni 1-23; Schäfer 2002: 219-239). Embora essa teoria possa explicar o mal físico com relativa facilidade, seja como uma característica necessária da realidade (corpórea) hierarquicamente ordenada (De ordine 2.51), como uma punição justa do pecado ou como parte da pedagogia de salvação de Deus (Carta 138.14), ela deixa em aberto a questão do mal moral ou do próprio pecado. Agostinho responde equiparando o mal moral à má vontade e afirma que a pergunta aparentemente natural sobre o que causa a má vontade não tem resposta. Seu argumento mais consistente para esse efeito é encontrado em sua explicação da queda do diabo e dos anjos maus, um caso que, sendo a primeira ocorrência do mal no mundo criado, permite que ele analise o problema em seus termos mais abstratos (De civitate dei 12.1-9; cf. De libero arbitrio 3.37-49; Schäfer 2002: 242-300; MacDonald 1999). A causa não pode ser nem uma substância (que, qua substância, é boa e incapaz de causar qualquer coisa má) nem uma vontade (que, por sua vez, teria de ser uma vontade má que precisasse de explicação). Portanto, uma vontade má não tem uma causa “eficiente”, mas apenas uma causa “deficiente”, que nada mais é do que a deserção espontânea da vontade de Deus. O fato de os agentes malignos serem criados do nada e, portanto, não serem, ao contrário de Deus, intrinsecamente incapazes de pecar é uma condição necessária do mal, mas não suficiente (afinal, os anjos bons mantiveram com sucesso sua boa vontade). Nesse contexto, Agostinho, em um interessante experimento mental, imagina duas pessoas de igual disposição intelectual e emocional, das quais uma cede a uma tentação enquanto a outra resiste a ela; a partir disso, ele conclui que a diferença deve ser devida a uma escolha livre, espontânea e irredutível da vontade (De civitate dei 12.6). Aqui, pelo menos, Agostinho praticamente postula a vontade como uma faculdade mental independente.
7.6 Graça, Predestinação e Pecado Original
Desde a Idade Média, a teologia da graça de Agostinho tem sido considerada o cerne de seu ensinamento cristão, e com razão. Conforme ele mesmo salienta, sua convicção de que os seres humanos em sua condição atual são incapazes de fazer ou até mesmo de desejar o bem por seus próprios esforços é sua discordância mais fundamental com a antiga ética da virtude, especialmente a estóica (De civitate dei 19.4; Wolterstorff 2012). Depois e por causa da desobediência de Adão e Eva, perdemos nossa capacidade natural de auto-determinação, que só pode ser consertada e restaurada pela graça divina que se manifestou na encarnação e no sacrifício de Cristo e trabalha interiormente para libertar nossa vontade de sua escravidão ao pecado. A confissão de pecados e a humildade são, portanto, virtudes e atitudes cristãs básicas; a confiança dos filósofos em sua própria virtude, que os impede de aceitar a graça de Cristo, é um exemplo do orgulho pecaminoso que coloca o eu no lugar de Deus e que estava no centro do pecado primordial dos anjos maus (De civitate dei 10.29).
A principal inspiração para a doutrina da graça em Agostinho é, obviamente, Paulo (embora as observações sobre a fraqueza humana e a ajuda divina não estejam ausentes da antiga tradição filosófica e, especialmente, do platonismo, que tinha um forte lado religioso desde o início; Agostinho afirma que, com tais declarações, os platonistas inadvertidamente “confessam” a graça, cf. De civitate dei 10.29; 22.22). A perspectiva radical de que os dons da graça incluem não apenas as boas obras externas e a disposição volitiva interna que nos permite realizá-las, mas até mesmo os primeiros começos da fé — em uma terminologia técnica posterior: que a graça não é “cooperativa”, mas radicalmente “preventiva” — é, no entanto, sua, e levou vários anos para tomar forma em seu pensamento. Há algum debate sobre os estágios desse desenvolvimento (para reconstruções divergentes, consulte Karfíková 2012; Cary 2008a; Drecoll 2004-2010; Drecoll 1999; enfatizando as mudanças no pensamento de Agostinho: Lettieri 2001; Flasch 1995; ênfase na continuidade: C. Harrison 2006), mas geralmente se concorda que a doutrina da graça em Agostinho atingiu sua forma madura por volta de 395-397 com Ad Simplicianum 1.2, após vários anos de intensa leitura e exegese de Paulo, e ganhou maior visibilidade durante a controvérsia pelagiana após 412. Agostinho enfatiza a necessidade da graça tanto para a compreensão intelectual quanto para a purificação moral já em suas primeiras obras (cf. especialmente Soliloquia 1.2-6), no entanto, parece ter se preocupado em deixar espaço para a iniciativa humana, pelo menos no que diz respeito à fé e à vontade (o que estaria de acordo com sua preocupação, proeminente ao longo da década de 390, de salvaguardar a responsabilidade humana contra o fatalismo maniqueísta). Em sua exegese inicial de Paulo, ele explica a eleição aparentemente gratuita de Jacó e a rejeição de Esaú por parte de Deus (Romanos 9:10-13) com a presciência de Deus da fé de Jacó e da infidelidade de Esaú (De diversis quaestionibus 68. 5; Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos 60), uma leitura “sinérgica” que se baseia no pressuposto de que a salvação resulta da cooperação da graça divina e da iniciativa humana e que foi padrão no cristianismo primitivo desde Orígenes. Essa explicação é explicitamente rejeitada em Ad Simplicianum (1.2.5-6; 8; 11). Nesse texto fundamental, Agostinho, fiel ao seu programa de “fé em busca de entendimento”, tenta uma exegese de Romanos 9:9-29 que satisfaz as exigências filosóficas da justiça e da benevolência de Deus, ao mesmo tempo em que leva a sério o ponto paulino de que a eleição de Deus é inteiramente gratuita e não ocasionada por nenhum mérito humano. A intenção orientadora de Romanos 9, diz Agostinho agora, é impedir a vanglória e o orgulho (ib. 1.2.2), em vez de salvaguardar a responsabilidade humana (conforme sua visão na Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos 13-18). Agostinho ensaia todas as razões possíveis para a eleição de Jacó por Deus — suas boas obras, sua boa vontade, sua fé e a presciência de Deus de cada uma delas — e descarta todas elas por se tratarem de uma eleição por mérito e não por graça. A partir da disposição primordial de atender ao chamado de Deus para a fé, então, tudo o que é bom em Jacó deve ser considerado um dom da graça divina. O livre-arbítrio não tem nada a ver com o recebimento dessa dádiva, porque ninguém pode querer receber um chamado divino à fé nem responder positivamente a ele de modo a agir de acordo e realizar boas obras por amor (Ad Simplicianum 1.2.21; para a teoria do arbítrio de inspiração estoica por trás disso, veja 7.4 Vontade e Liberdade). Embora a eleição gratuita, além de ser consoladora, seja comparativamente fácil de ser enquadrada nos axiomas da benevolência, justiça e onipotência divinas, seu corolário, a reprovação e condenação igualmente gratuitas de Esaú, é um sério problema filosófico (ib. 1.2.8). Para não violar o princípio da justiça de Deus, ela nos obriga a assumir algum tipo de maldade em Esaú, o que, no entanto, é excluído pela declaração explícita de Paulo em contrário (Romanos 9:11). A solução de Agostinho é sua doutrina do pecado original. Tanto Jacó quanto Esaú herdaram a culpa de Adão, cujo pecado se espalhou por toda a humanidade — uma dívida que Deus perdoa a Jacó, mas exige de Esaú por razões que, Agostinho admite, necessariamente escapam à compreensão humana, mas certamente são justas. Desde a Queda, a humanidade nada mais é do que uma “massa de pecado” que Deus poderia, com justiça, ter condenado como um todo, mas da qual escolheu salvar alguns indivíduos e transformá-los em “vasos de misericórdia” (ib. 1.2.16, cf. Romanos 9:23). A noção de pecado original não foi inventada por Agostinho, mas tinha uma tradição no cristianismo africano, especialmente em Tertuliano. A visão de que o pecado original é uma culpa pessoalmente imputável que justifica a condenação eterna é, no entanto, nova com Ad Simplicianum e decorre, com necessidade lógica, das afirmações exegéticas e filosóficas feitas sobre a graça divina e a eleição (Flasch 1995; contraste com De libero arbitrio 3.52-55). A teoria de Ad Simplicianum é ilustrada, com grande perspicácia filosófica e plausibilidade psicológica, em Confissões (especialmente no livro 8) e permanece em vigor durante a controvérsia pelagiana até o final da vida de Agostinho. Curiosamente, porém, há passagens até mesmo em sua obra anti-pelagiana que parecem ter como objetivo salvaguardar a liberdade de escolha e, portanto, admitem uma leitura “sinérgica” (De spiritu et littera 60; Cary 2008a: 82-86 e, para uma interpretação diferente, Drecoll 2004-2010: 207-208). Depois de 412, pressionado por seus oponentes pelagianos, Agostinho deu cada vez mais atenção à mecânica da transmissão do pecado original. O resultado foi uma teoria quase biológica que associava o pecado original intimamente à concupiscência sexual (ver 9. Gênero, Mulheres e Sexualidade).
Uma implicação óbvia da teoria de Agostinho sobre graça e eleição é a predestinação, um assunto proeminente em seus últimos tratados contra os pelagianos (por exemplo, De praedestinatione sanctorum, escrito após 426), mas já implícito em Ad Simplicianum. Deus decide “antes da constituição do mundo” (Efésios 1:4), ou seja, (em termos neoplatônicos) de maneira não-temporal que corresponde ao seu ser transcendente e eterno (De civitate dei 11.21; veja também 10. Criação e Tempo), quem será isento da condenação que aguarda a humanidade caída e quem não será (“dupla predestinação”). No entanto, esse conhecimento está oculto para os seres humanos, aos quais só será revelado no final dos tempos (De correptione et gratia 49). Até lá, ninguém, nem mesmo um cristão batizado, pode ter certeza se a graça lhe deu uma fé verdadeira e uma boa vontade e, em caso afirmativo, se essa fé e essa boa vontade serão perseveradas até o fim de sua vida, de modo a obter realmente a salvação (De correptione et gratia 10-25; cf. 7.3 Amor). Como os deterministas estóicos antes dele, Agostinho foi confrontado com a objeção de que sua doutrina da predestinação tornava toda a atividade humana inútil (“Argumento da Preguiça”). Embora no helenismo isso tenha sido, em grande parte, uma questão teórica, adquiriu relevância prática sob as circunstâncias da vida monástica: alguns monges norte-africanos se opuseram ao fato de serem repreendidos por seu mau comportamento com o argumento de que não eram responsáveis por (ainda) não desfrutarem do dom da graça divina (De correptione et gratia 6). Retomando idéias de De magistro e de Ad Simplicianum, Agostinho responde que a repreensão pode funcionar como uma admoestação externa, até mesmo como um chamado divino, que ajuda as pessoas a se voltarem para Deus interiormente e, portanto, não deve ser negada (De correptione et gratia 7-9). À pergunta de que a predestinação prejudica o livre-arbítrio, Agostinho dá sua resposta habitual de que nossa liberdade de escolha foi prejudicada pelo pecado original e deve ser liberada pela graça se quisermos desenvolver a boa vontade necessária para a virtude e a felicidade. O debate medieval e moderno sobre se a graça é “irresistível” é, portanto, até certo ponto, não agostiniano (cf. Wetzel 1992: 197-206); alguns textos, especialmente os posteriores, no entanto, apresentam a graça preveniente como convertendo a vontade com força coercitiva (Contra duas epistulas Pelagianorum 1.36-37; cf. Ad Simplicianum 1.2.22; Cary 2008a: 105-110). Um problema relacionado à predestinação, mas não equivalente a ela, é a presciência divina (Matthews 2005: 96-104; Wetzel 2001; para uma discussão geral, Zagzebski 1991). Agostinho herda isso da discussão helenística sobre contingentes futuros e determinismo lógico, que é melhor documentada no De fato de Cícero. Sua solução é a de que, embora as ações externas possam ser determinadas, as volições internas não o são. Elas são certamente conhecidas por Deus, mas exatamente como são, ou seja, como nossas e como volições, e não como compulsões externas (De civitate dei 5.9-10; cf. De libero arbitrio 3.4-11). Esse argumento é independente da doutrina da graça e do pecado original; ele se aplica não apenas à humanidade decaída, mas também a Adão e Eva e até mesmo ao diabo, cuja transgressão Deus havia, é claro, previsto (De civitate dei 11.17; 14.11).
8. História e filosofia política
A Cidade de Deus de Agostinho não é um tratado de filosofia política ou social. É um apelo extenso destinado a persuadir as pessoas a “entrar na cidade de Deus ou a persistir nela” (Carta 2*.3). O critério para pertencer à cidade de Deus (uma metáfora que Agostinho extrai dos Salmos, cf. Salmo 86:3 citado, por exemplo, em De civitate dei 11.1) e sua antagonista, a cidade terrena, é o amor certo ou errado. Uma pessoa pertence à cidade de Deus se, e somente se, direcionar seu amor a Deus mesmo às custas do amor próprio, e pertence à cidade terrena ou cidade do demônio se, e somente se, adiar o amor a Deus em favor do amor próprio, orgulhosamente fazendo de si mesmo seu maior bem (De civitate dei 14.28). O principal argumento da obra é o de que a verdadeira felicidade, que é buscada por todo ser humano (ib. 10.1), não pode ser encontrada fora da cidade de Deus fundada por Cristo (cf. ib. 1, prólogo). Os dez primeiros livros desconstroem, de uma maneira que lembra a apologética cristã tradicional, as concepções alternativas de felicidade na tradição política romana (que equipara a felicidade à prosperidade do Império, caindo assim nas garras de demônios malignos que se faziam passar por defensores de Roma, mas que, na verdade, a arruinaram moral e politicamente) e na filosofia grega, especialmente platônica (que, apesar de sua percepção da verdadeira natureza de Deus, não aceitou a mediação de Cristo encarnado por orgulho e se voltou para falsos mediadores, ou seja, demônios enganadores; os livros. 8-10 têm uma interessante discussão sobre a demonologia platônica). A abordagem de Agostinho na segunda metade positiva da obra é bíblica, criacionista e escatológica; esse fato explica o caráter específico de sua dimensão histórica. A história das duas cidades começa com a criação do mundo, a deserção do demônio e o pecado de Adão e Eva (livros 11-14); continua com as vicissitudes providencialmente governadas do Povo de Israel (o primeiro representante terreno da cidade de Deus) e, após a vinda de Cristo, da Igreja (livros 15-17, complementados por um levantamento da história secular concomitante, desde os primeiros impérios orientais até a Roma contemporânea, no livro 18); e termina com o destino final (finis, que deve ser entendido tanto eticamente como “objetivo último” quanto escatologicamente como “fim dos tempos”) das duas cidades na condenação eterna e na bem-aventurança eterna (livros 19-22; sobre a estrutura e as idéias básicas da Cidade de Deus, consulte O’Daly 1999). Em grande parte, a abordagem de Agostinho é exegética; para ele, a história da cidade de Deus é, em essência, a história sagrada conforme estabelecida nas Escrituras (Markus 1970: 1-21). Obviamente, entretanto, as cidades celestiais e terrenas não devem ser confundidas com as instituições mundanas da igreja e do estado. Na história, cada uma delas, e a Igreja em particular, é um corpo misto no qual membros da cidade de Deus e da cidade terrena coexistem, sendo sua distinção clara apenas para Deus, que separará as duas cidades no final dos tempos (ib. 1.35; 10.32 etc.). Enquanto a cidade de Deus é uma estrangeira ou, na melhor das hipóteses, uma estranha residente (peregrinus: ib. 15.1; 15.15) neste mundo e anseia por sua pátria celestial, a cidade terrena não é um corpo unificado, mas está em contínua luta consigo mesma porque é dominada pela ânsia de poder, a forma mais difundida do pecado arquetípico do orgulho na vida política e social (ib. 18.2). Tudo isso está de acordo com as idéias de Agostinho sobre predestinação e graça; a história das duas cidades é essencialmente a história da humanidade decaída. Esse relato dualista, no entanto, é qualificado quando, na parte da obra que mais se aproxima da filosofia social, Agostinho analisa a atitude que um cristão deve adotar em relação à sociedade terrena em que inevitavelmente vive durante sua existência neste mundo. Partindo, mais uma vez, do axioma de que todos os seres humanos desejam naturalmente o que é bom para eles, ele determina de forma inovadora o objetivo que cada indivíduo e cada comunidade de fato busca como “paz” (pax), que, em sua opinião, é amplamente equivalente à ordem natural e à subordinação. Há graus maiores e menores de paz individual e coletiva, por exemplo, o controle das emoções por meio da razão, a subordinação do corpo à alma, a subordinação dos filhos aos pais na família ou uma ordem hierárquica funcional no Estado; no topo está a “paz com Deus” ou a subordinação da mente humana a Deus (ib. 19.13; Weissenberg 2005). As formas inferiores de paz são bens relativos e, como tal, legitimamente buscados, desde que não sejam confundidos com o bem absoluto. A paz e a ordem políticas são buscadas pelos membros da cidade de Deus e da cidade terrena da mesma maneira, porém, enquanto os últimos “desfrutam” dela porque é o maior bem que podem alcançar e conceber, os primeiros “usam-na” em prol de sua paz com Deus, ou seja, para que eles e os outros possam desfrutar de uma vida religiosa cristã sem obstáculos (ib. 19.17; 19.26; para “desfrutar” e “usar”, veja 7.1 Felicidade). A paz política é, portanto, moralmente neutra na medida em que é um objetivo comum a cristãos e não cristãos. Agostinho critica Cícero porque ele incluiu a justiça em sua definição de estado (Cícero, De re publica 1.39) e, assim, deu ao estado terreno uma qualidade moral inerente que, na realidade, é privilégio da cidade de Deus (De civitate dei 19.21). Ele mesmo prefere uma definição mais pragmática que faz com que o consenso sobre um objeto comum de “amor” (ou seja, um bem comum acordado por todos os membros da comunidade) seja o critério de um estado; a avaliação moral não é uma questão de definição, mas depende da avaliação do objetivo que ele persegue (cf. 7.3 Amor). O Império Romano primitivo, que se esforçava pela glória, era mais tolerável do que os impérios orientais que eram movidos pelo desejo puro e simples de poder; o melhor objetivo imaginável perseguido por uma sociedade terrena seria a perfeita paz terrena (ib. 19.24; Weithman 2001: 243-4). Os cristãos têm permissão e até mesmo são chamados a trabalhar para o bem-estar das sociedades em que vivem, desde que promovam a paz terrena em prol da verdadeira felicidade de seus cidadãos e de si mesmos; na prática, isso geralmente significa promover a religião cristã (ib. 5.25-6, sobre os imperadores cristãos Constantino e Teodósio; Carta 155.12; 16; Dodaro 2004b; Tornau 2013). Contudo, a doutrina das duas cidades exclui deliberadamente qualquer promoção do imperador ou do império a uma posição providencial e quase sagrada. Nem mesmo os cristãos no poder serão capazes de superar a miséria inerente da humanidade decaída (De civitate dei 19.6). Como a grande maioria dos antigos teólogos cristãos, Agostinho tem pouco ou nenhum interesse em reformas sociais. A escravidão, ou seja, a dominação antinatural de humanos sobre humanos, é uma mancha característica da vida humana pós-lapsariana e, ao mesmo tempo, um mal que é aproveitado quando assegura a ordem social (ib. 19.15; Rist 1994: 236-239). A guerra resulta do pecado e é o meio privilegiado de satisfazer o desejo de poder (ib. 18.2; 19.7). No entanto, Agostinho escreveu uma carta para refutar a alegação de que o cristianismo defendia um pacifismo politicamente impraticável (Carta 138). Sua reinterpretação cristã da tradicional teoria romana da guerra justa deve ser lida no contexto de sua teoria geral da virtude e da paz (Holmes, 1999). Para ser verdadeiramente justa de acordo com os padrões agostinianos, uma guerra teria que ser travada para o benefício do adversário e sem qualquer vingança, em suma, por amor ao próximo, o que, em um mundo decaído, parece utópico (Carta 138.14). As guerras podem, no entanto, ser relativamente justas se forem defensivas e devidamente declaradas (cf. Cícero, De officiis 1.36-37) ou comandadas por uma autoridade justa, mesmo no caso especial das guerras do povo de Israel que foram comandadas pelo próprio Deus (Contra Faustum 22.74-78).
9. Gênero, Mulheres e Sexualidade
Agostinho viveu em uma sociedade e trabalhou a partir de uma tradição — tanto greco-romana quanto judaico-cristã – que considerava a subordinação natural e social das mulheres em relação aos homens como algo natural (cf. Børresen 2013: 135 e, para um esboço das realidades sociais e familiares da África romana do final da antiguidade, Rist 1994: 210-213; 246-247). Agostinho interpreta o relato do Gênesis sobre a criação da mulher (Gênesis 2:18-22) como significando que, tendo Eva sido criada como ajudante de Adão e para fins de reprodução, ela estava subordinada a ele já no paraíso (De Genesi ad litteram 6.5.7; 9.5.9). Essa situação é exacerbada pela Queda; sob as condições da humanidade decaída, o casamento é, para as esposas, um tipo de escravidão que elas devem aceitar com obediência e humildade (como fez M”onica; cf. Confissões 9.19-20 e, sobre o casamento em Agostinho em geral, E. Clark 1996). Em sua exegese anti-maniqueísta inicial do Gênesis, ele alegoriza o homem como a parte racional e a mulher como a parte não-racional e apetitiva da alma (De Genesi contra Manichaeos 2.15, cf. De vera religione 78; De Genesi ad litteram 8.23.44; o padrão é bem atestado na tradição filosófica). Por outro lado, ele insiste — como até então poucos teólogos cristãos haviam feito — que o significado da história de Gênesis não era puramente alegórico, mas que a diferenciação sexual havia começado a existir no paraíso e persistiria nos corpos ressuscitados dos abençoados porque era uma parte natural da criação de Deus (De civitate dei 22.17). Seguindo a convicção filosófica grega (em particular, platônica) de que a alma e especialmente sua parte intelectual mais elevada não tem gênero, bem como a promessa escatológica paulina de que em Cristo “não há macho nem fêmea” (Gálatas 3:28), Agostinho argumenta que as palavras de Gênesis 1: 26-27 sobre o ser humano ter sido criado à imagem de Deus implicam que a mulher é humana como o homem porque ela tem uma alma intelectual e porque não é o corpo sexuado, mas a alma intelectual que torna o ser humano uma imagem de Deus (De Genesi ad litteram 3. 22.34; Børresen 2013: 136-137; cf. também 6.2 A Mente Humana como Imagem de Deus; a visão de que a mulher é feita à imagem de Deus está longe de ser incontroversa no cristianismo antigo). A tensão interna da opinião de que a mulher é intelectualmente igual e, ao mesmo tempo, por natureza socialmente inferior ao homem se faz sentir na exegese de Agostinho da afirmação de Paulo de que as mulheres, mas não os homens, devem se cobrir com véu porque o homem é feito à imagem de Deus (1 Coríntios 11:7). Agostinho compara o homem com a razão teórica e a mulher (a “ajudante” de Gênesis 2:18) com a razão prática e afirma que, embora a razão teórica e prática juntas ou a razão em sua totalidade seja uma imagem de Deus, assim como o ser humano como tal é, em virtude de sua razão, uma imagem de Deus, a razão prática sozinha, sendo direcionada para coisas corpóreas e sendo apenas uma “ajudante” da razão teórica, não o é. (Por implicação, a mulher é uma imagem de Deus qua ser humano, mas não qua mulher). A prática ordenada por Paulo tem o objetivo de significar essa diferença (De trinitate 12.10-13). Essa exegese protege a semelhança da mulher com Deus contra um consenso patrístico generalizado e, ao que parece, contra o próprio Paulo, mas, ao mesmo tempo, defende a desigualdade social e até a dota de significado metafísico e religioso (Stark 2007a).
Duas mulheres aparecem de forma proeminente na produção literária de Agostinho (Power 1995; G. Clark 2015): sua mãe, Mônica (seu nome aparece apenas em Confissões 9.37), e sua companheira por quatorze anos, a mãe de Adeodato. Nos diálogos de Cassicíaco, Mônica representa um modo de vida filosófico baseado nas intuições naturais da razão e em uma fé cristã inabalável, juntamente com uma vida de acordo com os preceitos da moralidade cristã (De beata vita 10; De ordine 1.31-32). Ela, e os incultos, mas fiéis em geral, talvez não consigam alcançar a felicidade nesta vida por meio de uma ascensão ao divino com a ajuda das artes liberais, mas certamente verão Deus “face a face” na bem-aventurança eterna (De ordine 2.45-46). Por trás dessa idealização pode estar o desejo nostálgico do filósofo cristão masculino por uma santidade “natural” não contaminada pela ocupação secular e pelo aprendizado (Brown 1988: cap. 13, sobre os teólogos e bispos gregos do século IV). A proeminência e a idealização de Mônica nas Confissões provocaram muita especulação psicológica, na maioria das vezes infrutífera. Agostinho representa a influência dela em sua vida religiosa como algo que permeia desde seus primeiros anos de vida e até a compara com a Igreja Mãe (Confissões 1.17). Ela incorpora o amor cristão ideal ao próximo (veja 7.3 Amor), pois promove a fé católica de Agostinho com todos os seus meios (principalmente lágrimas e oração) e nunca se entrega ao maniqueísmo dele, apesar de sua afeição maternal (por exemplo, Confissões 3.19). No entanto, ela combina com isso, especialmente nos primeiros livros, motivos mais mundanos, como, por exemplo, quando ela arranja um casamento para Agostinho na esperança de vedar sua concupiscência sexual e ajudar sua carreira mundana (ib. 6.23). Como as outras influências humanas sobre Agostinho relatadas nas Confissões, ela é usada por Deus como um instrumento de sua graça de uma maneira que ela não prevê nem deseja. Somente após a conversão de Agostinho é que ela se eleva à santa perfeição, especialmente na “visão da Óstia”, quando, pouco antes de sua morte, mãe e filho, após uma longa conversa filosófico-teológica, chegam a uma súbita percepção de como deve ser a contemplação do Deus transcendente na felicidade eterna (ib. 9.24-25). O capítulo sobre a dispensa da mãe de Adeodato em prol de um casamento vantajoso (ib. 6.25; Shanzer 2002; Miles 2007) tem sido desagradável para muitos leitores modernos. No entanto, o que é incomum não é o comportamento de Agostinho, mas o fato de ele mencionar o ocorrido e, em retrospecto, refletir sobre a dor que isso lhe causou. Fiel ao procedimento deliberadamente contra-intuitivo e muitas vezes provocativo das Confissões, ele destaca uma emoção que, na época como agora, a maioria das pessoas teria entendido facilmente, mas que, no entanto, ele interpreta como uma marca de seu estado pecaminoso, porque resultou da perda de um corpo feminino que ele tinha, em uma espécie de exploração sexual mútua, desfrutado por causa do prazer (Confissões 4. 2; para a visão defeituosa subjacente, comum na antiguidade, das relações eróticas, cf. Rist 1994: 249) em vez de “desfrutar” de sua pr[oxima “em Deus” e relacionar seu amor mútuo a ele (cf. 7.1 Felicidade; compare o pesar excessivo de Agostinho pelo amigo de sua juventude em Confissões 4.9-11 e contraste seu luto pós-conversão por Mônica, ib. 9.30-33).
As opiniões de Agostinho sobre a sexualidade são mais proeminentes em seus tratados anti-pelagianos, onde ele desenvolve uma teoria sobre a transmissão do pecado original do primeiro casal no paraíso para cada ser humano nascido desde então, tornando a concupiscência sexual o fator principal no processo (cf. E. Clark 1996 e 2000, que também leva em conta o passado maniqueísta de Agostinho). Na ética de Agostinho, a concupiscência (concupiscentia) não tem um significado especificamente sexual, mas é um termo abrangente que cobre todas as volições ou intenções opostas ao amor correto (ver Nisula 2012). A transgressão de Adão e Eva não consistiu em concupiscência sexual, mas em sua desobediência, que, assim como o pecado primordial dos anjos maus, estava enraizada no orgulho (ver 7.5 Vontade e o Mal). Por essa desobediência, eles, e toda a humanidade com eles, foram punidos com a desobediência do seu próprio eu, ou seja, a impossibilidade de controlar totalmente seus próprios apetites e volições e o estado akrático permanente (a “cobiça da carne contra o espírito”, nas palavras de Gálatas 5:17) que marca a humanidade caída. A incapacidade dos seres humanos de controlar seus desejos sexuais e até mesmo seus órgãos sexuais (testemunhe as experiências vergonhosas de ereção masculina involuntária ou de impotência: De civitate dei 14.15-16) é apenas um exemplo especialmente óbvio. Diferentemente da maioria dos primeiros escritores cristãos, Agostinho acreditava que havia relações sexuais no paraíso e que teria havido procriação mesmo sem a Queda; ele não compartilhava das idéias consagradas de alguns círculos ascéticos que esperavam compensar o primeiro pecado por meio da abstinência sexual, e tinha opiniões relativamente moderadas sobre a virgindade e a continência sexual (De sancta virginitate; Børresen 2013: 138; Brown 1988: cap. 19). Contudo, ele achava que Adão e Eva tinham sido capazes de controlar seus órgãos sexuais voluntariamente, de modo a limitar seu uso ao propósito natural da procriação; no paraíso, havia sexualidade, mas não concupiscência (De civitate dei 14.21-23). O pecado original destruiu esse estado ideal e, desde então, a concupiscência sexual é um concomitante inevitável da procriação — um mal que pode ser bem utilizado no casamento legítimo, em que o objetivo da relação sexual é a procriação de filhos e não o prazer corporal (De nuptiis et concupiscentia 1.16; Contra Iulianum 3. 15-16), mas que, no entanto, submete todo ser humano recém-nascido ao domínio do demônio, do qual precisa ser libertado por meio do batismo (De nuptiis et concupiscentia 1.25-26; para uma crítica enérgica das opiniões de Agostinho sobre a concupiscência, entre outras coisas, por causa de seu impacto sobre a moral sexual do cristianismo moderno, veja Pagels 1989, para uma defesa moderada Lamberigts 2000).
10. Criação e Tempo
Assim como os platonistas do final da antiguidade desenvolveram seu pensamento cosmológico comentando o Timeu de Platão, a filosofia natural de Agostinho é, em grande parte, uma teoria da criação baseada em uma exegese dos capítulos iniciais do Gênesis, sobre os quais ele escreveu cinco comentários extensos e ocasionalmente divergentes (De Genesi contra Manichaeos; De Genesi ad litteram liber imperfectus; Confissões 11-13; De Genesi ad litteram; De civitate dei 11-14). O mais longo e mais importante deles é o Comentário Literal sobre o Gênesis (De Genesi ad litteram). “Literal” não significa “literalista”, mas denota o pressuposto hermenêutico de que o texto é realmente sobre a criação do mundo (em oposição a uma leitura alegórica moralista ou profética do tipo proposto no De Genesi contra Manichaeos de Agostinho; as duas abordagens são compatíveis porque Agostinho, como Orígenes e o exegeta judeu Filo antes dele, acredita na existência de várias camadas de significado nas Escrituras; veja De Genesi ad litteram 1. 1.1 e, em geral, De doctrina christiana, lv. 3). De acordo com sua epistemologia da iluminação e sua teoria dos signos verbais, Agostinho toma o relato bíblico da criação como uma “admoestação” que o leva a conceber, com a ajuda do “mestre interior”, uma cosmologia teísta racional baseada na teologia trinitária (para a rejeição de explicações que contradizem as descobertas dos filósofos naturais ou as leis da natureza, cf., por exemplo, De Genesi ad litteram 2.9.21). No De Genesi ad litteram, nas Confissões e, em menor grau, no De civitate dei, Agostinho apresenta sua exegese de maneira questionadora e mantém os resultados abertos à revisão. A razão é que, de acordo com a hermenêutica desenvolvida especialmente no livro 12 das Confissões, a intenção autoral do texto das Escrituras, ou de fato de qualquer texto, não pode ser recuperada, de modo que — uma vez que a veracidade das Escrituras pode ser considerada garantida — leituras diferentes e até mesmo incompatíveis devem ser consideradas adequadas se concordarem com o que o texto diz e se forem sancionadas pela verdade que acessamos interiormente por meio da razão e que é, em última análise, o próprio Deus (veja especialmente Confissões 12.27; 43; De doctrina christiana 3.38, onde Agostinho afirma que o Espírito Santo providencialmente permitiu uma plenitude de significados das Escrituras a fim de levar diferentes pessoas a diferentes aspectos da verdade; Williams 2001; van Riel 2007; Dutton 2014: 175-179; e, sobre os fundamentos epistemológicos dessa hermenêutica, Cary 2008b: 135-138). As características básicas e recorrentes do pensamento cosmológico de Agostinho são estas (cf. Knuuttila 2001: 103-109; Mayer 1996-2002, cada um com referências): Deus não cria no tempo, mas cria o tempo junto com o ser mutável enquanto repousa na eternidade atemporal (Confissões 11.16; De Genesi ad litteram 5.5.12; a distinção entre eternidade e tempo é platônica, cf. Timeu 37c-38b; Plotino, Enéadas III.7.1). A criação ocorre instantaneamente; os sete dias da criação não devem ser considerados literalmente, mas são um meio didático de tornar clara a ordem intrínseca da realidade (Confissões 12.40; De Genesi ad litteram 1.15.29). Tal como o demiurgo no Timeu, Deus cria por bondade, ou seja, por sua boa vontade e seu amor gratuito por sua criação (De civitate dei 11.24). Na criação, todas as três pessoas da Trindade são ativas, com, grosso modo, o Pai respondendo pela existência, o Filho (a quem, na leitura de Agostinho, as palavras iniciais do Gênesis, in principio, se referem) pela forma ou essência e o Espírito Santo pela bondade e ordenação de cada ser criado (Confissões 11.11; De civitate dei 11.24). Como a causalidade da Trindade se faz sentir em toda parte da criação, Agostinho gosta de descrever os seres criados em sua relação com a causa divina de uma maneira triádica, usando, por exemplo, as categorias “medida”, “forma” e “paz/ordem” (por exemplo, De vera religione 13; De natura boni 3; De civitate dei 12.5; cf. Schäfer 2000 e, para uma discussão muito completa, du Roy 1966). Esses “traços” da Trindade na criação não devem ser confundidos com a estrutura trinitária do intelecto humano, que, sozinho entre todos os seres criados, é uma imagem de Deus. O ser mutável não é gerado a partir de Deus (o que, de acordo com o Credo Niceno, é verdadeiro apenas para o Filho), mas criado a partir do nada, um fato que explica em parte sua suscetibilidade ao mal. Mais precisamente, Deus “primeiro” cria a matéria sem forma a partir do nada (razão pela qual a matéria em Agostinho, diferentemente dos neoplatônicos, tem um status ontológico mínimo; cf. Confissões 12.6; Tornau 2014: 189-194) e “então” a forma, transmitindo a ela os princípios racionais (rationes) que existem eternamente em sua mente (De diversis quaestionibus 46.2) ou, como Agostinho prefere dizer, em sua Palavra, ou seja, a Segunda Pessoa da Trindade. Esse processo formativo é a exegese de Agostinho da “palavra” bíblica de Deus (Gênesis 1:1 e João 1:1). Os seres incorpóreos e puramente intelectuais, ou seja, os anjos, são criados a partir da matéria inteligível que é criada do nada e convertida ao criador para ser formada por meio da “audição” da palavra de Deus, ou seja, por sua contemplação das Formas contidas em Deus (De Genesi ad litteram 1.4.9-1.5.11, uma idéia inspirada no padrão neoplatônico de permanência, procissão e retorno). O ser corpóreo é criado quando as Formas ou princípios racionais contidos em Deus e contemplados pelos anjos são ainda mais externalizados de modo a informar não apenas a matéria inteligível, mas também a matéria física (De Genesi ad litteram 2.8.16; 4.22.39).
Tudo isso é a estrutura da famosa meditação de Agostinho sobre o tempo nas Confissões (11.17-41), cujo contexto é uma exegese do Gênesis e que pressupõe constantemente a distinção entre tempo e eternidade (muito foi escrito sobre esse texto, mas tratamentos particularmente esclarecedores estão em Flasch 1993; Mesch 1998: 295-343; Matthews 2005: 76-85; Helm 2014; Hoffmann 2017). Agostinho abre a seção com a pergunta: “O que é o tempo?” (Confissões 11.17), mas de fato não tem a intenção de dar uma definição de tempo. Enquanto seus relatos fora das Confissões se concentram no tempo cósmico ou físico, aqui ele se concentra em como experimentamos o tempo a partir de uma perspectiva de primeira pessoa e o que significa para nós e nosso relacionamento conosco e com Deus existir temporalmente. Nesse sentido, o propósito do livro é mais ético do que cosmológico. Agostinho começa observando que, embora nenhuma das três “partes” familiares do tempo, passado, presente e futuro, exista de fato (o passado deixou de existir, o futuro ainda não existe e o presente não tem extensão), o tempo sem dúvida tem realidade para nós. Isso acontece porque o tempo está presente para nós na forma de nossa memória atual do passado, nossa atenção atual ao presente e nossa expectativa atual do futuro (ib. 11.26). A prova fenomenal dessa afirmação é a experiência de medir o tempo comparando porções de tempo lembradas ou esperadas umas com as outras ou de repetir um poema que sabemos de cor, quando, à medida que prosseguimos, as palavras atravessam nossa atenção (o presente), passando da expectativa (o futuro) para a memória (o passado; ib. 11.38). Assim, seríamos incapazes de relacionar eventos passados, presentes e futuros, de lembrar a história de nossas próprias vidas e até mesmo de ter consciência de nossa identidade pessoal se nosso ser no tempo não estivesse dividido em memória, atenção e expectativa e, ao mesmo tempo, unificado pela conexão e pela presença simultânea delas. Esse estado ambivalente Agostinho chama de “uma distensão da alma” (ib. 11.33; 38-39, talvez ecoando Plotino, Enéadas III.7.11.41); esse é o mais próximo que Confissões 11 chega de uma definição de tempo. A estabilidade dessa unidade precária depende, entretanto, da unidade superior do Deus eterno — como ensina toda a narrativa das Confissões, não podemos dar sentido à memória de nossa vida a menos que percebamos a presença incessante da providência e da graça de Deus nela. Perto do final do livro, Agostinho introduz o “esforço para o futuro” paulino (Filipenses 3:12-14) — tal como ele o lê, a orientação ou “intenção” da alma em direção a Deus — como um contraponto à distensão da alma no tempo e conclui com uma exortação para que nos voltemos da dispersão da existência temporal para a eternidade atemporal de Deus, a única que garante a verdade e a estabilidade (ib. 11.39-41).
11. Legado
O impacto de Agostinho na filosofia posterior é tão grande quanto ambivalente (para uma visão geral, consulte Fuhrer 2018a: 1742-1750; para todas as questões de detalhes, Pollmann (ed.) 2013; para De trinitate, Kany 2007). Embora ele tenha sido logo aceito como uma autoridade teológica e o consenso com ele tenha sido considerado um padrão de ortodoxia durante toda a Idade Média e além, seus pontos de vista — ou mais precisamente, a maneira correta de interpretá-los — continuaram a provocar controvérsias. No século IX, o monge Gottschalk considerou que a doutrina da graça de Agostinho implicava em dupla predestinação (um termo cunhado por ele); ele foi contestado por John Scotus Eriugena. O discurso filosófico do início do escolasticismo (séculos XI e XII) se concentrou em grande parte nos temas agostinianos. A prova de Anselmo da existência de Deus desenvolve o argumento de De libero arbitrio, lv. 2; os debates dos eticistas sobre vontade e consciência baseiam-se nas suposições do intencionalismo moral de Agostinho, e a opinião de Abelardo de que a ética é universal e aplicável tanto à agência humana quanto à divina pode ser lida como uma resposta aos problemas da teoria da eleição divina de Agostinho. Com a crescente influência de Aristóteles a partir do século XIII, Agostinho passou a ser interpretado em termos aristotélicos que, em grande parte, eram desconhecidos para ele. Tomás de Aquino e outros tinham pouco interesse no platonismo de Agostinho, e havia uma certa tensão entre a tendência medieval de procurar um sistema filosófico e teológico ensinável em seus textos e sua própria maneira de investigação filosófica, que era moldada pela tradição antiga e deixava espaço para argumentos provisórios e estava aberta à revisão. O agostinianismo político medieval projetou o conflito das Duas Cidades na Igreja e no Estado. Martinho Lutero (1483-1546) concorda com Agostinho sobre a absoluta gratuidade da graça, mas não segue o ideal agostiniano (e escolástico) do intellectus fidei e faz da fé no Evangelho a condição decisiva da salvação. Em seu debate com Erasmo sobre o livre-arbítrio, ele expressa um pessimismo bastante agostiniano sobre a liberdade humana. A variedade do protestantismo inaugurada por João Calvino (1509-1564) aceita a dupla predestinação. No século XVII, o cogito de Descartes foi logo reconhecido como uma idéia agostiniana e provocou um novo interesse pela epistemologia de Agostinho. Na mesma época, o movimento jansenista apresentou uma interpretação radical da teologia da graça e da justificação de Agostinho, que foi ferozmente combatida pela Igreja Católica. Nos séculos XVIII e XIX, os principais filósofos do Iluminismo, do Idealismo Alemão e do Romantismo demonstraram pouco interesse em Agostinho e até mesmo, no caso de Nietzsche, desprezo absoluto. No entanto, ele continuou sendo uma figura importante no neoescolasticismo ou neotomismo, uma reação filosófica dos filósofos católicos contra o Iluminismo e o Idealismo, que continuou a informar os estudos teológicos católicos sobre Agostinho até a década de 1950 e além. No século XX, a filosofia do tempo de Agostinho (Confissões 11) recebeu uma atenção filosófica enorme e sem precedentes de pensadores como Edmund Husserl (1859-1938), Martin Heidegger (1889-1976) e Paul Ricœur (1913-2005), alguns dos quais creditaram a Agostinho sua própria compreensão subjetivista do tempo. Hannah Arendt (1906-1975) escreveu sua tese de doutorado sobre a filosofia do amor de Agostinho e o culpou, o que não é incomum em sua época, por degradar o amor ao próximo a um instrumento de felicidade pessoal. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) discorda do que considera a visão de Agostinho sobre a linguagem e a aquisição da linguagem em toda a sua análise da linguagem nas Investigações Filosóficas. Os pensadores pós-modernistas (Jean-Luc Marion, John Milbank) contrapuseram a noção de eu de Agostinho, na qual o amor é percebido como parte integrante, ao suposto egoísmo e isolamento do sujeito cartesiano, que é considerado a marca registrada e, por assim dizer, o defeito de nascença da modernidade. Como seus predecessores medievais, as apropriações modernas e pós-modernas de Agostinho são seletivas e inevitavelmente condicionadas pelas preocupações contemporâneas, resultando, às vezes, em leituras secularizadas. A cultura ocidental contemporânea tem pouca simpatia pelo anseio de Agostinho por uma luz divina interior ou por suas opiniões pouco otimistas sobre a autonomia humana e sobre o secular. No entanto, a riqueza de seu pensamento continua a fascinar os leitores.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com

Bibliography
Editions
Today critical editions of most of Augustine’s works are available. Almost all the books, the complete letters and a considerable portion of the sermons have been edited in the series
- [CSEL] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Wien: Holder, Pichler, Tempsky, latest volumes Berlin: De Gruyter) and
- [CCL] Corpus Christianorum Series Latina (Turnhout: Brepols). New critical editions are continually being prepared and older ones replaced.
The Patrologia Latina edition [PL] (Jacques-Paul Migne (ed.), Paris 1877), which used to be the standard edition, is a reprint of the edition of the Benedictines of St.-Maur in Paris from the seventeenth century and naturally does not meet modern critical standards; it remains necessary only for about a third of the sermons for which modern editions are still lacking.
For a full list of Augustine’s works and the standard critical editions see
- Augustinus-Lexikon 4 (2012–2018), pp. XI–XXXIV (available online); Fitzgerald (ed.) 1999, xxxv–il.
A complete work list is also found in Fuhrer 2018a: 1680–1687.
Translations
The most famous works of Augustine, Confessiones and De civitate dei, have often been translated in various modern languages, but for many of the other works only dated translations or none at all are available. The Zentrum für Augustinusforschung, Würzburg, provides a list of (mostly older) translations that are available online.
English
English translations of Augustine’s works down to 1999 are listed in Fitzgerald (ed.) 1999, xxxv–xlii. A nearly complete modern translation is:
- [WSA] The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century, 46 vols., John E. Rotelle et al. (eds.), New York: New City Press, 1991–2019. Reliable and modern, but almost without annotation.
Two older series of Patristic writers in translation include selected works of Augustine:
- [FC] The Fathers of the Church, Ludwig Schopp et al. (eds.), New York: Cima Publishing, 1947ff.
- [ACW] Ancient Christian Writers. The Works of the Fathers in Translation, Johannes Quasten et al. (eds.), New York: Newman Press 1946ff.
French
The last complete translations of Augustine into French date from the nineteenth century. The—still incomplete—standard translation series is:
- [BA] Bibliothèque Augustinienne. Œuvres de saint Augustin, Paris: Études Augustiniennes 1936ff. Bilingual editions with rich annotation that often comes close to a commentary. Especially important are the volumes on
- Confessiones (BA 13–14, edited by Aimé Solignac et al., 1962),
- De civitate dei (BA 33–37, edited by Guillaume Bardy and Guillaume Combès, 1959–1960),
- De Genesi ad litteram (BA 48–49, edited by Paul Agaësse and Aimé Solignac, 1972) and
- Letters 1–30 (BA 40/A, edited by Serge Lancel, Emmanuel Bermon et al., 2011).
German
No complete translation of Augustine’s work into German exists. Useful older translations are available in the series Bibliothek der Kirchenväter (BKV; 1st series: 8 vols., München: Kösel 1871–1879; 2nd series: 12 vols., München: Kösel 1911–1936). An annotated bilingual edition of Augustine’s Opera omnia was begun in 2002:
- [AOW] Augustinus: Opera—Werke, Wilhelm Geerlings, Johannes Brachtendorf, and Volker Henning Drecoll (eds.), Paderborn: Schöningh, 2002ff. 82 volumes planned, 13 completed.
A bilingual edition of the anti-Pelagian treatises with full annotation is:
- Kopp, Sebastian, Thomas Gerhard Ring, and Adolar Zumkeller (eds.), 1955–1997, Sankt Augustinus—Der Lehrer der Gnade. Gesamtausgabe seiner antipelagianischen Schriften, 8 vols. (6 completed), Würzburg: Augustinus-Verlag.
Italian
- [NBA] Nuova Biblioteca Agostiniana. Opere di Sant’Agostino. Edizione latino-italiana, 44 vols., Agostino Trapé et al. (eds.), Roma: Città Nuova Editrice, 1965–2010. Complete.
Commentaries
Except for the Confessiones and the Cassiciacum dialogues, detailed commentaries on Augustine’s writings are rare, especially in English. Here is a selection:
- O’Donnell; James J., 1992, Augustine: Confessions, 3 vols., Oxford: Oxford University Press. Introduction, text and commentary. [O’Donnell 1992 available online]
- Simonetti, Manlio et al. (eds.), 1992–1997, Sant’Agostino. Confessioni. 5 vols., Milano: Mondadori. Critically revised text, translation and commentary.
- Flasch, Kurt, 1993, Was ist Zeit? Augustinus von Hippo. Das XI. Buch der Confessiones, Frankfurt/Main: Klostermann (2nd edition 2004).
- Fuhrer, Therese, 1997, Augustin, Contra Academicos (vel De Academicis), Bücher 2 und 3, Einleitung und Kommentar, Berlin/New York: De Gruyter.
- Watson, Gerard, 1990, Saint Augustine. Soliloquies and Immortality of the Soul, with an Introduction, translation and Commentary, Warminster: Aris & Phillips.
- Bermon, Emmanuel, 2007, La signification et l’enseignement. Texte latin, traduction française et commentaire du ‘De magistro’ de Saint Augustin, Paris: Vrin.
Reference Works
- Augustinus-Lexikon, edited by Cornelius Mayer et al., Basel: Schwabe, 1986ff. Four volumes out of five completed (down to “Sacrificium”). Articles in English, French and German, lemmata in Latin. Also available online (license required).
- Corpus Augustinianum Gissense, a Cornelio Mayer editum 3.0 (CAG-online), Basel: Schwabe. Searchable database of Augustine’s complete works in Latin, based on the most recent editions (including quotation search), and bibliographical database with over 50,000 titles. License required. Free access to the bibliographical database at the “Literatur-Portal” of Zentrum für Augustinusforschung, Würzburg (available online).
- Drecoll, Volker Henning (ed.), 2007, Augustin Handbuch, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Fitzgerald, Allan D. (ed.), 1999, Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grand Rapids, MI: Eerdmans 1999. Encyclopedia in one volume, translated into
- French: Saint Augustin. La Méditerranée et l’Europe, IVe–XXIe siècle, Paris: Édition du Cerf, 2005
- Italian: Agostino. Dizionario enciclopedico, Roma: Città Nuova Editrice, 2007.
- Fuhrer, Therese, 2018a, “§ 144. Augustinus von Hippo”, in Christoph Riedweg, Christoph Horn, and Dietmar Wyrwa (eds.), Die Philosophie der Antike 5.2: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike, Basel: Schwabe, pp. 1672–1750. With full bibliography down to 2018 (ib. pp. 1828–1853).
- Pollmann, Karla (ed.), 2013, The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, 3 vols., Oxford: Oxford University Press.
Introductory and General
- Brown, Peter, 2000, Augustine of Hippo. A Biography. A New Edition with an Epilogue, second edition, London: Faber & Faber (first edition 1967). Translated into
- German: Augustinus von Hippo. Eine Biographie, Frankfurt: Societäts-Verlag, 1973, second edition 2000.
- French: La vie de saint Augustin, Paris: Éditions du Seuil, 1971.
- Catapano, Giovanni, 2010a, Agostino, Roma: Carocci.
- Gilson, Étienne, 1943, Introduction à l’étude de saint Augustin, second edition, Paris: Vrin. English translation: The Christian Philosophy of Saint Augustine, L.E.M. Lynch (trans.), New York: Random House, 1960.
- Horn, Christoph, 1995, Augustinus, München: Beck.
- Kirwan, Christopher, 1989, Augustine, New York: Routledge.
- Matthews, Gareth B., 2005, Augustine, Malden: Blackwell.
- Meconi, David Vincent and Eleonore Stump (eds.), 2014, The Cambridge Companion to Augustine, second edition, Cambridge: Cambridge University Press 2014. Revised and enlarged edition of Stump and Kretzmann (eds.) 2001. doi:10.1017/CCO9781139178044
- O’Donnell, James J., 2005, Augustine. A New Biography, New York: HarperCollins.
- Rist, John M., 1994, Augustine. Ancient Thought Baptized, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stump, Eleonore and Norman Kretzmann (eds.), 2001, The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL0521650186
- Vessey, Mark (ed.), 2012, A Companion to Augustine, Chichester: Blackwell. doi:10.1002/9781118255483
- Wetzel, James, 2010, Augustine. A Guide for the Perplexed, London/New York: Bloomsbury.
Greek and Latin Authors Cited
- Cicero, De officiis, Michael Winterbottom (ed.), Oxford: Oxford University Press, 1994.
- –––, Tusculanae disputationes, Max Pohlenz (ed.), Leipzig: Teubner, 1918.
- Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers, Tiziano Dorandi (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis – Commentaire au songe de Scipion, Mireille Armisen-Marchetti (ed. trans.), 2 vols., Paris, 2003.
- Plato, Opera, Elizabeth A. Duke, et al. (eds.), Oxford: Oxford University Press, 1995 (vol. 1); John Burnet (ed.), Oxford: Oxford University Press 1901–1907 (vols. 2–5).
- Plotinus, Opera, Paul Henry and Hans-Rudolf Schwyzer (eds.), 3 vols., Oxford: Oxford University Press, 1964–1982.
- Porphyry, Sententiae ad intelligibilia ducentes, Erich Lamberz (ed.), Leipzig: Teubner, 1975.
- Possidius, Sancti Augustini vita, Herbert T. Weiskotten (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1919.
- Sextus Empiricus, Opera, Hermann Mutschmann et al. (eds.), 4 vols., Leipzig: Teubner, 1914–1962.
- Long, Anthony A. and David N. Sedley (eds.), 1987, The Hellenistic Philosophers, Cambridge: Cambridge University Press.
Selected Secondary Literature
- Ayres, Lewis, 2010, Augustine and the Trinity, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511780301
- BeDuhn, Jason D., 2010, Augustine’s Manichaean Dilemma 1: Conversion and Apostasy, 373–388 C.E., Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- –––, 2013, Augustine’s Manichaean Dilemma 2. Making a “Catholic” Self, 388–401 C.E., Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bermon, Emmanuel, 2001, Le cogito dans la pensée de saint Augustin, Paris: Vrin.
- Bermon, Emmanuel and Gerard O’Daly (eds.), 2012, Le De Trinitate de saint Augustin. Exégèse, logique et noétique. Actes du colloque international de Bordeaux, 16–19 juin 2010, Paris: Études Augustiniennes.
- Bittner, Rüdiger, 1999, “Augustine’s Philosophy of History”, in Matthews 1999: 345–360.
- Bochet, Isabelle, 2011, “Les quaestiones attribuées à Porphyre dans la Lettre 102 d’Augustin”, in Sébastien Morlet (ed.), Le traité de Porphyre Contre les chrétiens. Un siècle de recherches, nouvelles questions. Actes du colloque international organisé les 8 et 9 septembre 2009 à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Paris: Études Augustiniennes, pp. 371–394.
- Børresen, Kari E., 2013, “Challenging Augustine in Feminist Theology and Gender Studies”, in Pollmann 2013: 135–141.
- Bouton-Touboulic, Anne-Isabelle, 2004, L’ordre caché. La notion d’ordre chez saint Augustin, Paris: Études Augustiniennes.
- –––, 2012, “Qu’il n’y a pas d’amour sans connaissance: étude d’un argument du De Trinitate, livres VIII–XV”, in Bermon and O’Daly 2012: 181–203.
- Brachtendorf, Johannes, 2000, Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus. Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in De trinitate, Hamburg: Meiner.
- –––, 2005, Augustins ‘Confessiones’, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- –––, 2012, “Time, Memory, and Selfhood in De Trinitate”, in Bermon and O’Daly 2012: 221–233.
- Brittain, Charles, 2002, “Non-Rational Perception in the Stoics and Augustine”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 22: 253–308.
- –––, 2003, “Colloquium 7: Attention Deficit in Plotinus and Augustine: Psychological Problems in Christian and Platonist Theories of the Grades of Virtue”, Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, 18: 223–275. doi:10.1163/22134417-90000043
- –––, 2012a, “Self-Knowledge in Cicero and Augustine (De trinitate, X, 5, 7–10, 16)”, in Catapano and Cillerai 2012: 107–135.
- –––, 2012b, “Intellectual Self-Knowledge in Augustine (De Trinitate 14.7–14)”, in Bermon and O’Daly 2012: 313–330.
- Brown, Peter, 1988, The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York: Columbia University Press. Translated into
- German: Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit im frühen Christentum, München: Hanser, 1991.
- French: Le Renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dans le christianisme primitif, Paris: Gallimard, 1995.
- Bubacz, Bruce, 1981, St. Augustine’s Theory of Knowledge. A Contemporary Analysis, New York: Edwin Mellen Press.
- Burnell, Peter J., 1992, “The Status of Politics in St. Augustine’s ‘City of God’”, History of Political Thought, 13(1): 13–29.
- –––, 1995, “Concupiscence and Moral Freedom in Augustine and before Augustine”:, Augustinian Studies, 26(1): 49–63. doi:10.5840/augstudies19952612
- Burnyeat, Myles F., 1987, “Wittgenstein and Augustine De Magistro”, Aristotelian Society Supplementary Volume, 61: 1–24. Reprinted in Matthews 1999: 286–303. doi:10.1093/aristoteliansupp/61.1.1
- Byers, Sarah, 2012a, “Augustine and the Philosophers”, in Vessey 2012: 175–187. doi:10.1002/9781118255483.ch14
- –––, 2012b, “The Psychology of Compassion: Stoicism in City of God 9.5”, in Wetzel 2012: 130–148. doi:10.1017/CBO9781139014144.008
- –––, 2013, Perception, Sensibility, and Moral Motivation in Augustine: A Stoic-Platonic Synthesis, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139086110
- Cary, Phillip, 2000, Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of a Christian Platonist, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2008a, Inner Grace: Augustine in the Traditions of Plato and Paul, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195336481.001.0001
- –––, 2008b, Outward Signs: The Powerlessness of External Things in Augustine’s Thought, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195336498.001.0001
- Cary, Phillip, John Doody, and Kim Paffenroth (eds.), 2010, Augustine and Philosophy, Lanham, MD: Lexington Books.
- Cassin, Mireille, 2017, Augustin est-il mystique?, Paris: Les éditions du Cerf.
- Castagnoli, Luca, 2010, Ancient Self-Refutation: The Logic and History of the Self-Refutation Argument from Democritus to Augustine, Cambridge: Cambridge University Press.
- Catapano, Giovanni, 2010, “Augustine”, in The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, Lloyd Gerson (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1:552–581. doi:10.1017/CHOL9780521764407.038
- –––, 2013, “The Epistemological Background of Augustine’s Dialogues”, in Sabine Föllinger and Gernot M. Müller (eds.), Der Dialog in der Antike. Formen und Funktionen einer literarischen Gattung zwischen Philosophie, Wissensvermittlung und dramatischer Inszenierung, Berlin/Boston: De Gruyter, pp. 107–122.
- –––, 2012–2018a, “Philosophia”, Augustinus-Lexikon, 4: 719–742.
- –––, 2012–2018b, “Ratio”, Augustinus-Lexikon, 4: 1069–1084.
- –––, forthcoming, “Signum—res”, Augustinus-Lexikon, 5.
- Catapano, Giovanni and Beatrice Cillerai (eds.), 2012, Il De trinitate di Agostino e la sua fortuna nella filosofia medievale/Augustine’s De trinitate and Its Fortune in Medieval Philosophy (= Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 27), Padova: Il Poligrafo.
- Chappell, Timothy D.J., 1995, Aristotle and Augustine on Freedom. Two Theories of Freedom, Voluntary Action and Akrasia, New York: St. Martin’s Press.
- Cillerai, Beatrice, 2008, La memoria come ‘capacitas Dei’ secondo Agostino. Unità e complessità, Pisa: Edizioni ETS.
- –––, 2012, “La mens-imago et la « mémoire métaphysique » dans la réflexion trinitaire de saint Augustin”, in Bermon and O’Daly 2012: 291–312.
- Clark, Elizabeth A., 1996, St. Augustine on Marriage and Sexuality, Washington, DC: The Catholic University of America Press.
- –––, 2000, “Vitiated Seeds and Holy Vessels. Augustine’s Manichean Past”, in Karen L. King (ed.), Images of the Feminine in Gnosticism, Harrisburg, PA: Trinity Press International, pp. 367–401.
- Clark, Gillian, 2009, “Can We Talk? Augustine and the Possibility of Dialogue”, in The End of Dialogue in Antiquity, Simon Goldhill (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 117–134. doi:10.1017/CBO9780511575464.007
- –––, 2015, Monica. An Ordinary Saint, Oxford: Oxford University Press.
- Colish, Marcia L., 1980, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages II: Stoicism in Latin Christian Thought through the Sixth Century, Leiden: Brill.
- den Bok, Nico W., 1994, “Freedom of the Will: A Systematic and Biographical Sounding of Augustine’s Thoughts on Human Willing”, Augustiniana, 44(3/4): 237–270.
- Dihle, Albrecht, 1982, The Theory of Will in Classical Antiquity, Berkeley: University of California Press 1982. German translation: Die Vorstellung vom Willen in der Antike, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.
- Dobell, Brian, 2009, Augustine’s Intellectual Conversion: The Journey from Platonism to Christianity, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511691744
- Dodaro, Robert, 2004a, Christ and the Just Society in the Thought of Augustine, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511487668
- –––, 2004b, “Political and Theological Virtues in Augustine, Letter 155 to Macedonius”, Augustiniana, 54(1/4): 431–474.
- –––, 2009, “Ecclesia and Res publica. How Augustinian are Neo-Augustinian Politics?”, in: Lieven Boeve, Mathijs Lamberigts, and Maarten Wisse (eds.), Augustine and Postmodern Thought. A New Alliance against Modernity? Leuven: Peeters, pp. 237–271.
- –––, 2012, “Augustine on the Statesman and the Two Cities”, in Vessey 2012: 386–397. doi:10.1002/9781118255483.ch30
- Doody, John, Kevin L. Hughes, and Kim Paffenroth (eds.), 2005, Augustine and Politics, Lanham: Lexington Books.
- Drecoll, Volker Henning, 1999, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins, Tübingen: Mohr Siebeck.
- –––, 2004–2010, “Gratia”, Augustinus-Lexikon, 3. 182–242.
- –––, 2012–2018, “Pelagius, Pelagiani”, Augustinus-Lexikon, 4: 624–666.
- du Roy, Olivier, 1966, L’intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de sa théologie trinitaire jusqu’en 391, Paris: Études Augustiniennes.
- Dutton, Blake D., 2014, “The Privacy of the Mind and the Fully Approvable Reading of Scripture”, in Mann 2014: 155–180. doi:10.1093/acprof:oso/9780199577552.003.0008
- Dyson, Robert W., 2001, The Pilgrim City. Social and Political Ideas in the Writings of St. Augustine of Hippo, Woodbridge: Boydell.
- Flasch, Kurt, 1995, Logik des Schreckens. Aurelius Augustinus, De diversis quaestionibus ad Simplicianum I 2, Deutsche Erstübersetzung von Walter Schäfer. Herausgegeben und erklärt von Kurt Flasch, second edition, Mainz: Dieterich (first edition 1990).
- Frede, Michael, 2011, A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought, Anthony A. Long (ed.), Berkeley: University of California Press.
- Fuchs, Marko J., 2010, Sum und cogito. Grundfiguren endlichen Selbstseins bei Augustinus und Descartes, Paderborn: Schöningh.
- Fuhrer, Therese, 1999, “Zum erkenntnistheoretischen Hintergrund von Augustins Glaubensbegriff”, in Fuhrer and Erler 1999: 191–211.
- –––, 2013, “Augustine’s Moulding of the Manichaean Idea of God in the Confessions”, Vigiliae Christianae, 67(5): 531–547. doi:10.1163/15700720-12341155
- –––, 2018b, “Ille intus magister. On Augustine’s didactic concept of interiority”, in Peter Gemeinhardt et al. (eds.), Teachers in late antique Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 129–146.
- Fuhrer, Therese and Michael Erler (eds.), 1999, Zur Rezeption der hellenistischen Philosophie in der Spätantike, Stuttgart: Teubner.
- Gioia, Luigi, 2007, The Theological Epistemology of Augustine’s De Trinitate, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199553464.001.0001
- Hadot, Ilsetraut, 2005, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique, second edition, Paris: Vrin (first edition 1984).
- Hagendahl, Harald, 1967, Augustine and the Latin Classics, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
- Harding, Brian, 2008, Augustine and Roman Virtue, London/New York: Bloomsbury.
- Harrison, Carol, 2006, Rethinking Augustine’s Early Theology: An Argument for Continuity, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0199281661.001.0001
- Harrison, Simon, 1999, “Do We Have a Will? Augustine’s Way in to the Will”, in Matthews 1999: 195–205.
- –––, 2006, Augustine’s Way into the Will: The Theological and Philosophical Significance of De Libero Arbitrio, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198269847.001.0001
- Helm, Paul, 2014, “Thinking Eternally*”, in Mann 2014: 135–154. doi:10.1093/acprof:oso/9780199577552.003.0007
- Hoffmann, Philippe, 2017, “Temps et éternité dans le livre XI des Confessions : Augustin, Plotin, Porphyre et Saint Paul”, Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques, 63(1): 31–79. doi:10.1484/J.REA.4.2017072
- Holmes, Robert L., 1999, “St. Augustine and the Just War Theory”, in Matthews 1999: 323–344.
- Hölscher, Ludger, 1986, The Reality of Mind. Augustine’s Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance, London/New York: Routledge. German translation: Die Realität des Geistes. Eine Darstellung und phänomenologische Neubegründung der Argumente Augustins für die geistige Substantialität der Seele, Heidelberg: Winter 1999.
- Holte, Ragnar, 1962, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme dans la philosophie ancienne, Paris: Études Augustiniennes.
- Horn, Christoph, 1996, “Augustinus und die Entstehung des philosophischen Willensbegriffs”, Zeitschrift für philosophische Forschung 50(1/2): 113–132.
- ––– (ed.), 1997, Augustinus. De civitate dei, (Klassiker Auslegen, 11), Berlin: Akademie Verlag.
- –––, 1999, “Augustinus über Tugend, Moralität und das höchste Gut”, in Fuhrer and Erler 1999: 173–190.
- –––, 2012, “Augustine’s Theory of Mind and Self-Knowledge: Some Fundamental Problems”, in Bermon and O’Daly 2012: 205–219.
- Irwin, Terence H., 1999, “Splendid Vices? Augustine For and Against Pagan Virtues”, Medieval Philosophy and Theology, 8(2): 105–127. doi:10.1017/S1057060899082018
- Kahn, Charles H., 1988, “Discovering the Will. From Aristotle to Augustine”, in John M. Dillon and Anthony A. Long (eds.), The Question of ‘Eclecticism’. Studies in Later Greek Philosophy, Berkeley, CA: The University of California Press, pp. 234–259.
- Kany, Roland, 2007, Augustins Trinitätsdenken. Bilanz, Kritik und Weiterführung der modernen Forschung zu ‘De trinitate’, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Karfíková, Lenka, 2012, Grace and the Will According to Augustine, Markéta Janebová (trans.), Leiden/Boston: Brill. doi:10.1163/9789004229211
- –––, 2017, “Augustine on Recollection between Plato and Plotinus”, in Markus Vinzent (ed.), Studia Patristica 75. Papers presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015, Leuven: Peeters, pp. 81–102.
- King, Peter, 2012, “The Semantics of Augustine’s Trinitarian Analysis in De Trinitate 5–7”, in Bermon and O’Daly 201: 123–135.
- –––, 2014a, “Augustine on Knowledge”, in Meconi and Stump 2014: 142–165. doi:10.1017/CCO9781139178044.013
- –––, 2014b, “Augustine on Language”, in Meconi and Stump 2014: 292–310. doi:10.1017/CCO9781139178044.023
- Kirwan, Christopher, 2001, “Augustine’s Philosophy of Language”, in Stump and Kretzmann 2001: 186–204. doi:10.1017/CCOL0521650186.015
- Knuuttila, Simo, 2001, “Time and Creation in Augustine”, in Stump and Kretzmann 2001: 103–115. Reprinted in Meconi and Stump 2014: 81–97. doi:10.1017/CCOL0521650186.009 doi:10.1017/CCO9781139178044.008
- Lagouanère, Jérôme, 2012, Intériorité et réflexivité dans la pensée de saint Augustin. Formes et genèse d’une conceptualization, Paris: Études Augustiniennes.
- Lamberigts, Mathijs, 2000, “A Critical Evaluation of Critiques of Augustine’s View of Sexuality”, in Robert Dodaro and George Lawless (eds.), Augustine and his Critics. Essays in Honour of Gerald Bonner, London/New York: Routledge, pp. 176–197.
- –––, 2001, “Was Augustine a Manichaean? The Assessment of Julian of Aeclanum”, in Johannes van Oort et al. (eds.), Augustine and Manicheism in the Latin West, Leiden: Brill, pp. 113–136.
- –––, 2004, “Augustine on Predestination. Some Quaestiones Disputatae Revisited”, Augustiniana, 54(1/4): 279–305.
- Lancel, Serge and James S. Alexander, 1996–2002, “Donatistae”, Augustinus-Lexikon, 2: 606–638.
- Lettieri, Gaetano, 2001, L’altro Agostino. Ermeneutica e retorica della grazia dalla crisi alla metamorfosi del De doctrina christiana, Brescia: Morcelliana.
- Lössl, Josef, 2002, “Augustine on Predestination: Consequences for the Reception”, Augustiniana, 52(2/4): 241–272.
- Lorenz, Rudolf, 1964, “Gnade und Erkenntnis bei Augustinus”, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 75: 21–78. Reprinted in Carl Andresen (ed.), Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart II, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1981, pp. 43–125.
- MacDonald, Scott, 1999, “Primal Sin”, in Matthews 1999: 110–139.
- –––, 2012a, “Revisiting the Intelligibles: The Theory of Illumination in De trinitate, XII”, in Catapano and Cillerai 2012: 137–160.
- –––, 2012b, “Augustine’s Cognitive Voluntarism in De trinitate 11”, in Bermon and O’Daly 2012: 235–250.
- –––, 2014, “The Divine Nature: Being and Goodness”, in Meconi and Stump 2014: 17–36. doi:10.1017/CCO9781139178044.004
- Madec, Goulven, 1989, La patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de saint Augustin, Paris: Desclée.
- –––, 1996, Saint Augustin et la philosophie. Notes critiques, second edition, Paris: Études Augustiniennes.
- Mann, William E., 1999, “Inner-Life Ethics”, in Matthews 1999: 140–165.
- ––– (ed.), 2006, Augustine’s Confessions. Critical Essays, Lanham: Rowman & Littlefield.
- –––, 2014, “Augustine on Evil and Original Sin”, in Meconi and Stump 2014: 98–107. doi:10.1017/CCO9781139178044.009
- ––– (ed.), 2014, Augustine’s Confessions: Philosophy in Autobiography, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199577552.001.0001
- Markus, Robert A., 1970, Saeculum. History and Society in the Theology of St Augustine, Cambridge: Cambridge University Press.
- ––– (ed.), 1972, Augustine. A Collection of Critical Essays, New York: Anchor Books. Anthology of older essays.
- –––, 2006, Christianity and the Secular, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Matthews, Gareth B., 1992, Thought’s Ego in Augustine and Descartes, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- ––– (ed.), 1999, The Augustinian Tradition, Berkeley, CA: University of California Press.
- –––, 2010, “Augustine’s First-Person Perspective”, in Cary, Doody, and Paffenroth 2010: 41–60.
- Mayer, Cornelius Petrus, 1969, Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie des jungen Augustinus, Würzburg: Augustinus-Verlag.
- –––, 1974, Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie Augustins. II. Teil: Die antimanichäische Epoche, Würzburg: Augustinus-Verlag.
- –––, 1996–2002, “Creatio, creator, creatura”, Augustinus-Lexikon, 2: 56–116.
- Mendelson, Michael, 1998, “‘The Business of Those Absent’: The Origin of the Soul in Augustine’s De Genesi Ad Litteram 10.6-26”, Augustinian Studies, 29(1): 25–81. doi:10.5840/augstudies19982918
- Menn, Stephen, 1998, Descartes and Augustine, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511608995
- –––, 2014, “The Desire for God and the Aporetic Method in Augustine’s Confessions”, in Mann 2014: 71–107. doi:10.1093/acprof:oso/9780199577552.003.0005
- Mesch, Walter, 1998, Reflektierte Gegenwart. Eine Studie über Zeit und Ewigkeit bei Platon, Aristoteles, Plotin und Augustinus, Frankfurt/Main: Klostermann.
- Miles, Margaret R., 2007, “Not Nameless but Unnamed. The Woman torn from Augustine’s Side”, in Stark 2007b: 167–188.
- –––, 2012, “From Rape to Resurrection: Sin, Sexual Difference, and Politics”, in Wetzel 2012: 75–92. doi:10.1017/CBO9781139014144.005
- Müller, Christof, 1996–2002, “Femina”, Augustinus-Lexikon, 2: 1266–1281.
- Müller, Jörn, 2009, Willensschwäche in Antike und Mittelalter. Eine Problemgeschichte von Sokrates bis Johannes Duns Scotus, Leuven: Peeters.
- Nash, Ronald H., 1969, The Light of the Mind. St. Augustine’s Theory of Knowledge, Lexington: University Press of Kentucky.
- Nawar, Tamer, 2014, “Adiutrix Virtutum? Augustine on Friendship and Virtue”, in Suzanne Stern-Gillet and Gary M. Gurtler (eds.), Ancient and Medieval Concepts of Friendship, Albany, NY: SUNY Press, pp. 197–226.
- –––, 2015, “Augustine on the Varieties of Understanding and Why There is No Learning from Words”, Oxford Studies in Medieval Philosophy, 3: 1–31. doi:10.1093/acprof:oso/9780198743798.003.0001
- Nisula, Timo, 2012, Augustine and the Functions of Concupiscence, Leiden/Boston: Brill.
- O’Connell, Robert J., 1968, St. Augustine’s Early Theory of Man, A.D. 386–391, Cambridge, MA: The Belknap Press.
- –––, 1987, The Origin of the Soul in St. Augustine’s Later Works, New York: Fordham University Press.
- O’Daly, Gerard, 1976, “Memory in Plotinus and two early texts of St. Augustine”, Studia Patristica 14. Papers presented to the Sixth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1971, Berlin: Akademie Verlag 1976, pp. 461–469. Reprinted in O’Daly 2001: no. III.
- –––, 1987 Augustine’s Philosophy of Mind, London: Duckworth.
- –––, 1986–1994, “Anima, animus”, Augustinus-Lexikon, 1: 315–340.
- –––, 1999, Augustine’s City of God. A Reader’s Guide, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2001, Platonism Pagan and Christian. Studies in Plotinus and Augustine, Aldershot: Variorum.
- O’Donovan, O., 1980, The Problem of Self-Love in St. Augustine, New Haven: Yale University Press.
- Paffenroth, Kim and Robert P. Kennedy (eds.), 2003, A Reader’s Companion to Augustine’s Confessions, Louisville: Westminster John Knox Press.
- Pagels, Elaine, 1989, Adam, Eve and the Serpent, New York: Vintage Books. German translation: Adam, Eva und die Schlange, Hamburg: Rowohlt 1991.
- Pépin, Jean, 1977, Ex Platonicorum persona. Études sur les lectures philosophiques de saint Augustin, Amsterdam: Hakkert. Reprint of earlier studies.
- Pollmann, Karla, 1996, Doctrina christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der christlichen Hermeneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus, De doctrina christiana, Freiburg/Schweiz: Unversitäts-Verlag.
- Pollmann, Karla and Mark Vessey (eds.), 2005, Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum to Confessions, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199230044.001.0001
- Power, Kim, 1996, Veiled Desire. Augustine on Women, New York: Continuum Books.
- Rist, John, 2001, “Faith and Reason”, in Stump and Kretzmann 2001: 26–39. doi:10.1017/CCOL0521650186.003
- Schäfer, Christian, 2000, “Augustine on Mode, Form, and Natural Order”:, Augustinian Studies, 31(1): 59–77. doi:10.5840/augstudies20003111
- –––, 2002, Unde malum. Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius, Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Seelbach, Larissa Carina, 2002, Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen. Die Frau und ihre Gottebenbildlichkeit bei Augustin, Würzburg: Augustinus-Verlag.
- Shanzer, Danuta, 2002, “Avulsa a latere meo. Augustine’s Spare Rib—Confessiones 6.15.25”, The Journal of Roman Studies, 92: 157–176. doi:10.2307/3184864
- –––, 2005, “Augustine’s Disciplines: Silent diutius Musae Varronis?”, in Pollmann and Vessey 2005: 69–112.
- Siebert, Matthew Kent, 2018, “Augustine’s Development on Testimonial Knowledge”, Journal of the History of Philosophy, 56(2): 215–237. doi:10.1353/hph.2018.0021
- Sorabji, Richard, 2000, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199256600.001.0001
- Stark, Judith Chelius, 2007a, “Augustine on Women. In God’s Image but Less So”, in Stark 2007b: 215–241.
- ––– (ed.), 2007b, Feminist Interpretations of Augustine, University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Stróżyński, Mateusz, 2013, “There Is No Searching for the Self: Self-Knowledge in Book Ten of Augustine’s De Trinitate”, Phronesis, 58(3): 280–300. doi:10.1163/15685284-12341250
- Stump, Eleonore, 2001, “Augustine on Free Will”, in Stump and Kretzmann 2001: 124–147. Shortened version in Meconi and Stump 2014: 166–186. doi:10.1017/CCOL0521650186.011 doi:10.1017/CCO9781139178044.014
- Teske, Roland J., 2009, Augustine of Hippo: Philosopher, Exegete, and Theologian. A Second Collection of Essays, Milwaukee: Marquette University Press.
- Tornau, Christian, 2006a, Zwischen Rhetorik und Philosophie. Augustins Argumentationstechnik in De civitate dei und ihr bildungsgeschichtlicher Hintergrund, Berlin: De Gruyter.
- –––, 2006b, “Does Augustine Accept Pagan Virtue? The Place of Book 5 in the Argument of the City of God”, in Frances Young, Mark Edwards, and Paul Parvis (eds.), Studia Patristica 43. Papers presented at the XIVth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003, Leuven: Peeters, pp. 263–275.
- –––, 2013, “Augustinus und die neuplatonischen Tugendgrade. Versuch einer Interpretation von Augustins Brief 155 an Macedonius”, in Filip Karfík and Euree Song (eds.), Plato Revived. Essays on Ancient Platonism in Honour of Dominic O’Meara, Berlin/Boston: De Gruyter, pp. 215–240.
- –––, 2014, “Intelligible Matter and the Genesis of Intellect: The Metamorphosis of a Plotinian Theme in Confessions 12–13”, in Mann 2014: 181–218. doi:10.1093/acprof:oso/9780199577552.003.0009
- –––, 2015, “Happiness in This Life? Augustine on the Principle That Virtue Is Self-Sufficient for Happiness”, in The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness, Øyvind Rabbås, Eyjólfur K. Emilsson, Hallvard Fossheim, and Miira Tuominen (eds.), Oxford: Oxford University Press, 265–280. doi:10.1093/acprof:oso/9780198746980.003.0015
- –––, 2017, “Ratio in Subiecto? The Sources of Augustine’s Proof for the Immortality of the Soul in the Soliloquia and Its Defense in De Immortalitate Animae”, Phronesis, 62(3): 319–354. doi:10.1163/15685284-12341330
- van Dusen, David, 2014, The Space of Time. A Sensualist Interpretation of Time in Augustine, Confessions X to XII, Leiden/Boston: Brill.
- van Fleteren, Frederick, 2010, “Augustine and Philosophy: Intellectus Fidei”, in Cary, Doody, and Paffenroth 2010: 23–40.
- van Oort, Johannes, 2012, “Augustine and the Books of the Manicheans”, in Vessey 2012: 188–199. doi:10.1002/9781118255483.ch15
- ––– (ed.), 2013, Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo. University of Pretoria, 24–26 April 2012, Leiden/Boston: Brill.
- –––, 2016, “Once Again: Augustine’s Manichaean Dilemma”, Augustiniana, 66(1/4): 233–245.
- –––, forthcoming, Augustine and Mani, Leiden/Boston: Brill. Collected papers on Augustine and Manicheism.
- van Riel, Gerd, 2007, “Augustine’s Exegesis of ‘Heaven and Earth’ in Conf. XII: Finding Truth amidst Philosophers, Heretics and Exegetes”, Quaestio, 7: 191–228. doi: 10.1484/J.QUAESTIO.1.100154
- Vessey, Mark, Karla Pollmann, and Allan D. Fitzgerald (eds.), 1999, History, Apocalypse, and the Secular Imagination. New Essays on Augustine’s City of God, Bowling Green: Philosophy Documentation Center.
- von Heyking, John, 2001, Augustine and Politics as Longing in the World, Columbia: University of Missouri Press.
- Weissenberg, Timo J., 2005, Die Friedenslehre des Augustinus. Theologische Grundlagen und ethische Entfaltung, Stuttgart: Kohlhammer.
- Weithman, Paul J., 1999, “Toward an Augustinian Liberalism”, in Matthews 1999: 304–322.
- –––, 2001, “Augustine’s Political Philosophy”, in Stump and Kretzmann 2001: 234–252. Revised version in Meconi and Stump 2014: 231–250. doi:10.1017/CCOL0521650186.017 doi:10.1017/CCO9781139178044.019
- Wetzel, James, 1992, Augustine and the Limits of Virtue, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511983627
- –––, 2001, “Predestination, Pelagianism, and Foreknowledge”, in Stump and Kretzmann 2001: 49–58. doi:10.1017/CCOL0521650186.005
- ––– (ed.), 2012, Augustine’s ‘City of God’: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139014144
- Williams, Thomas, 2001, “Biblical Interpretation”, in Stump and Kretzmann 2001: 59–70. doi:10.1017/CCOL0521650186.006 Revised version under the title “Hermeneutics and Reading Scripture”, in Meconi and Stump 2014: 311–328. doi:10.1017/CCO9781139178044.024
- Wolterstorff, Nicholas, 2012, “Augustine’s Rejection of Eudaimonism”, in Wetzel 2012: 149–166. doi:10.1017/CBO9781139014144.009
- Zagzebski, Linda Trinkaus, 1991, The Dilemma of Freedom and Foreknowledge, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195107630.001.0001
- zum Brunn, Émilie, 1969 [1988], “Le dilemme de l’être et du néant chez saint Augustin. Des premiers dialogues aux Confessions”, Recherches augustiniennes, 6: 3–102. Translated as St. Augustine. Being and Nothingness, New York: Paragon House Publishers 1988.
Academic Tools
- How to cite this entry.
- Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
- Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
- Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.
Other Internet Resources
- Mendelson, Michael, “Saint Augustine,” Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/augustine/>. [This was the previous entry on Saint Augustine in the Stanford Encyclopedia of Philosophy — see the version history.]
- Augustine of Hippo, by James J. O’Donnell (Georgetown).
- Zentrum für Augustinusforschung (ZAF), Würzburg (Germany), with list of critical editions, bibliographical database and links to online translations
Related Entries
Christian theology, philosophy and | divine: illumination | emotion: in the Christian tradition | ethics: virtue | free will | free will: divine foreknowledge and | medieval philosophy | moral responsibility | Neoplatonism | Plotinus | political philosophy: ancient | Porphyry | skepticism: ancient | Stoicism
Este artigo foi publicado originalmente no site Plato Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/augustine/