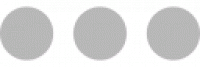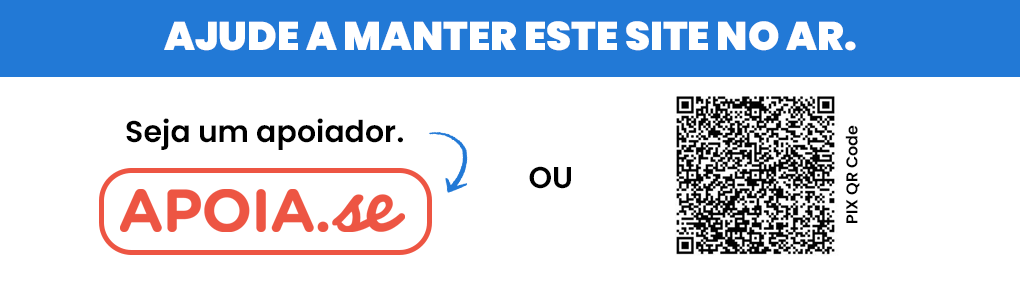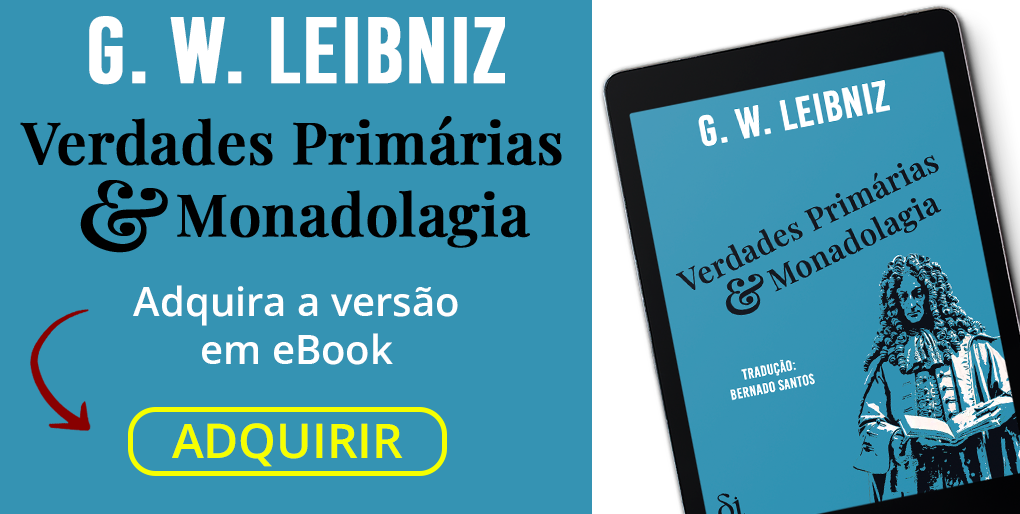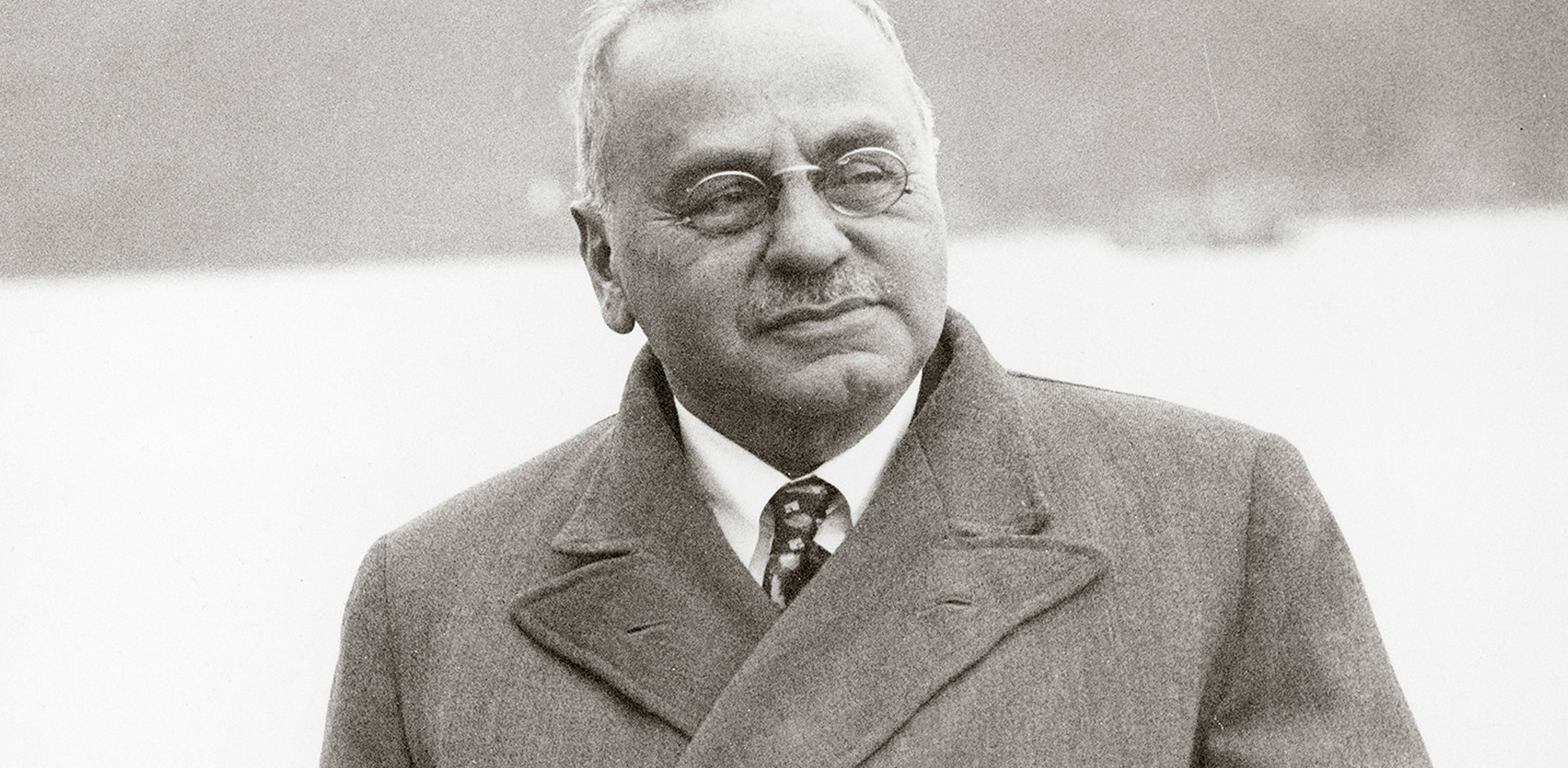“A Ressurreição da Mônada” foi publicado originalmente em El Sol, 12 de fevereiro de 1925.
Em um dos meus artigos anteriores sobre o romance, eu ressaltei o fato de que os bons fãs desse gênero literário hoje parecem estar mais interessados nos personagens do que no enredo. Essa mudança no interesse novelístico me pareceu, por sua vez, extremamente interessante. Para aqueles que acreditam que os fenômenos espirituais são aleatórios ou gerados por causas adventícias, externas à própria espiritualidade, não há razão para meditar sobre esse fato. Para mim, que acredito no oposto, trata-se, por outro lado, de um sintoma curioso. O espírito é sempre solidário com ele próprio. Ele não pode se comportar de uma maneira em algumas ordens e de outra em outras. Um módulo único e central atua nele e é aplicado a todos os temas, assuntos e questões da vida. Quando isso não acontece, o espírito é anormal, o que significa patológico, o que significa desespiritualizado.
Pode-se negar que há de fato uma diferença no gosto dos bons leitores de hoje e dos de ontem. Também se pode negar que a diferença, se é que ela existe, consiste no fato de que ontem o enredo era mais interessante do que os personagens, e hoje os personagens são mais interessantes do que o enredo. Porém, se aceitarmos esse fato – o que é evidente para mim -, podemos extrair dele inúmeras percepções sobre as mais diversas e mais remotas ordens da arte do romance.
O enredo ou “ação” do romance é o conjunto de atos ou operações dos personagens. Estes são sujeitos ou substâncias. Aqueles são meras funções. Interessar-se preferencialmente pela “ação” é preferir funções a substâncias. Entretanto, de Kant a 1900, a ciência filosófica foi dominada pela tendência de eliminar a categoria de substância e exaltar a de função. Em 1900 inicia-se uma pendulação oposta e busca-se o sujeito que funciona por trás da função, por trás do ato, a substância da qual ele emana. Assim, retorna à grande tradição da Grécia e da Idade Média, para a qual “operan sequitur esse“, a performance é uma mera sequência da realidade essencial, algo secundário e derivado em relação a esta. Os séculos XVIII e XIX tentaram inverter essa hierarquia e propuseram que o “esse sequeretur operari“, que a substância era apenas o resultado e a soma de atos ou operações.
Encontramos, então, uma analogia perfeita entre a variação da sensibilidade estética – pelo menos no leitor de romances – e a variação do pensamento filosófico. Ali, o fenômeno assume um aspecto concreto; aqui, necessariamente, o viés mais abstrato possível.
Algumas semanas depois da publicação desse artigo, Hermann Weyl me enviou um panfleto que estará à venda na Alemanha nos próximos dias. O título é: O Que é Matéria? Hermann Weyl é um dos Heraclides, um dos gigantes de nossa geração, que, juntamente com Einstein, Eddington, Bohr, Miss, etc., está trabalhando na construção de um novo cosmos físico. Bem, o panfleto de Weyl chega à surpreendente conclusão de que a nova física leva a uma ideia “imaterial” da matéria, cuja expressão mais apropriada seria a mônada de Leibniz.
“O rei está morto; viva o rei!”, gritou o reitor de Paris da sacada do Hotel de Ville quando um Capet morreu. A matéria está morta; viva a mônada!
Não vou comentar agora o panfleto de Weyl, que em breve será publicado em espanhol, mas apenas notar a curiosa coincidência de sua tese com o fenômeno que observei em dois polos espirituais, em dois extremos opostos da inteligência, o romance e a filosofia. Pois, não há dúvida, preferir a mônada à matéria é preferir a substância à função, o personagem à trama.
Weyl não afirma que a física adota em sua economia doméstica o princípio leibniziano, que é de ordem metafísica; mas o fato de a física vir a ser constituída de modo a postular a mônada como um complemento metafísico revela uma profunda transformação nessa ciência. A física é a disciplina onde o conceito de função nasce e onde ele sempre será dominante. Não se pode esperar que ela licencie o próprio funcionalismo, sob pena de regredir à única coisa realmente ruim da Idade Média, que foi a pseudo-física filosófica de origem aristotélica. Pelo contrário, quanto mais radicalmente funcionalista for a física, quanto mais resíduos de substância ela eliminar, mais puramente ela cumprirá seu destino. É uma questão de dissolver a realidade em fatores de espaço e tempo, que são relações (i). É claro que toda relação pressupõe coisas que estão relacionadas, ou “relatos“. O ideal da física seria conseguir dispensar essas coisas e relacionalizar a natureza sem deixar vestígios. A física é, por essência, relacionalista, uma palavra insuportável, mas que expressa mais exatamente o que Einstein sugere com o termo enganoso “relativista”.
Todavia, à medida que a física é purificada em um relacionismo estrito, ela declara ipso facto seu status de ciência secundária. Se a relação pressupõe coisas que se relacionam, a ciência física ou a ciência das relações pressupõe outra ciência, superior, que trata de coisas relacionadas. Esse é o espírito que anima o panfleto de Weyl. Como ele, as melhores mentes criativas da Europa de hoje estão orientadas, sem “distorcer a física”, para uma metafísica. E a metafísica é, antes de tudo, uma meditação sobre as substâncias.
No século XIX, ao contrário, havia uma aspiração à descida – como alguém disse quando Napoleão queria ser imperador. Havia a intenção de se estabelecer definitivamente na física, ou seja, de transformar uma posição que é apenas secundária e penúltima na última. A preferência pelo funcional – na arte, na política, na moral — era, ao mesmo tempo, uma preferência da física.
A reforma substancialista que estamos presenciando na arte e na ciência desperta a curiosidade de adivinhar qual será a modificação correspondente na ética e na política.
Na avaliação do que é humano, podemos seguir uma de duas tendências: ou valorizamos o homem por seus atos, ou valorizamos os atos por causa do homem. Em um caso, consideramos o ato em si como essencialmente valioso, seja quem for que o realize. No outro caso, consideramos que o ato em si não é valioso e só adquire valor quando o sujeito do qual ele emana nos parece excelente. O contraste não poderia ser mais claro. A moral utilitarista do século XIX (Bentham) vê na “bondade” um atributo que originalmente corresponde apenas a certas ações cujos efeitos são convenientes. Uma pessoa em si mesma não é boa nem ruim, pela simples razão de que, enquanto não agir, não poderá ser útil para si mesma ou para o próximo. Por meio da bondade ou utilidade de suas ações, o indivíduo é carregado de valor, tal como um acumulador da energia que uma máquina ou uma reação com seu trabalho, com sua atividade, produz.
A moral cristã, por outro lado, entende a bondade principalmente como um certo modo de ser da pessoa. Suas ações são boas, não por si mesmas, mas por causa da unção que flui da alma na qual elas germinam. A frase do Evangelho “pelos frutos se conhece a árvore” não contradiz essa tendência, mas, ao contrário, a estimula. É a árvore que deve ser conhecida moralmente, ou seja, deve ser estimada, e os frutos servem como uma indicação, um sintoma, um dado para descobrir a condição valiosa ou desprezível da planta. Os atos, portanto, são apenas a ratio cognoscendi da bondade da pessoa, não a razão pela qual a estimamos, não a ratio essendi da bondade.
Na concepção burguesa da vida, a sociedade não tem caráter substancial, mas é meramente o tecido resultante das relações entre os indivíduos. Seria de se esperar que, ao tornar a sociedade um sistema puro de relações, pelo menos se reconhecesse a plena substantividade dos indivíduos. Porém, acontece o mesmo que com a concepção materialista do mundo. As coisas e os eventos são feitos para serem meras relações mecânicas entre átomos. Mas esses átomos não têm valor em si mesmos. Eles são indiferentes, iguais uns aos outros, e existem como meros pretextos para as relações em que se envolvem. Assim, os indivíduos, na sociologia burguesa, não têm significado próprio e são considerados meros suportes das relações sociais. Cada um é o que faz, e seu desempenho será avaliado por seu rendimento social. Por sua vez, esse desempenho social é medido pelas vantagens que traz para o maior número, para a massa. No fim, o fato de ser ou não vantajoso para as massas também é decidido pela opinião pública, pela maioria.
É compreensível que esse regime leve a uma degeneração de todas as virtudes genuínas. São sempre os inferiores, os absolutamente menos valiosos, que primeiro julgam quais valores são os mais estimáveis e depois decidem quais atos concretos são os que melhor realizam esses valores.
A consequência é que o indivíduo, para ter valor, precisa servir aos outros, com um servilismo muito mais rude e total do que o do vassalo ao seu senhor, do servo ao seu mestre. Afinal, o senhorio e o domínio afetavam apenas certas facetas da atividade pessoal, deixando o restante livre e desimpedido, sem contar o fato de que o senhor e o mestre estavam reciprocamente ligados por muitas obrigações enquanto servo e vassalo. Entretanto, aqui acontece que a massa social tem todos os direitos sobre o indivíduo e nenhuma responsabilidade ou obrigação.
Na concepção aristocrática, por outro lado, o indivíduo é considerado uma pessoa diferenciada de acordo com seu caráter nativo, antes de seus atos concretos e independentemente de sua utilidade social. Em um círculo aristocrático, cada membro, pelo simples fato de ter nascido em uma família nobre — ou seja, por sua substância, que se supõe ser genealogicamente transmitida — possui todos os direitos e prerrogativas. Seus atos subsequentes não acrescentam nada de essencial à sua estima: eles parecem a emanação natural de sua substância e não atraem um novo preço àquele que foi naturalmente concedido a esta. As ações, portanto, longe de serem a base para a avaliação, são apenas sua confirmação e assumem o sentido de meros exemplos de um caráter ou poder preexistente. Na nobreza, os atos não podem ter outro resultado mais importante do que o negativo. Quando são tais que contradizem a dignidade ligada à substância nobre, eles trazem consigo a exclusão da pessoa, sua expulsão do círculo aristocrático.
Enquanto o burguês só vale enquanto “serve” – no duplo sentido da palavra -, o serviço nobre é uma mera consequência de seu valor, e suas ações só lhe “servem”, estritamente falando, para que seja punido e depreciado.
Nessa forma extrema, torna-se aparente o caminho inverso de duas tendências estimativas. Em uma delas, a função social é valorizada e a pessoa ou substância é menosprezada. Na outra, desce-se desta última para sua função.
A antiga concepção aristocrática parece não ser menos inadmissível do que a burguesa. Se houvesse espaço, talvez eu pudesse ter mostrado como o excesso nela decorre da excessiva e ingênua idéia de que o homem medieval tinha da substância. Entre a função separada da substância, própria do pensamento moderno, e a substância inativa, um mero poder abstrato, que o aristotelismo ensinou na Idade Média, há uma excelente posição intermediária. A substância como força; portanto, como um germe de ação. Essa é a mônada de Leibniz.
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com