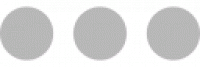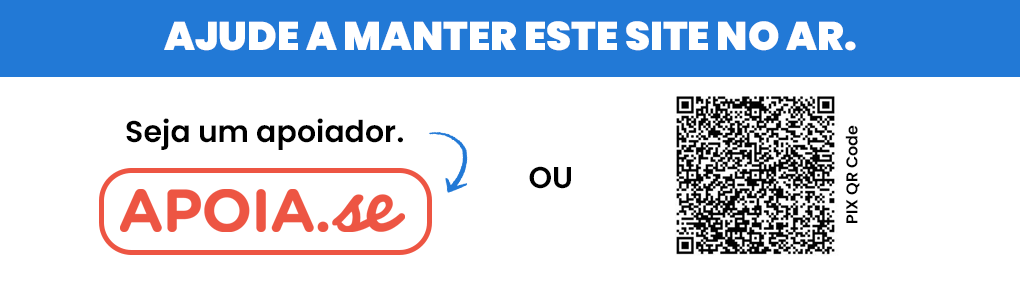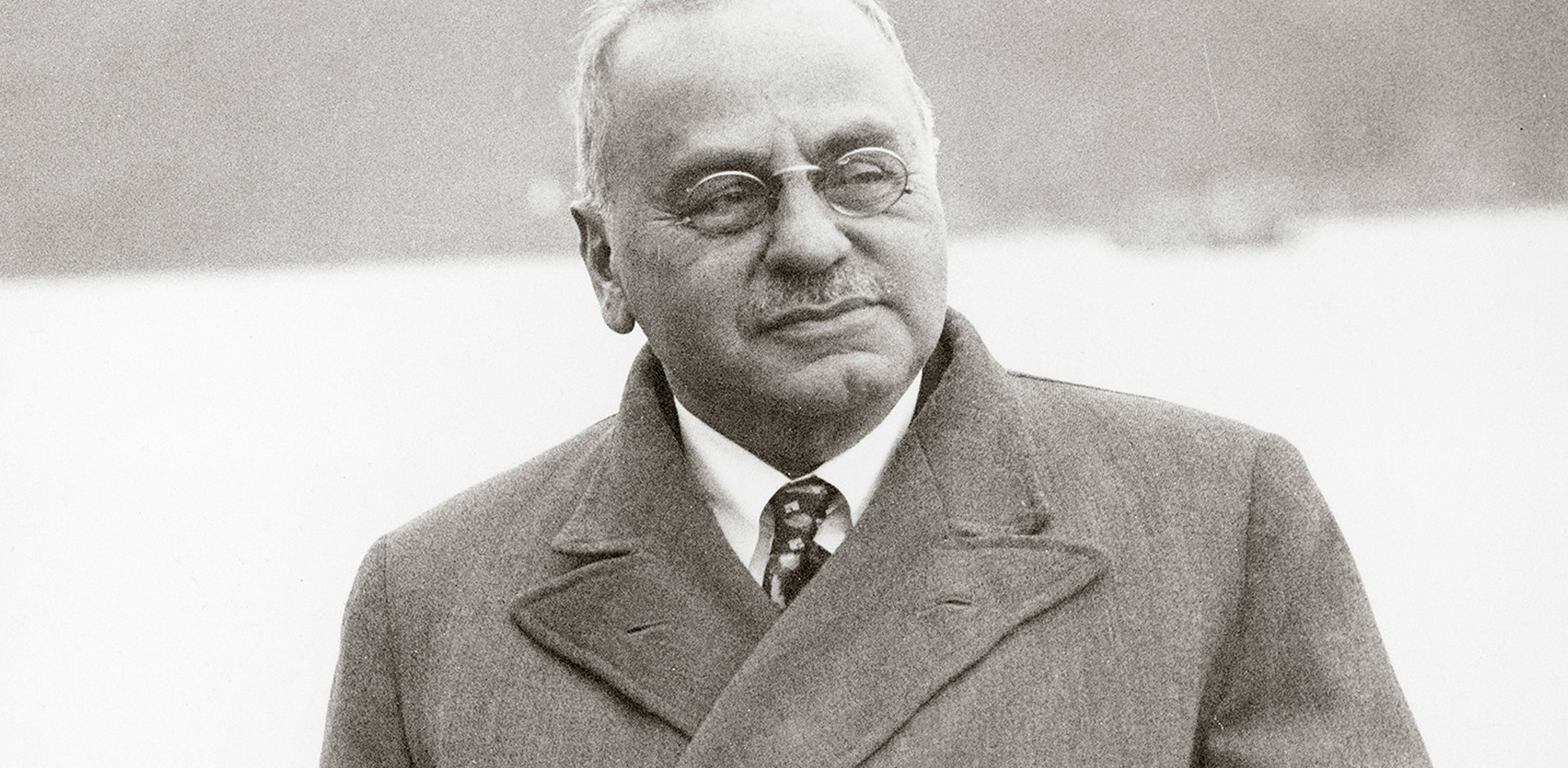“Por Que Precisamos da Filosofia?” foi escrito por Eric Voegelin.
Deus e o homem, o mundo e a sociedade formam uma comunidade primordial de seres. A comunidade com sua estrutura quaternária é, e não é, um dado da experiência humana. É um dado de experiência na medida em que é conhecida pelo homem em virtude de sua participação no mistério de seu ser. Não é um dado da experiência na medida em que não é fornecida à maneira de um objeto do mundo externo, mas é conhecível somente a partir da perspectiva de participação nela.
A perspectiva da participação deve ser entendida na plenitude de sua perturbadora qualidade. Isso não significa que o homem, situado mais ou menos confortavelmente na paisagem do ser, possa olhar ao redor e fazer um balanço a respeito do que vê, até onde pode ver. Essa metáfora, ou variações comparáveis sobre o tema das limitações do conhecimento humano, destruiria o caráter paradoxal da situação.
Ela sugeriria um espectador autônomo, de posse e com conhecimento de suas faculdades, no centro de um horizonte do ser, mesmo que esse horizonte fosse restrito. Contudo, o homem não é um espectador autônomo. Ele é um ator, que desempenha um papel no drama do ser e, pelo fato bruto de sua existência, está comprometido a desempenhar esse papel sem saber qual é o papel.
A situação é desconcertante mesmo quando um homem se encontra acidentalmente na situação de não ter certeza de qual é o jogo e de como deve se comportar para não estragá-lo. Mas, com sorte e habilidade, ele se livrará do constrangimento e voltará à rotina menos desconcertante de sua vida.
A participação no ser, entretanto, não consiste em um envolvimento parcial do homem; ele está envolvido com toda a sua existência, porque a participação é a própria existência. Não há um ponto de vista privilegiado externo à existência a partir do qual seu significado possa ser visto e um curso de ação possa ser traçado de acordo com um plano, nem há uma ilha abençoada para a qual o homem possa se retirar a fim de recuperar seu eu. O papel da existência deve ser desempenhado na incerteza de seu significado, como uma aventura da decisão no limite entre a liberdade e a necessidade.
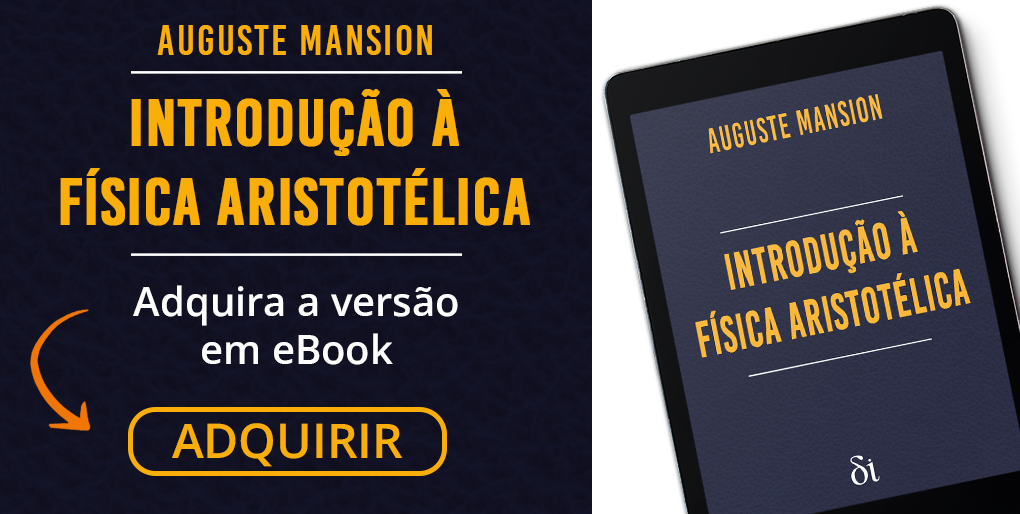
Tanto a peça quanto o papel são desconhecidos. Contudo, pior ainda, o ator não sabe com certeza quem ele mesmo é. Nesse ponto, a metáfora da peça pode desviar o caminho, a menos que seja usada com cautela. Certamente, a metáfora é justificada e talvez até necessária, pois transmite a percepção de que a participação do homem no ser não é cega, mas é iluminada pela consciência.
Há uma experiência de participação, uma tensão reflexiva na existência, irradiando um senso através da proposição: O homem, em sua existência, participa do ser. Esse senso, no entanto, se transformará em absurdo se esquecermos que o sujeito e o predicado na proposição são termos que explicam uma tensão de existência e não são conceitos que denotam objetos.
O Homem é Desconhecido para Si Próprio
Não existe algo como um “homem” que participa do “ser” como se isso fosse um empreendimento que ele poderia simplesmente abandonar; existe, sim, um “algo”, uma parte do ser, capaz de experimentar a si mesmo enquanto tal e, ademais, capaz de usar a linguagem e chamar essa consciência experimentadora pelo nome de “homem”. O chamado por um nome certamente é um ato fundamental de evocação, de convocação, de constituição dessa parte do ser como um parceiro diferenciável na comunidade do ser.
No entanto, por mais fundamental que seja o ato de evocação — pois ele forma a base de tudo o que o homem aprenderá sobre si próprio no decorrer da história — ele não é, em si, um ato de cognição. A ironia socrática a respeito da ignorância tornou-se a instância paradigmática quanto à conscientização desse ponto cego no centro de todo o conhecimento humano sobre o homem. No centro de sua existência, o homem é desconhecido para si mesmo e deve permanecer assim, pois a parte do ser que se autodenomina homem só poderia ser conhecida plenamente se a comunidade do ser e seu drama no tempo fossem conhecidos como um todo.
A parceria do homem no ser é a essência de sua existência, e essa essência depende do todo, do qual a existência é uma parte. O conhecimento do todo, entretanto, é impedido pela identidade do conhecedor com o parceiro, e a ignorância do todo impede o conhecimento essencial da parte. Essa situação de ignorância com relação ao núcleo decisivo da existência é mais do que desconcertante: Ela é profundamente perturbadora, pois da profundidade dessa ignorância suprema brota a ansiedade da existência.
A ignorância essencial e última não é uma ignorância completa. O homem pode alcançar um conhecimento considerável sobre a ordem do ser, e uma parte importante desse conhecimento é a distinção entre o conhecível e o incognoscível. Essa conquista, no entanto, chega tarde no longo e demorado processo de experiência e simbolização que constitui o tema do presente estudo.
A preocupação do homem com o significado de sua existência no campo do ser não permanece reprimida nas torturas da ansiedade, mas pode se manifestar na criação de símbolos que pretendem tornar inteligíveis as relações e tensões entre os termos distinguíveis do campo.

Nas fases iniciais do processo criativo, os atos de simbolização ainda são muito prejudicados pela desconcertante multidão de fatos inexplorados e problemas não resolvidos. Para além da experiência de participação e da estrutura quaternária do campo do ser, não há muita coisa realmente clara, e essa clareza parcial tende a gerar confusão em vez de ordem, como é provável que aconteça quando materiais variados são classificados sob poucos títulos. No entanto, mesmo na confusão desses estágios iniciais, há método suficiente para permitir a distinção de características típicas no processo de simbolização.
Participação no Ser
A primeira dessas características típicas é a predominância da experiência de participação. Seja o que for que o homem seja, ele se reconhece como parte do ser. A grande corrente do ser, na qual ele flui enquanto ela passa através dele, é a mesma corrente à qual pertence tudo o mais que se desloca em sua perspectiva. A comunidade do ser é vivenciada com tanta intimidade que a consubstancialidade dos parceiros se sobrepõe à separação das substâncias.
Nós nos movemos em uma comunidade encantada, onde tudo o que nos encontra tem força, vontade e sentimentos, onde animais e plantas podem ser homens e deuses, onde homens podem ser divinos e deuses podem ser reis, onde o céu matinal emplumado é o falcão Hórus e o Sol e a Lua são seus olhos, onde a mesmice subterrânea do ser é um condutor para correntes mágicas de força boa ou má que subterraneamente alcançará o parceiro superficialmente inalcançável, onde as coisas são as mesmas e não são as mesmas, e podem se transformar umas nas outras.
A segunda característica típica é a preocupação com o duradouro e o passageiro (ou seja, a durabilidade e a transitoriedade) dos parceiros na comunidade do ser. Não obstante a consubstancialidade, há a experiência de existência separada na corrente do ser, e as várias existências são distinguidas por seus graus de durabilidade.
Um homem perdura enquanto outros morrem, e ele morre enquanto outros perduram. Todos os seres humanos não duram mais do que a sociedade da qual são membros, e as sociedades passam enquanto o mundo dura. E o mundo não só dura menos que os deuses, mas talvez até tenha sido criado por eles. Sob esse aspecto, o ser exibe os lineamentos de uma hierarquia de existência, desde a humildade efêmera do homem até a eternidade dos deuses.
A experiência da hierarquia fornece uma parte importante do conhecimento sobre a ordem no ser, e esse conhecimento, por sua vez, pode se tornar, e de fato se torna, uma força para ordenar a existência do homem. Pois as existências mais duradouras, sendo as mais abrangentes, fornecem, por meio de sua estrutura, a moldura na qual a existência menor deve se encaixar, a menos que esteja disposta a pagar o preço da extinção.

Um primeiro raio de significado recai sobre o papel do homem no drama do ser, na medida em que o sucesso do ator depende de sua sintonia com as ordens mais duradouras e abrangentes da sociedade, do mundo e de Deus. Essa sintonia, no entanto, é mais do que um ajuste externo às exigências da existência, mais do que um encaixe planejado em uma ordem “sobre” a qual temos conhecimento.
A “sintonia” sugere a penetração do ajuste ao nível de participação no ser. O que perdura e passa, com certeza, é a existência, mas como a existência é a parceria no ser, o perdurar e o passar revelam algo a respeito do ser. A existência humana é de curta duração, mas o ser do qual ela participa não cessa junto com a existência.
Revelando Algo do Mistério
Ao existir, experienciamos a mortalidade; ao ser, experienciamos aquilo que pode ser simbolizado apenas pela metáfora negativa da imortalidade. Em nossa separatividade distinta como seres existentes, experienciamos a morte; em nossa parceria no ser, experienciamos a vida. Mas aqui novamente chegamos aos limites estabelecidos pela perspectiva da participação, pois a duração e a morte são propriedades do ser e da existência conforme aparecem para nós na perspectiva de nossa existência; assim que tentamos objectivá-las, perdemos até mesmo aquilo que temos.
Se tentarmos explorar o mistério da morte como se ela fosse uma coisa, só encontraremos no fundo da existência o nada que nos faz tremer de ansiedade. Se tentarmos explorar o mistério da duração como se a vida fosse uma coisa, não encontraremos a vida eterna, mas nos perderemos na imagem de deuses imortais, de uma existência paradisíaca ou olímpica.
Ao tentarmos explorar, somos jogados de volta à consciência da ignorância essencial. Ainda assim, “sabemos” alguma coisa. Vivenciamos nossa própria permanência na existência, que é passageira, bem como a hierarquia da permanência; e nessas experiências a existência se torna transparente, revelando algo do mistério do ser, do mistério do qual ela participa, embora não saiba o que é.
A sintonia, portanto, será o estado da existência quando ela prestar atenção ao que é duradouro no ser, quando mantiver uma tensão de consciência para suas revelações parciais na ordem da sociedade e do mundo, quando ouvir atentamente as vozes silenciosas da consciência e da graça na própria existência humana.
Somos jogados para dentro e para fora da existência sem saber o porquê ou o como, mas enquanto estamos nela sabemos que somos do ser para o qual retornamos. Desse conhecimento decorre a experiência da obrigação, pois embora esse ser, confiado à nossa administração parcial na existência enquanto ela dura e passa, possa ser ganho por sintonia, ele também pode ser perdido por omissão.

Portanto, a ansiedade da existência é mais do que um medo da morte no sentido de extinção biológica; é o horror mais profundo de perder, com o falecimento da existência, o ponto de apoio na parceria do ser que experimentamos como nosso enquanto a existência dura. Na existência, desempenhamos nosso papel no drama maior do ser divino que entra na existência passageira a fim de redimir o ser precário para a eternidade.
De Símbolos Compactos a Símbolos Diferenciados
A terceira característica típica do processo de simbolização é a tentativa de tornar a ordem essencialmente incognoscível do ser em inteligível, tanto quanto possível, por meio da criação de símbolos que interpretam o desconhecido por analogia com o realmente, ou supostamente, conhecido.
Essas tentativas têm uma história na medida em que a análise reflexiva, respondendo à pressão da experiência, tornará os símbolos cada vez mais adequados à sua tarefa. Blocos compactos do conhecível serão diferenciados em suas partes componentes, e o próprio conhecível será gradualmente distinguido do essencialmente incognoscível. Assim, a história da simbolização é uma progressão de experiências e símbolos compactos para diferenciados.
Como esse processo é o assunto de todo o estudo subsequente, no momento mencionaremos apenas duas formas básicas de simbolização que caracterizam grandes períodos da história. Uma é a simbolização da sociedade e sua ordem como um análogo do cosmos e sua ordem; a outra é a simbolização da ordem social por analogia com a ordem de uma existência humana que está bem sintonizada com o ser.
O Microcosmo e o Marcoantropos
Sob a primeira forma, a sociedade será simbolizada como um microcosmo; sob a segunda forma, como um macroantropos. A primeira forma mencionada é também a primeira em termos cronológicos. O porquê disso dificilmente requer explicações elaboradas, pois a terra e o céu são tão impressionantemente a ordem abrangente na qual a existência humana deve se encaixar, se quiser sobreviver, que o parceiro esmagadoramente poderoso e visível na comunidade do ser inevitavelmente sugere sua ordem como o modelo de toda ordem, incluindo a do homem e da sociedade.
De qualquer modo, as civilizações do antigo Oriente Próximo que serão tratadas na parte 1 deste estudo simbolizavam a sociedade politicamente organizada como um análogo cósmico, como um cosmion, permitindo que os ritmos vegetativos e as revoluções celestiais funcionassem como modelos para a ordem estrutural e processual da sociedade.
O segundo símbolo ou forma — a sociedade como macroantropos — tende a aparecer quando os impérios cosmologicamente simbolizados se desintegram e, em seu desastre, traga a confiança na ordem cósmica. A sociedade, a despeito de sua integração ritual à ordem cósmica, se desintegrou; se o cosmo não é a fonte de ordem duradoura na existência humana, onde se encontra a fonte da ordem?
A Alma como Modelo de Ordem
Nesse momento, a simbolização tende a se voltar para o que é mais duradouro do que o mundo visivelmente existente, ou seja, para o ser invisivelmente existente que está além de todo ser em existência tangível. Esse ser divino invisível, que transcende todo o ser no mundo e do próprio mundo, pode ser experimentado apenas como um movimento na alma do homem; e, portanto, a alma, quando ordenada pela sintonia com o deus invisível, torna-se o modelo de ordem que fornecerá símbolos para ordenar a sociedade analogicamente à sua imagem.
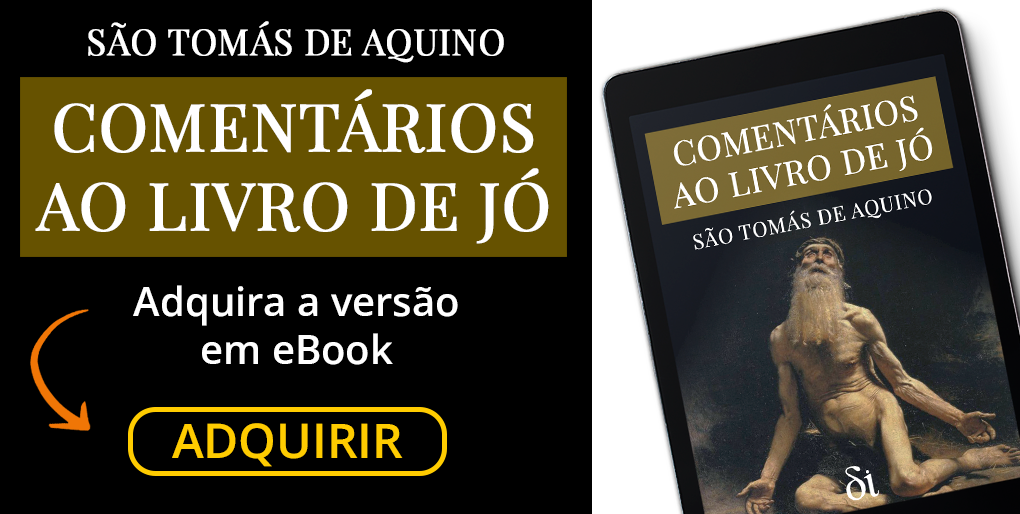
A mudança para a simbolização macroantrópica se manifesta na diferenciação da filosofia e da religião das formas anteriores e mais compactas de simbolização, e pode ser observada empiricamente, de fato, como uma ocorrência na fase da história que Toynbee classificou como o Tempo das Perturbações.
No Egito, o colapso social entre o Reino Antigo e o Reino Médio testemunhou o surgimento da religiosidade de Osíris. Na desintegração feudal da China, surgiram as escolas filosóficas, especialmente as de Lao-Tsé e Confúcio. O período de guerra antes da fundação do império Maurya foi marcado pelo surgimento do Buda e do jainismo. Quando o mundo da polis helênica se desintegrou, surgiram os filósofos, e os problemas posteriores do mundo helênico foram marcados pelo surgimento do cristianismo.
No entanto, não seria sensato generalizar essa ocorrência típica em uma “lei” histórica, pois há complicações nos detalhes. A ausência de tal mudança no colapso da sociedade babilônica (até onde a escassez de fontes permite o julgamento negativo) sugere que a “lei” teria “exceções”, enquanto Israel parece ter chegado à segunda forma sem qualquer conexão perceptível com um colapso institucional específico e um período subsequente de problemas.
Uma outra característica típica dos estágios iniciais do processo de simbolização é a consciência do homem sobre o caráter analógico de seus símbolos. Essa consciência se manifesta de várias maneiras, correspondendo aos vários problemas de cognição por meio de símbolos.
A ordem do ser, embora permaneça na área da ignorância essencial, pode ser simbolizada analogicamente pelo uso de mais de uma experiência de ordem parcial na existência. Os ritmos da vida vegetal e animal, a sequência das estações, as revoluções do sol, da lua e das constelações podem servir como modelos para a simbolização analógica da ordem social.
A ordem da sociedade pode servir de modelo para simbolizar a ordem celestial. Todas essas ordens podem servir como modelos para simbolizar a ordem no reino das forças divinas. E as simbolizações da ordem divina, por sua vez, podem ser usadas para a interpretação analógica das ordens existenciais no mundo.

Nessa rede de elucidação mútua, símbolos simultâneos e conflitantes inevitavelmente ocorrerão. Tais concorrências e conflitos são suportados, por longos períodos, com equanimidade pelos homens que os produzem; as contradições não geram desconfiança na verdade dos símbolos. Se algo é característico do início da história da simbolização, é o pluralismo na expressão da verdade, o reconhecimento generoso e a tolerância estendida a simbolizações rivais da mesma verdade.
A auto-interpretação de um império primitivo como o único e verdadeiro representante da ordem cósmica na Terra não é nem um pouco abalada pela existência de impérios vizinhos que se entregam ao mesmo tipo de interpretação. A representação de uma divindade suprema sob uma forma e um nome especiais em uma cidade-estado da Mesopotâmia não é abalada por uma representação diferente na cidade-estado vizinha.
E a fusão de várias representações quando um império unifica várias cidades-estados anteriormente independentes, a mudança de uma representação para outra quando as dinastias mudam, a transferência de mitos cosmogônicos de um deus para outro, e assim por diante, mostram que a variedade de simbolizações é acompanhada por uma consciência vívida da mesmice da verdade que o homem almeja por meio de seus vários símbolos. Essa tolerância primitiva se estende até o período greco-romano e encontrou sua grande expressão no ataque de Celsus ao cristianismo enquanto perturbador da paz entre os deuses.
Uma Tolerância Primitiva para Simbolismos Concorrentes
A tolerância inicial reflete a consciência de que a ordem do ser pode ser representada analogicamente de mais de uma maneira. Todo símbolo concreto é verdadeiro na medida em que prevê a verdade, mas nenhum é completamente verdadeiro na medida em que a verdade sobre o ser está essencialmente acima do alcance humano. Nesse crepúsculo da verdade cresce a rica flora — luxuriante, desconcertante, assustadora e encantadora — dos contos sobre deuses e demônios e suas influências ordenadoras e desordenadoras na vida do homem e da sociedade.
Há uma magnífica liberdade de variação e elaboração de temas fundamentais, cada novo crescimento e supercrescimento acrescentando uma faceta à grande obra de analogia que envolve a verdade invisível; essa é a liberdade da qual, no nível da criação artística, ainda podem participar os épicos de Homero, a tragédia do século V e a mythopoeia de Platão.
Essa tolerância, no entanto, chegará ao seu limite quando a consciência do caráter analógico da simbolização for atraída pelo problema da maior ou menor adequação dos símbolos ao seu propósito de tornar transparente a verdadeira ordem do ser. Os símbolos são muitos, enquanto o ser é um só. A própria multiplicidade de símbolos pode, portanto, ser sentida como uma inadequação, e podem ser feitas tentativas de trazer uma variedade de símbolos para uma ordem racional e hierárquica.

Nos impérios cosmológicos, essas tentativas geralmente assumem a forma de uma interpretação de uma variedade de divindades locais mais elevadas como aspectos do único deus mais elevado do império. Porém, o summodeísmo político não é o único método de racionalização. As tentativas também podem assumir a forma mais técnica de especulação teogônica, deixando que os outros deuses se originem por meio da criação do único deus verdadeiramente supremo, tal como encontramos, por exemplo, na Teologia Memphite, datada do início do terceiro milênio a.C.
Esses surtos especulativos iniciais na direção do monoteísmo parecerão anacrônicos para os historiadores que querem encontrar um progresso claro do politeísmo para o monoteísmo e, uma vez que os fatos não podem ser negados, os primeiros exemplos devem, pelo menos, ser considerados “precursores” do surgimento posterior e mais legítimo do monoteísmo, a menos que, como um esforço ainda maior de racionalização, seja feita uma busca para provar uma continuidade histórica entre os monoteísmos israelita e Iknaton, ou a filosofia do Logos e a Teologia Memphita.
Os primeiros surtos, no entanto, parecerão menos surpreendentes, e a busca por continuidades se tornará menos urgente, se percebermos que a diferença rígida entre politeísmo e monoteísmo, sugerida pela exclusão lógica mútua do um e dos muitos, de fato não existe. Pois o jogo livre e imaginativo com uma pluralidade de símbolos só é possível porque a escolha das analogias é entendida como mais ou menos irrelevante em comparação com a realidade do ser que elas visam. Em todo politeísmo está latente um monoteísmo que pode ser ativado a qualquer momento, com ou sem “precursores”, se a pressão de uma situação histórica se encontrar com uma mente sensível e ativa.
No summodeísmo político e na especulação teogônica, atingimos o limite de tolerância de simbolizações rivais. No entanto, nenhuma ruptura séria ainda precisa ocorrer. A especulação teogônica de um Hesíodo não foi o início de um novo movimento religioso em oposição à cultura politeísta da Hélade, e o summodeísmo romano, por meio de Constantino, poderia até mesmo atrair o cristianismo para seu sistema de simbolização.
O Horror da Queda Leva à Intolerância
O rompimento com a tolerância inicial resulta não da reflexão racional sobre a inadequação da simbolização pluralista (embora essa reflexão possa ser um primeiro passo experimental para empreendimentos mais radicais), mas da percepção mais profunda de que nenhuma simbolização por meio de análogos da ordem existencial no mundo pode ser minimamente adequada ao parceiro divino do qual a comunidade do ser e sua ordem dependem.
Somente quando o abismo na hierarquia do ser que separa a existência divina da mundana for sentido, somente quando a fonte originária, ordenadora e preservadora do ser for experimentada em sua transcendência absoluta para além do ser na existência tangível, toda simbolização por analogia será compreendida em sua inadequação e até mesmo impropriedade. A semelhança dos símbolos — se é que podemos tomar emprestado o termo de Xenófanes — então se tornará uma preocupação premente, e uma liberdade de simbolização até então tolerável se tornará intolerável, porque se trata de uma indulgência indecorosa que revela uma confusão sobre a ordem do ser e, mais profundamente, uma traição do próprio ser por falta de sintonia adequada.

O horror de uma queda do ser para o nada motiva uma intolerância que não está mais disposta a distinguir entre deuses mais fortes e mais fracos, mas opõe o verdadeiro deus aos falsos deuses. Esse horror induziu Platão a criar o termo teologia, a distinguir entre tipos verdadeiros e falsos de teologia e a tornar a verdadeira ordem da sociedade dependente do governo de homens cuja sintonia adequada com o ser divino se manifesta em sua verdadeira teologia.
Quando a inconveniência dos símbolos passa a ser o foco da atenção, parece, à primeira vista, que não houve muita mudança na compreensão humana da ordem do ser e da existência. Sem dúvida, ganha-se algo com a ênfase diferenciadora na área da ignorância essencial, bem como com a consequente distinção entre a realidade imanente cognoscível e a realidade transcendente incognoscível, entre a existência mundana e a divina, e pode parecer perdoável um certo zelo em proteger o novo insight contra o retrocesso na aceitação renovada de símbolos que, em retrospecto, aparecem como uma ilusão de verdade.
No entanto, o homem não pode escapar da ignorância essencial por meio da intolerância à simbolização indecorosa; tampouco pode superar o perspectivismo da participação por meio da compreensão de sua natureza. O profundo insight sobre a inapropriação dos símbolos parece se dissolver numa ênfase, talvez exagerada, sobre algo que era conhecido o tempo todo e que não recebeu mais atenção precisamente porque nada seria mudado pelo fato de nos tornarmos enfáticos a respeito.
E, no entanto, algo mudou, não apenas nos métodos de simbolização, mas na ordem do ser e da própria existência. A existência é uma parceria na comunidade do ser; e a descoberta de uma participação imperfeita, de uma má administração da existência devido à falta de sintonia adequada com a ordem do ser, do perigo de uma queda do ser, é de fato um horror, obrigando a uma reorientação radical da existência.
Não apenas os símbolos perderão a magia de sua transparência para a ordem invisível e se tornarão opacos, mas uma palidez cairá sobre as ordens parciais da existência mundana que até então forneciam as analogias para a ordem abrangente do ser. Não apenas os símbolos indecorosos serão rejeitados, mas o homem se afastará do mundo e da sociedade como fontes de analogias enganosas. Ele experimentará uma reviravolta, a periagoge platônica, uma inversão ou conversão em direção à verdadeira fonte da ordem.
E essa reviravolta, essa conversão, resulta em mais do que um aumento do conhecimento a respeito da ordem do ser; é uma mudança na própria ordem. Pois a participação no ser muda sua estrutura quando se torna enfaticamente uma parceria com Deus, enquanto a participação no ser mundano recua para o segundo plano.
Um Salto Qualitativo e a Nova Comunidade
A sintonia mais perfeita com o ser por meio da conversão não é um aumento na mesma escala, mas um salto qualitativo. E quando essa conversão se abate sobre uma sociedade, a comunidade convertida se sentirá qualitativamente diferente de todas as outras sociedades que não deram o salto. Ademais, a conversão é vivenciada, não como resultado da ação humana, mas como uma paixão, como uma resposta a uma revelação do ser divino, a um ato de graça, a uma seleção para uma parceria enfática com Deus.
A comunidade, como no caso de Israel, será um povo escolhido, um povo peculiar, um povo de Deus. Assim, a nova comunidade cria um simbolismo especial para expressar sua peculiaridade, e esse simbolismo pode, a partir de então, ser usado para distinguir o novo elemento estrutural no campo das sociedades em existência histórica.
Quando as distinções forem mais plenamente desenvolvidas, como o foram por Santo Agostinho, a história de Israel se tornará então uma fase da historia sacra, da história da igreja, diferente da história profana na qual os impérios se erguem e caem. Portanto, a parceria enfática com Deus remove uma sociedade da categoria de existência profana e a constitui como representante da Civitas Dei na existência histórica.

Assim, ocorreu de fato uma mudança no ser, com consequências para a ordem da existência. No entanto, o salto para cima no ser não é um salto para fora da existência. A parceria enfática com Deus não abole a parceria na comunidade do ser em geral, que inclui o ser na existência mundana. O homem e a sociedade, se quiserem manter sua posição no ser que torna possível o salto para a parceria enfática, devem permanecer ajustados à ordem da existência mundana.
Uma Nova Tolerância para a Imperfeição Humana
Portanto, não há uma era da igreja que sucederia uma era da sociedade em um nível de sintonia mais compacta com o ser. Em vez disso, desenvolvem-se as tensões, os atritos e os equilíbrios entre os dois níveis de sintonia, uma estrutura dualista da existência que se expressa em pares de símbolos, da teologia civilis e da teologia supranaturalis, dos poderes temporais e espirituais, do estado secular e da igreja.
A intolerância à simbolização indecorosa não resolve esse novo problema, e o amor pelo ser que inspira a intolerância deve se comprometer com as condições da existência. Essa atitude de compromisso pode ser discernida na obra do velho Platão, quando sua intolerância à simbolização indecorosa, forte em seus primeiros e médios anos, passa por uma notável transformação.
De fato, o insight da conversão, o princípio de que Deus é a medida do homem, longe de ser prejudicado, é afirmado com ainda mais força, mas sua comunicação se tornou mais cautelosa, recolhendo-se mais profundamente por trás dos véus do mito.
Há uma consciência de que a nova verdade sobre o ser não é um substituto, mas um acréscimo à antiga verdade. As Leis prevêem uma pólis que é construída como um análogo cósmico, talvez traindo influências da cultura política oriental; e a nova verdade será infiltrada apenas na medida em que o recipiente existencial puder suportar sem se romper.
Além disso, há uma nova consciência de que um ataque à simbolização indecorosa da ordem pode destruir a própria ordem juntamente com a fé em suas analogias, de que é melhor ver a verdade de forma obscura do que não ver nada, de que a sintonia imperfeita com a ordem do ser é preferível à desordem.
A intolerância inspirada pelo amor ao ser é equilibrada por uma nova tolerância, inspirada pelo amor à existência e pelo respeito aos caminhos tortuosos pelos quais o homem se aproxima historicamente da verdadeira ordem do ser. Em Epinomis, Platão diz a última palavra de sua sabedoria — que todo mito tem sua verdade.
Original disponível em: https://voegelinview.com/why-do-we-need-philosophy-pt-1/
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com