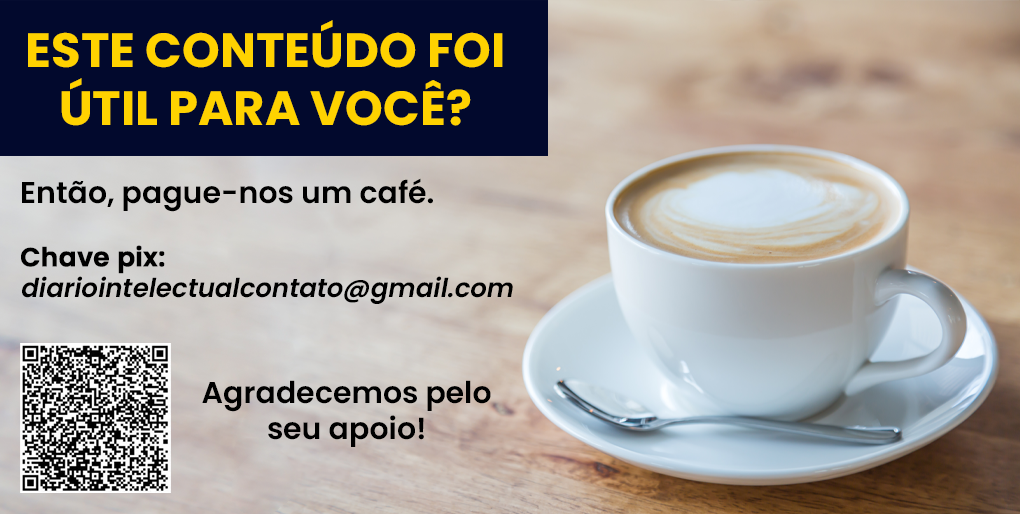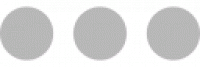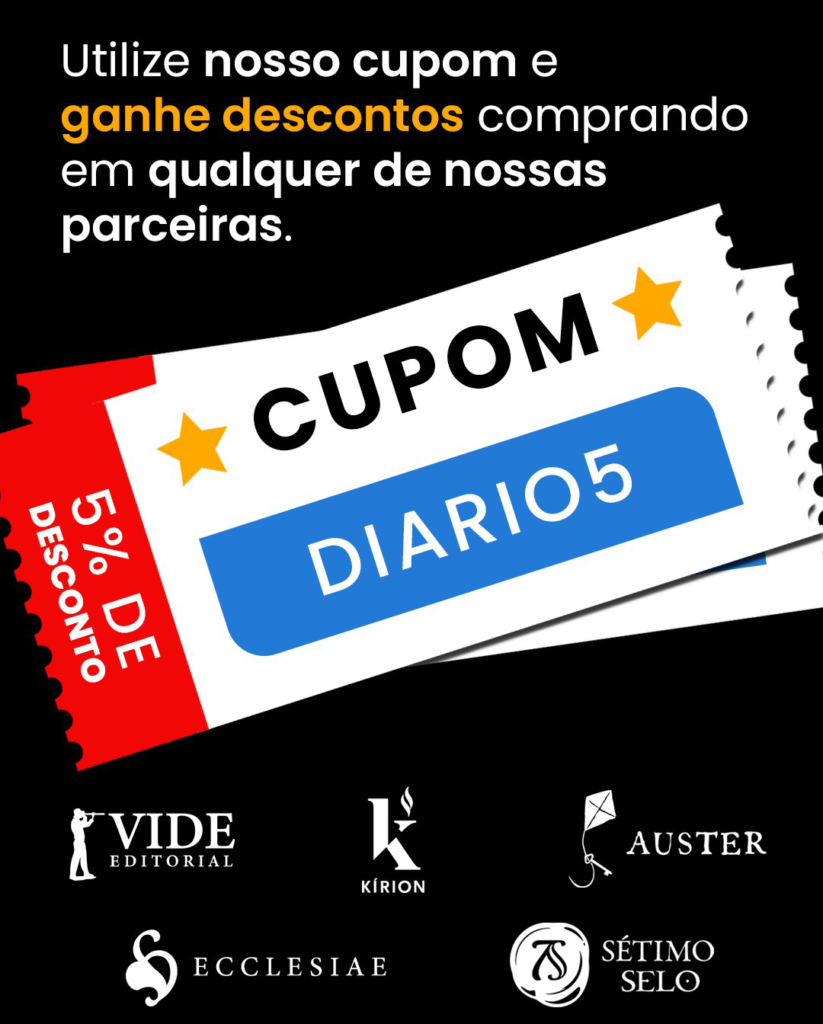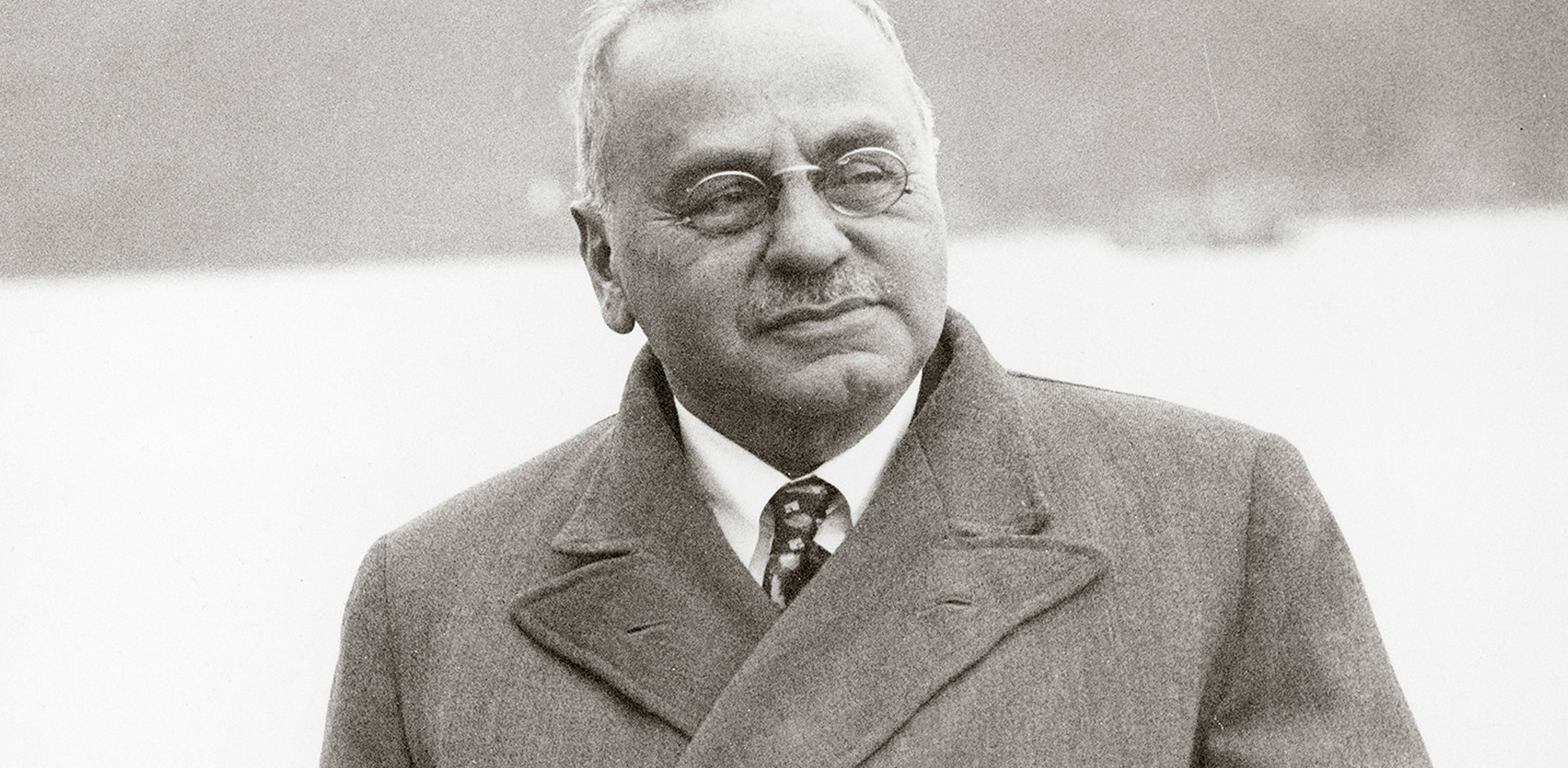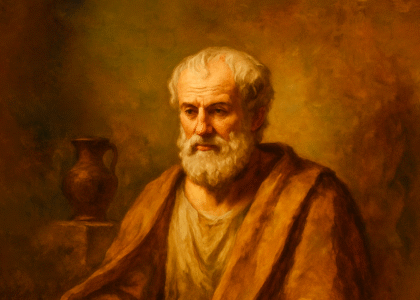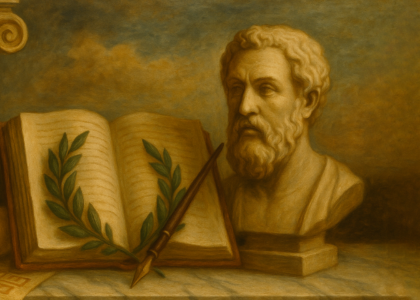A educação moderna, ao invés de ajudar o indivíduo a alcançar o bem, muitas vezes o conduz à mediocridade e até ao vício.
“Cada dia devemos sacrificar o que importa deveras na ordem inferior para obter a aproximação da ordem que é superior. A existência deve ser pensada com hierarquia, guardando sempre o sentido das ordens engrenadas uma na outra e dos sacrifícios obrigatórios”. Jean Guitton
Os dias exigem de nós a capacidade de fazer as melhores escolhas, não as piores. No entanto, em cada afirmação de um filósofo ou estudioso, podemos identificar premissas ocultas. O que são premissas ocultas? São argumentos que não estão explicitamente apresentados, mas que o filósofo ou o autor precisa acreditar para fazer a afirmação que está fazendo.
Por exemplo, se eu pergunto a alguém: “Que horas são?”, qual é a premissa oculta na minha pergunta? A premissa é a crença na existência do tempo. Para perguntar que horas são, preciso acreditar que existe algo chamado “tempo” e uma forma de medi-lo. Se a pessoa consegue me responder, é porque compartilhamos essa crença. Claro, não me peçam para definir o que é o tempo, pois isso já é uma questão filosófica complexa, que, por exemplo, Santo Agostinho dizia não saber responder, mesmo sendo ele um profundo pensador platônico.
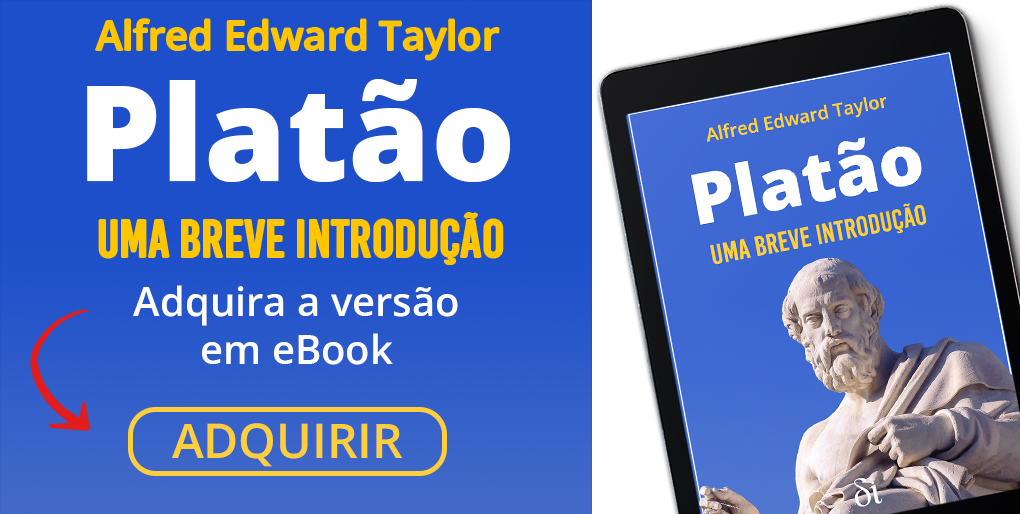
Quando o filósofo francês Jean Guitton fala de uma hierarquia de decisões, ele está sugerindo que algumas decisões são melhores que outras. A premissa oculta aqui é a crença de que existe o “bem” e o “mal”. Se existem decisões boas, é porque existe um padrão do que é bom — o bem — e, se existem decisões ruins, é porque existe o mal. Uma decisão ruim é aquela que nos afasta do bem e nos aproxima do mal.
Essa visão não é invenção de filósofos contemporâneos como Jean Guitton, mas reflete a filosofia socrática, que é a base da filosofia ocidental. Sócrates, embora não tenha deixado escritos, foi o mestre de Platão, que desenvolveu suas ideias. Platão via a realidade como uma hierarquia, na qual o bem supremo, o sumo bonum, ocupa o topo da escala e a ignorância, ou o mal, ocupa a base. Para ele, o mal é, na sua essência, a ignorância — a falta de conhecimento. A filosofia platônica é, em essência, um projeto educacional, questão que Julius Stenzel abordou formidavelmente bem no clássico “Platão educador”.
Para Platão, o homem está entre o bem supremo e o mal absoluto. A moralidade, segundo ele, está relacionada às escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas, desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos. A cada escolha, estamos nos aproximando ou nos afastando do bem.
Nos tempos modernos, no entanto, muitos filósofos e estudiosos questionam a existência de um padrão de bem e mal, como se as ações não pudessem ser classificadas como boas ou más, apenas diferentes. Essa visão é conhecida como relativismo moral, que nega a hierarquia do bem e do mal, e não aceita uma visão universal dos valores. Para o relativismo moral, a moralidade de uma ação depende do ponto de vista cultural, e não existe um bem absoluto. Eu, pessoalmente, não acredito nessa visão.
A premissa oculta por trás da hierarquia de decisões é que precisamos tomar decisões que nos aproximem do bem, pois existem bens maiores e bens menores. A educação, nesse contexto, é fundamental. Para Platão, a educação não é apenas um processo de acumular conhecimento, mas sim um meio de nos direcionar ao bem supremo. Já a premissa por detrás do relativismo moral é a de que não existe bem e mal. Bem e mal são conceitos puramente arbitrários e subjetivos.
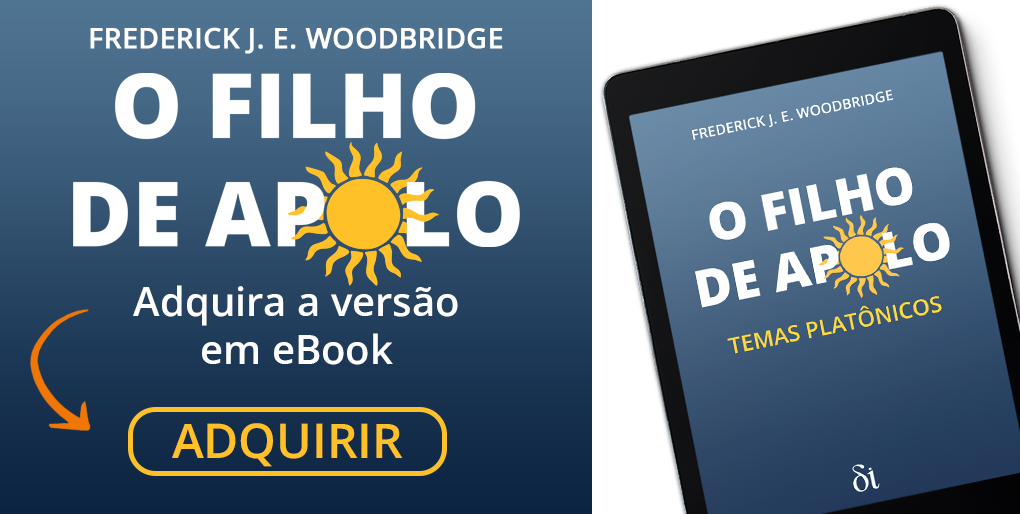
Nos tempos de ouro da educação grega, a educação tinha como objetivo cultivar as virtudes e preparar o ser humano para agir de acordo com o bem. Hoje, no entanto, a educação foi muitas vezes reduzida a um processo técnico de passar em provas e obter diplomas. A verdadeira educação, para Platão, deve guiar o indivíduo para o seu próprio bem, removendo os vícios e cultivando as virtudes. Uma educação que não tem esse propósito é, na verdade, uma “anti-educação”, pois está desviando o homem do seu fim último.
A educação moderna, ao invés de ajudar o indivíduo a alcançar o bem, muitas vezes o conduz à mediocridade e até ao vício. A escolha de não cultivar princípios e valores que orientem a nossa ação nos leva a escolhas erradas, que nos afastam do bem. A verdadeira educação não está apenas em saber de cor o que está no livro, mas em transformar esse conhecimento em algo que faça parte de nossa essência. A educação genuína vai além da erudição, é o que nos torna mais humanos e sábios.
Por exemplo, a Bíblia nos ensina a escrever os mandamentos de Deus “na tábua do meu coração“, ou seja, o conhecimento deve estar internalizado, não apenas registrado na mente. A diferença entre a religião e a filosofia está na mesma busca pela verdade, mas com caminhos diferentes. A filosofia, se feita corretamente, assim como a religião, deve nos levar à verdade. E essa verdade, para os cristãos, é Jesus Cristo, como Ele mesmo disse: “Eu sou a verdade.” Tanto é assim que Santo Agostinho foi capaz de exclamar: “Em ti senhor, reside a sabedoria! Ora, o amor à sabedoria, pelo qual eu me apaixono com esses estudos, tem o nome grego de filosofia.”
O modelo educacional contemporâneo, que deriva em grande parte dos sofistas, resulta em uma educação que muitas vezes está desvinculada de princípios morais sólidos. O relativismo moral tem se espalhado tanto nas escolas quanto nas universidades, gerando um ambiente onde qualquer opinião é válida e a busca pela verdade é secundária. Em um sistema onde “cada um tem sua própria verdade”, a educação perde seu propósito maior de formar cidadãos com valores universais e morais.
Na prática, isso cria uma sociedade sem uma base moral comum, onde as escolhas individuais são justificadas por fatores externos, como a pobreza ou a desigualdade social. Como exemplo, no caso recente de um crime em Minas Gerais, a justificativa de que a pobreza seria a causa de um crime brutal levanta questionamentos sobre a real motivação do ato. Se tudo pode ser justificado, então a educação, que deveria ajudar a formar um caráter sólido, acaba sendo desvirtuada.

Um dos grandes problemas da educação moderna é justamente essa divisão do ser humano, como se o homem não tivesse alma. Vamos supor, por um momento, que somos apenas animais, que não viemos de Deus, que não temos alma, e que não existe uma metafísica. Se fôssemos pensar dessa forma, estaríamos nos enganando, acreditando que tudo é apenas biológico e neurológico, sem qualquer dimensão espiritual. Assumindo esse modelo educacional, não deveria ser espanto para ninguém que surja no Ensino Superior, ou seja, dentro da Academia, um pesquisador que garanta educar com c*.
São Luís, dia de Nossa Senhora das Graças.
Se esta publicação foi útil para você, apoie nosso projeto através de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com