Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo e crítico cultural alemão que publicou intensamente nas décadas de 1870 e 1880. Ele é famoso pelas críticas intransigentes à moral e à religião tradicionais européias, bem como às idéias filosóficas convencionais e os preconceitos sociais e políticos associados à modernidade. Muitas dessas críticas baseiam-se em diagnósticos psicológicos que expõem a falsa consciência que infecta as idéias adquiridas; por essa razão, ele é geralmente associado a um grupo de pensadores modernos tardios (incluindo Marx e Freud) que promoveram uma “hermenêutica da desconfiança” contra os valores tradicionais (ver Foucault [1964] 1990, Ricoeur [1965] 1970, Leiter 2004). Nietzsche também usou suas análises psicológicas para apoiar teorias originais sobre a natureza do eu e as propostas provocadoras que sugeriam novos valores que, pensava ele, promoveriam a renovação cultural e melhorariam a vida social e psicológica comparativamente à vida sob os valores tradicionais que ele criticava.
- 1. Vida e Obra
- 2. Crítica da Religião e Moral
- 3. Criação de valor
- 4. O Eu e o Auto-Fabrição
- 5. Dificuldades da Escrita Filosófica de Nietzsche
- 6. Principais Doutrinas
- Bibliografia
- Academic Tools
- Other Internet Resources
- Related Entries
- Acknowledgments
1. Vida e Obra
Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Röcken (perto de Leipzig, na Alemanha), onde seu pai era um pastor luterano. Seu pai morreu em 1849, e a família se mudou para Naumburg, onde ele cresceu em um lar composto por sua mãe, sua avó, duas tias e sua irmã mais nova, Elisabeth. Nietzsche teve uma brilhante carreira escolar e universitária, culminando em maio de 1869, quando foi chamado para uma cadeira de filologia clássica na Basiléia. Aos 24 anos de idade, ele foi o mais jovem já nomeado para esse cargo. Seu professor, Friedrich Wilhelm Ritschl, escreveu em sua carta de referência que Nietzsche era tão promissor que “ele simplesmente será capaz de fazer tudo o que quiser fazer” (Kaufmann 1954: 8). A maior parte do trabalho universitário de Nietzsche e de suas primeiras publicações eram em filologia, mas ele já estava interessado na filosofia, particularmente no trabalho de Arthur Schopenhauer e de Friedrich Albert Lange. Antes de surgir a oportunidade na Basiléia, Nietzsche havia planejado realizar um segundo Ph.D., em filosofia, com um projeto sobre as teorias da teleologia existentes na época desde Kant.
Quando ele era estudante em Leipzig, Nietzsche conheceu Richard Wagner, e, após sua mudança para a Basiléia, se tornou um convidado frequente na casa Wagner na Villa Tribschen em Lucerna. A amizade de Nietzsche com Wagner (e Cosima Liszt Wagner) durou até meados da década de 1870, e essa amizade — juntamente com sua ruptura final — foi uma peça chave em sua vida pessoal e profissional. Seu primeiro livro, The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music (O Nascimento da Tragédia a Partir do Espírito da Música, 1872), não foi o cuidadoso trabalho de erudição clássica que a área poderia esperar, mas uma polêmica controversa que combinava especulações sobre o colapso da cultura trágica de Atenas do século V com uma proposta de que a música-drama Wagneriana pudesse se tornar a fonte de uma cultura trágica renovada para a Alemanha contemporânea. O trabalho foi geralmente mal recebido no âmbito dos estudos clássicos — e revisto severamente por Ulrich Wilamovitz-Möllendorff, o qual se tornou um dos principais classicistas da geração — embora contivesse alguns insights interpretativos impressionantes (por exemplo, sobre o papel do refrão na tragédia grega). Após o primeiro livro, Nietzsche continuou seus esforços para influenciar a direção mais ampla da cultura intelectual alemã, publicando ensaios, destinados a um grande público, sobre David Friedrich Strauss, sobre o “uso da história pela vida”, sobre Schopenhauer e sobre Wagner. Esses ensaios são conhecidos coletivamente como Untimely Meditations.(Considerações Extemporâneas).
Embora tenha ajudado no planejamento inicial do projeto Bayreuth de Wagner e participado do primeiro festival, Nietzsche não ficou favoravelmente impressionado com a atmosfera cultural de lá, e sua relação com os Wagners se deteriorou depois de 1876. A saúde de Nietzsche, sempre frágil, o forçou a sair de Basiléia em 1876-77. Ele aproveitou o tempo para explorar uma crítica amplamente naturalista da moralidade e cultura tradicionais — um interesse encorajado por sua amizade com Paul Rée, que estava com Nietzsche em Sorrento trabalhando em seu Origin of Moral Sensations (ver Janaway 2007: 74-89; Small 2005). A pesquisa de Nietzsche resultou em Humano, Demasiado Humano (1878), que introduziu seus leitores aos ataques corrosivos às massas convencionais pelas quais ele se tornou famoso, assim como a um estilo de escrita resumido, parágrafos numerados e aforismos incisivos aos quais ele retornou com frequência em trabalhos posteriores. Quando enviou o livro para os Wagners no início de 1878, isso acabou efetivamente com a amizade deles: Nietzsche escreveu mais tarde que seu livro e o Libreto Parsifal de Wagner se cruzaram no correio “como se duas espadas se cruzassem” (EH III; HH 5).
A saúde de Nietzsche não melhorou de forma mensurável durante as férias e, em 1879, ele foi forçado a renunciar totalmente à sua cátedra. Como resultado, ele foi liberado para escrever e desenvolver o estilo que lhe convinha. Em seguida, publicou um livro quase todos os anos. As obras começaram com Daybreak (1881), que recolheu observações críticas sobre a moral e sua psicologia subjacente, e seguiram-se as obras maduras pelas quais Nietzsche é mais conhecido: The Gay Science (A Gaia CIência, 1882, segunda edição ampliada 1887), Assim Falou Zaratustra (1883-5), Além do Bem e do Mal (1886), On the Genealogy of Morality (A Genealogia da Moral, 1887), e no último ano de sua vida produtiva Twilight of the Idols (Crepúsculo dos Idolos, 1888) e The Wagner Case (O caso Wagner, 1888), juntamente com The Antichrist (O Anti-Cristo) e sua biografia intelectual, Ecce Homo, que foram publicados apenas mais tarde. No início desse período, Nietzsche desfrutou de uma intensa, mas no final das contas dolorosa, amizade com Rée e Lou Salomé, uma brilhante jovem estudante russa. Os três inicialmente planejavam viver juntos em uma espécie de comunidade intelectual, mas Nietzsche e Rée desenvolveram um interesse romântico por Salomé, e depois que Nietzsche propôs o casamento, sem sucesso, Salomé e Rée partiram para Berlim. Salomé escreveu mais tarde um livro esclarecedor sobre Nietzsche (Salomé [1894] 2001), o qual propôs primeiramente uma influente periodização de seu desenvolvimento filosófico.
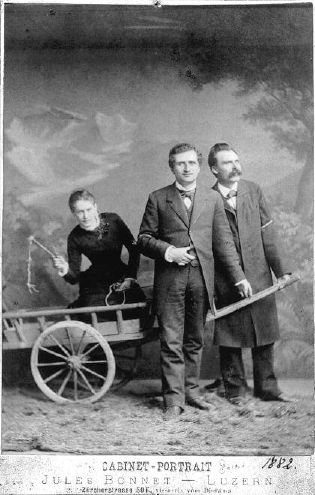
Nos anos posteriores, Nietzsche mudou-se com frequência no esforço de encontrar um clima que melhorasse sua saúde, estabelecendo-se nos invernos perto do Mediterrâneo (geralmente na Itália) e nos verões em Sils Maria, na Suíça. Seus sintomas incluíam dores de cabeça intensas, náuseas e problemas com a visão. Trabalhos recentes (Huenemann 2013) argumentaram convincentemente que ele provavelmente sofreu de um meningioma retro-orbital, um tumor de crescimento lento na superfície do cérebro atrás de seu olho direito. Em janeiro de 1889, Nietzsche desmaiou na rua em Turim, e quando recuperou a consciência ele escreveu uma série de cartas cada vez mais desorientadas. Seu amigo próximo da Basiléia, Franz Overbeck, estava seriamente preocupado e viajou para Turim, onde encontrou Nietzsche sofrendo de demência. Após um tratamento mal sucedido na Basileia e em Jena, ele foi deixado aos cuidados de sua mãe e, mais tarde, de sua irmã, acabando por cair em completo silêncio. Ele viveu até 1900, quando morreu de um acidente vascular cerebral complicado pela pneumonia.
Durante sua doença, sua irmã Elisabeth assumiu o controle de seu legado literário, e eventualmente publicou The Antichrist (O Anti-Cristo) e Ecce Homo, assim como uma seleção de escritos de seus cadernos para os quais ela usou o título The Will to Power (Vontade de Potência), seguindo a observação de Nietzsche na Genealogy (GM III, 27), segundo a qual ele planejou uma grande obra sob esse título. O trabalho editorial não foi bem fundamentado dentro dos planos sobreviventes de Nietzsche para o livro e também foi prejudicado pelos fortes compromissos anti-semitas de Elisabeth, particularmente angustiantes para o próprio Nietzsche. Como resultado, Vontade de Potência deixa uma impressão um tanto enganadora sobre o caráter geral e o conteúdo dos escritos deixados nos cadernos de Nietzsche. Esses escritos estão agora disponíveis em uma edição crítica excepcional (KGA, mais amplamente disponível em KSA; traduções em inglês das seleções estão disponíveis em WEN e WLN).
A vida de Nietzsche foi tema de várias biografias completas (Hayman 1980, Cate 2002, Safranski 2003, Young 2010), bem como de reconstruções ficcionais especulativas (Yalom 1992); os leitores podem encontrar mais detalhes sobre sua vida e obras particulares no verbete Nietzsche’s Life and Works e nos artigos que compõem as três primeiras partes de Gemes e Richardson (2013), assim como em Meyer (2019), que trata da estratégia de publicação das obras do “período médio” de Nietzsche (HH, D, GS).
2. Crítica da Religião e Moral
Nietzsche é indiscutivelmente mais famoso por suas críticas aos compromissos morais tradicionais europeus, em conjunto com seu fundamento no cristianismo. Essa crítica é muito abrangente; ela visa minar não apenas a fé religiosa ou a teoria moral filosófica, mas também muitos aspectos centrais da consciência moral comum, parte dos quais são difíceis de se imaginar sem (por exemplo, a preocupação altruísta, a culpa por atos ilícitos, a responsabilidade moral, o valor da compaixão, a exigência de consideração igualitária das pessoas, e assim por diante).
Na época em que Nietzsche escreveu, era comum que os intelectuais europeus presumissem que tais idéias, por mais que sua inspiração se devesse à tradição cristã intelectual e religiosa, precisavam de uma fundamentação racional independente de compromissos religiosos sectários ou mesmo ecumênicos particulares. Então, tal como hoje, a maioria dos filósofos assumiu que uma reivindicação secular da moralidade se daria certamente no futuro e salvaria a grande maioria de nossos compromissos usuais. Nietzsche achou essa confiança ingênua, e empregou toda sua destreza retórica para chocar seus leitores para que se sentissem complacentes quanto a isso. Por exemplo, suas dúvidas sobre a viabilidade dos fundamentos cristãos em favor da vida moral e cultural não são apresentadas com entusiasmo de liberação antecipada, nem se apresenta um chamado sóbrio e basicamente confiante para se desenvolver uma compreensão secular da moralidade; em vez disso, ele lança o famoso, agressivo e paradoxal pronunciamento de que “Deus está morto” (GS 108, 125, 343). Tal idéia não significa que o ateísmo seja verdadeiro — no GS 125, ele descreve esse pronunciamento como uma notícia nova para um grupo de ateus — mas sim que, pelo fato da “crença no Deus cristão ter se tornado inacreditável”, tudo o que foi “construído sobre essa fé, sustentado por ela, crescido nela”, incluindo “toda a nossa moralidade européia”, está destinado ao “colapso” (GS 343). O cristianismo não comanda mais a lealdade cultural de toda a sociedade como uma estrutura que fundamenta os compromissos éticos e, portanto, como base comum para a vida coletiva que supostamente teria sido imutável e invulnerável, revelou-se não apenas menos estável do que presumimos, mas incompreensivelmente mortal — e, de fato, já está perdido. A resposta exigida por tal reviravolta dos acontecimentos é o luto e a profunda desorientação.
Na verdade, de acordo com Nietzsche, o caso é ainda pior do que isso. Não apenas os compromissos morais padrão carecem da base que pensávamos que tinham, mas, despojados de seu verniz de autoridade inquestionável, eles provam ter sido não apenas infundados, mas positivamente prejudiciais. Infelizmente, a moralização de nossas vidas se prendeu insidiosamente a necessidades psicológicas genuínas — algumas básicas à nossa condição, outras cultivadas pelas condições de vida sob moral — de modo que seus efeitos corrosivos não podem ser simplesmente removidos sem maiores danos psicológicos. Pior ainda, o lado prejudicial da moralidade se implantou em nós sob a forma de uma genuína autocompreensão, tornando difícil para nós nos imaginarmos vivendo de qualquer outra maneira. Assim, argumenta Nietzsche, estamos diante de um difícil projeto de restauração a longo prazo no qual os aspectos mais queridos de nosso modo de vida devem ser implacavelmente investigados, desmontados e depois reconstruídos de forma mais saudável — tudo enquanto continuamos de algum modo a navegar no navio de nossa vida ética comum pelo alto mar.
O desenvolvimento mais extenso dessa crítica nietzschiana à moralidade aparece em seu último trabalho, On the Genealogy of Morality (Sobre a Genealogia da moralidade), que consiste em três tratados, cada um dedicado ao exame psicológico de uma idéia moral central. No Primeiro Tratado, Nietzsche retoma a idéia de que a consciência moral consiste fundamentalmente na preocupação altruísta com os outros. Ele começa observando um fato marcante, a saber, que essa concepção generalizada do que é a moralidade — enquanto que para nós é inteiramente comum — não é a essência de qualquer moralidade possível, mas uma inovação histórica.
Para fundamentar a mudança histórica, ele identifica dois padrões de avaliação ética, cada um associado a um par básico de termos de avaliação, um padrão bom/ruim e um padrão bom/mau. Entendido de acordo com o padrão bom/ruim, a idéia de bondade teria origem no privilégio de classe social: o bom foi primeiramente entendido como sendo o da ordem social superior, mas depois, eventualmente, a idéia de bondade foi “internalizada”, ou seja, transferida da própria classe social para traços de caráter e outras excelências pessoais que eram tipicamente associados à casta privilegiada (por exemplo, a virtude da coragem para uma sociedade com uma classe militar privilegiada, ou magnanimidade para uma sociedade com uma elite rica, ou veracidade e nobreza — psicológica — para uma aristocracia culturalmente ambiciosa; ver GM I, 4). Em tal sistema, a bondade está associada a virtudes exclusivas. Não se pensa que todos devem ser excelentes — a própria idéia não faz sentido, já que ser excelente é distinguir-se da corrente comum das pessoas. Nesse sentido, a valorização do bom/ruim surge de um “pathos de distância” (GM I, 2) que expressa a superioridade que as pessoas sentem sobre as pessoas comuns, e dá origem a uma “moral nobre” (BGE 260). Nietzsche mostra de forma bastante convincente que esse padrão de avaliação era dominante na antiga cultura mediterrânea (o mundo homérico, posterior a sociedade grega e romana, e até mesmo muito da antiga ética filosófica).
O padrão de avaliação bom/mau é bem diferente. Ele concentra sua avaliação negativa (o mau) nas violações dos interesses ou do bem-estar dos outros — e consequentemente sua avaliação positiva (o bom) na preocupação altruísta por seu bem-estar. Tal moralidade precisa ter pretensões universalistas: para promover e proteger o bem-estar de todos, suas restrições e injunções devem se aplicar a todos igualmente. Assim, é especialmente favorável às idéias de igualdade humana básica, partindo do pensamento de que cada pessoa tem uma reivindicação igual de consideração moral e respeito. Essas são idéias familiares no contexto moderno — tão familiares, de fato, que Nietzsche observa como é fácil confundi-las com “a maneira moral de valorização como tal” (GM Pref., 4) — mas a estrutura universalista, os sentimentos altruístas e a tendência igualitária desses valores marcam um contraste óbvio com a valorização das virtudes exclusivas no padrão bom/ruim. O contraste, juntamente com o domínio anterior das moralidades estruturadas do bom/ruim, levanta uma questão histórica direta: o que aconteceu? Como passamos da aceitação generalizada da valorização do bom/ruim para a dominância quase universal do pensamento bom/mau?
A famosa resposta de Nietzsche é pouco lisonjeira para nossa concepção moderna. Ele insiste que a transformação foi o resultado de uma “revolta de escravos contra a moralidade” (GM I, 10; cf. BGE 260). A natureza exata dessa suposta revolta é uma questão de contínua controvérsia acadêmica (na literatura recente, ver Bittner 1994; Reginster 1997; Migotti 1998; Ridley 1998; maio de 1999: 41-54; Leiter 2002: 193-222; Janaway 2007: 90-106, 223-9; Owen 2007: 78-89; Wallace 2007; Anderson 2011; Poellner 2011), mas o esboço geral é suficientemente claro. Pessoas que sofriam de opressão às mãos de pessoas nobres, excelentes (mas desinibidas), valorizadas pela moralidade do bom/ruim — e a quem foi negado qualquer recurso eficaz contra elas pela relativa impotência — desenvolveram um padrão emocional persistente e corrosivo de ódio ressentido contra seus inimigos, que Nietzsche chama de ressentimento. Essa emoção motivou o desenvolvimento do novo conceito moral do mau, propositalmente concebido para a condenação moralista desses inimigos. (Quão consciente ou inconsciente — quão “estratégico” ou não — esse processo deveria ter sido é uma questão de controvérsia acadêmica). Posteriormente, através da negação do conceito de mau, surge o novo conceito de bondade, enraizado na preocupação altruísta de um tipo que inibiria as ações más. A condenação moralista usando esses novos valores faz pouco por si só para satisfazer o desejo motivador de vingança, mas se a nova maneira de pensar pudesse se espalhar, ganhando mais adeptos e eventualmente influenciando as avaliações até mesmo da nobreza, então a vingança poderia ser impressionante — na verdade, seria “a forma mais espiritual” de vingança (GM I, 7; ver também GM I, 10-11). Porque, nesse caso, a revolta realizaria uma “revalorização radical” (GM I, 7) que corromperia os próprios valores que deram ao nobre modo de vida seu caráter e o faria parecer admirável em primeiro lugar.
Para Nietzsche, então, nossa moralidade equivale a um esforço vingativo para envenenar a felicidade dos afortunados (GM III, 14), em vez de uma preocupação elevada, desapaixonada e estritamente racional pelos outros. Isso pode parecer difícil de se aceitar, tanto como um relato de como se originou a valorização da preocupação altruísta, quanto ainda mais como uma explicação psicológica da base do altruísmo nos sujeitos morais modernos, os quais estão muito distantes das condições sociais que figuram na história de Nietzsche. Dito isso, Nietzsche oferece duas vertentes de provas suficientes para dar uma pausa a um leitor de mente aberta. No contexto cristão, ele aponta para a surpreendente prevalência do que se poderia chamar de “enxofre, fogo do inferno e diatribe da condenação” em cartas e sermões cristãos: Nietzsche cita longamente um exemplo impressionante de Tertuliano (GM I, 15), mas esse exemplo é a ponta de um iceberg muito grande, e é um quebra-cabeça preocupante em relação ao que esse gênero de “explosões vingativas” (GM I, 16) está até mesmo fazendo dentro (do que se supõe que seja) uma religião de amor e perdão. Em segundo lugar, Nietzsche observa, com aquela perspicácia que abaça a confiança, o quão frequentemente a própria condenação moralista indignada — seja em razão de questões criminais graves ou públicas ou de interações pessoais mais privadas — pode se desprender de qualquer avaliação ponderada do errado e se transformar em uma expressão flutuante de ressentimento vingativo contra algum perpetrador (real ou imaginário). O espírito de tais condenações está frequentemente mais de acordo com o diagnóstico do altruísmo feito por Nietzsche do que com nosso convencional (mas possivelmente auto-satisfeito) auto-entendimento moral.
O Primeiro Tratado faz pouco, entretanto, para sugerir a razão pela qual os portadores de uma moralidade nobre poderiam ser movidos por tais condenações, gerando uma questão sobre como a revalorização moral poderia ter sido bem sucedida. Nada interno ao sistema de valores dos nobres lhes dá qualquer motivo de preocupação altruísta geral ou qualquer razão para prestar atenção às queixas daqueles que eles já descartaram como desprezíveis. O Segundo Tratado, sobre a condenação e a má consciência, oferece alguns materiais para uma resposta a esse enigma.
Nietzsche começa a partir da percepção de que a condenação tem uma estreita conexão conceitual com a noção de dívida. Do mesmo modo que a falta de pagamento de um devedor dá ao credor o direito de buscar uma compensação alternativa (seja através de algum remédio escrito em um contrato, ou menos formalmente, através de sanções gerais, sociais ou legais), assim um condenado deve à vítima alguma forma de resposta à violação, que serve como uma espécie de compensação por qualquer dano que tenha sido sofrido. A história conjectural de Nietzsche da noção de condenação “moralizada” (GM II, 21) sugere que ela se desenvolveu através de uma transferência dessa estrutura — que emparelha cada perda a alguma compensação (punitiva) — a partir do domínio do débito material até uma classe mais ampla de ações que violam alguma norma socialmente aceita. A transformação conceitual realmente importante, entretanto, não é a transferência em si, mas uma purificação e uma internalização do sentimento de endividamento, que liga a demanda por indenização a uma fonte de ação errônea que supostamente está inteiramente sob o controle do agente, e assim atribui uma avaliação negativa ao senso básico de valor pessoal da pessoa culpada.
O caráter altamente purificado da condenação moralizada sugere como ela pode ser uma ferramenta poderosa para a revalorização moral e, simultaneamente, indica algumas das razões do ceticismo de Nietzsche contra ela. Como observa Williams (1993a), uma noção purificada de condenação pertencente àquilo que está completamente sob o controle do agente (e, portanto, totalmente imune à sorte) se encontra em uma situação particularmente estreita om a culpa: “A culpa precisa de uma ocasião — uma ação — e um alvo, a pessoa que fez a ação e continua a encontrar a culpa” (Williams 1993a: 10). A pura idéia de condenação moralizada responde a essa necessidade amarrando qualquer ação errada de maneira inextricável e única a um agente culpado. Como vimos, o impulso para atribuir a culpa foi central ao ressentimento que motivou a revalorização moral dos valores, de acordo com o Primeiro Tratado. Assim, na medida em que as pessoas (mesmo nobres) se tornam suscetíveis a tal condenação moralizada, elas também podem se tornar vulneráveis à revalorização, e Nietzsche oferece algumas especulações sobre como e por que isso pode acontecer (GM II, 16-17).
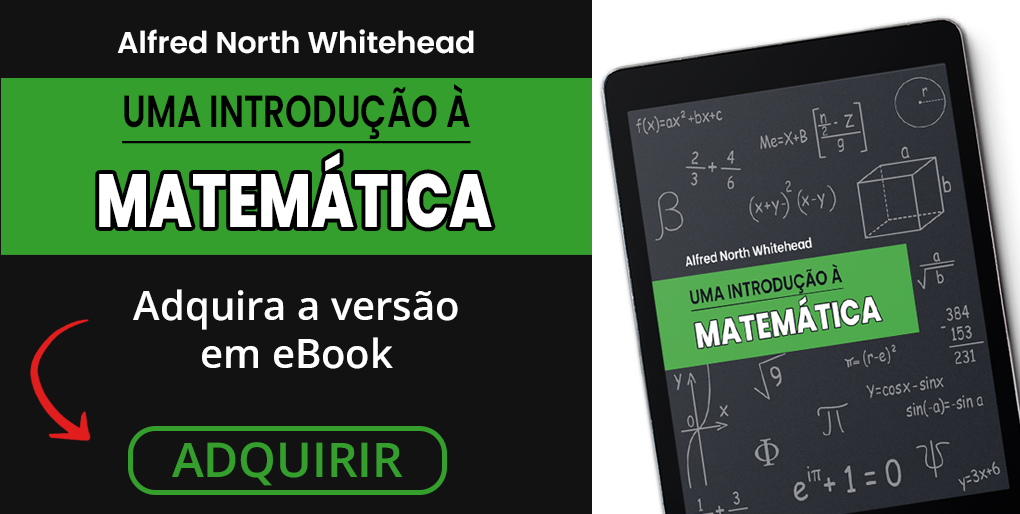
Todavia, a principal preocupação de Nietzsche no Segundo Tratado é o risco que se corre com a culpa moralizada em relação à saúde psicológica. Essas críticas têm atraído uma literatura secundária cada vez mais sutil; ver Reginster (2011, 2018, 2021), assim como Williams (1993a, b), Ridley (1998), maio (1999: 55-80), Risse (2001, 2005), Janaway (2007: 124-42), Owen (2007: 91-112), Migotti (2013), e Leiter (2015: 178-95). Um pensamento marcante é o de que a própria pureza da culpa a torna passível de se voltar contra o próprio agente — mesmo nos casos em que ela não desempenha um papel legítimo de auto-regulação, ou de formas que superem tal papel. Por exemplo, dada a intensa internalização da culpa, nenhuma conexão com uma vítima real é essencial para ela. Qualquer observador da violação (real ou ideal/imaginado) pode igualmente ter o direito de se ressentir da culpa, e esse fato abre espaço para que os sistemas religiosos ou ideológicos atribuam a culpa a praticamente qualquer tipo de violação de regra, mesmo quando ninguém foi prejudicado. Nesses casos, a culpa flutuante pode perder seu ponto social e moral e desenvolver-se em um desejo patológico de autopunição.
O Terceiro Tratado da Genealogia explora a intensificação de tal autopunição através da idealização do ascetismo. A auto-renúncia ascética é um fenômeno curioso. (De fato, em certas suposições psicológicas, como no egoísmo psicológico descritivo ou no hedonismo comum, isso parece incompreensível). Mas ela está, no entanto, surpreendentemente difundida na história da prática religiosa. A Genealogia não perde nenhuma chance de criticar as versões religiosas da ascese, mas seu alvo é mais amplo — incluindo, especificamente, a forma mais racional que o ascetismo assume na ética de Schopenhauer. O que unifica as diferentes versões é sua extensão da valorização da autodisciplina no interesse da virtude (que o próprio Nietzsche defenderia) em uma forma completa de auto-condenação, na qual a autodisciplina se volta contra o próprio agente e vem para expressar o compromisso da pessoa com sua própria inutilidade fundamental. (Um caminho óbvio para tal sistema de valores, embora longe de ser o único, é o de que o moralista identifique um conjunto de impulsos e desejos que as pessoas são obrigadas a ter — talvez enraizados em sua natureza humana ou animal — e condená-los como maus; formas anti-sensualistas de ascese seguem esse caminho).
Como enfatiza Nietzsche, a condenação purificada é naturalmente recrutada como uma ferramenta para desenvolver a ascese. O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, e a estratégia ascética é interpretar tal sofrimento como castigo, ligando-o assim à noção de culpa. Apesar de virar seu próprio sofrimento contra a pessoa, o movimento paradoxalmente oferece certas vantagens ao agente — não apenas seu sofrimento ganha uma explicação e justificação moral, mas sua própria atividade pode ser validada ao ser alistada do lado da punição (auto-castigo):
Pois todo sofredor procura instintivamente uma causa para seu sofrimento; mais precisamente ainda, um perpetrador, ainda mais especificamente, um culpado que é suscetível ao sofrimento,
e
diz-lhe o padre ascético: “É isso mesmo, minhas ovelhas! Alguém deve ser culpado por isso; mas você mesmo é esse alguém, só você é culpado por isso — só você é culpado por si mesmo!“. (GM III, 15)
Assim, sugere Nietzsche,
O principal método que o sacerdote ascético utilizou para fazer ressoar na alma humana uma música extasiante de qualquer tipo que seja executado — toda pessoa sabe disso — é explorar o sentimento de culpa. (GM III, 20)
Dado que a culpa envolve uma séria diminuição do valor pessoal, os efeitos dessa auto-compreensão ascética, refletida pela culpa, devem ser extremamente destrutivos para o sentimento de auto-estima do agente e, em última instância, para a saúde psicológica.
O relato de Nietzsche coloca a ascese sob uma luz pouco atraente, mas a concepção ascética da moralidade não é de modo algum refutada pela argumentação obtida através dessas considerações. Considere, por exemplo, a postura do pessimismo Schopenhaueriano, segundo a qual a vida humana e o mundo têm valor absolutamente negativo. Desse ponto de vista, o moralista pode perfeitamente admitir que a avaliação ascética é auto-punitiva e até destrutiva para o agente moral, mas tais conclusões são inteiramente consistentes com a realidade, elas parecem ser respostas justificáveis para a avaliação pessimista. Isto é, se a vida é um mal inerente e o nada é uma melhoria concreta em relação à existência, então a diminuição ou a deterioração da vida através do ascetismo produz um aumento líquido de valor. A preocupação de Nietzsche não é tanto refutar essa visão, mas diagnosticar. Ele insiste que tais compromissos avaliativos são sintomas de doença psicológica e cultural, e que a resposta ascética é uma resposta “instintiva”, mas em última análise autodestrutiva, um esforço de auto-medicação (GM III, 13, 16). Embora o ascetismo imponha autodisciplina à pessoa doente, ele simultaneamente a torna mais doente, mergulhando-a num conflito interno intensificado (GM III, 15, 20-21). Assim, a objeção fundamental de Nietzsche ao ascetismo é a de que ele é psicologicamente destrutivo e praticamente autodestrutivo, mesmo para aqueles (os doentes) para quem ele faz seu melhor trabalho — e isso é assim mesmo se ele permanece (de uma certa perspectiva) como o melhor que eles podem fazer por si próprios em sua condição.
Embora esta seção tenha se concentrado na Genealogia, vale a pena notar que seus três estudos são oferecidos apenas como exemplos do ceticismo nietzschiano acerca das idéias morais convencionais. Em O Anticristo, Nietzsche estendeu tais críticas aos fundamentos psicológicos, cognitivos e avaliativos especificamente cristãos da moral (uma extensão que tem sido objeto de extensa discussão recente; veja, por exemplo, Snelson 2017; Berry 2019; e os trabalhos incluídos em Conway 2019), e seus outros trabalhos criticam muitas outras idéias morais.
Para destacar apenas um exemplo, Nietzsche ataca o valor da compaixão (outro elemento central na teoria moral de Schopenhauer). Nietzsche tentou muitos argumentos diferentes contra a piedade e a compaixão, começando já em Humano, Demasiado Humano (1878) e continuando até o final de sua vida produtiva — para uma discussão, ver Reginster (2000), Janaway (2017a, 2017b), e Nussbaum (1994). Algumas vezes, ele enfatizou a sugestão ad hominem de que a compaixão é menos altruísta do que parece, seja com base no raciocínio inspirado em La Rochefoucauld de que a compaixão aparentemente altruísta na realidade é apenas egoísmo camuflado (D 133), seja com base no ponto psicologicamente sutil de que as satisfações da compaixão envolvem essencialmente um sentimento de “pequena superioridade” sobre os outros (GM III, 18) — (note que Rousseau se baseia em uma observação semelhante como parte de sua defesa do papel da compaixão no desenvolvimento moral; Rousseau [1762] 1979: 221). Porém, as queixas mais profundas de Nietzsche partem da observação de que uma moralidade da compaixão centraliza a atenção no problema do sofrimento, pressupondo que o sofrimento é mau enquanto tal. Nietzsche resiste à doutrina hedonista de que o prazer e a dor estão na base de todas as reivindicações de valor, o que seria a forma mais natural de defender tal pressuposto. Se ele estiver certo de que existem outros valores, independentemente das conseqüências para os prazeres e dores, esse fato levanta a possibilidade de que o valor final de qualquer incidência particular de sofrimento poderia depender do papel que ele desempenha na vida geral do sofredor e como ele poderia contribuir para esses outros valores; nesse caso, sua maldade não se seguiria imediatamente do fato nu de que ele está sofrendo. Nietzsche constrói essa idéia em um argumento contra a moralidade da compaixão, sugerindo que o sofrimento às vezes pode promover o crescimento de uma pessoa, ou o progresso em direção à excelência (GS 338; ver também Janaway 2017a). Desse ponto de vista, a moralidade da compaixão parece presunçosa e mal orientada. É presunçosa porque conclui de fora que o sofrimento de uma pessoa deve ser ruim, esvaziando assim “o que é mais pessoal” (GS 338) na vida da pessoa e interferindo em sua decisão sobre o valor de seu sofrimento. É mal orientada tanto porque corre o risco de roubar aos indivíduos sua oportunidade de fazer algo positivo (individualmente significativo) de seu sofrimento, e porque a desvalorização global do sofrimento enquanto tal descarta antecipadamente os aspectos potencialmente valiosos de nossa condição geral como criaturas vulneráveis e finitas (GS 338; compare Williams 1973: 82-100).
Este estudo atinge apenas alguns destaques da crítica de longo alcance de Nietzsche aos valores morais e religiosos tradicionais, que se estende a muitas outras idéias morais (por exemplo, o pecado, a transcendência do outro mundo, a doutrina do livre arbítrio, o valor do altruísmo, as perspectivas morais anti-sensualistas, e muito mais). Para ele, no entanto, os seres humanos continuam em última análise a valorizar as criaturas. Daí resulta que nenhuma crítica aos valores tradicionais poderia ser praticamente eficaz sem sugerir valores substitutos capazes de atender nossas necessidades como avaliadores (ver GS 347; Anderson 2009, esp. em 225-7; Richardson 2020 tenta uma sistematização dos valores substitutos). Nietzsche pensou que era tarefa dos filósofos criar tais valores (BGE 211), por isso os leitores há muito tempo e com razão esperavam encontrar um relato sobre a criação de valores em suas obras.
3. Criação de valor
Infelizmente, nem as idéias de Nietzsche sobre a natureza da criação de valor nem suas sugestões sobre quais valores específicos deveriam ser “criados” pareceram tão claras para os leitores quanto sua crítica negativa aos valores tradicionais. (A disparidade é freqüentemente marcada na literatura por dúvidas sobre se Nietzsche tem uma ética “positiva” a oferecer). Há algo parecido com esta reação: A crítica de Nietzsche tem um alvo claro e é desenvolvida em larga escala, enquanto suas sugestões sobre valores alternativos podem parecer dispersas ou telegráficas. Dito isso, não é como se Nietzsche fosse um pouco tímido em fazer reclamações carregadas de avaliação, incluindo as “positivas”. Até certo ponto, a decepção entre os comentaristas em busca de “pontos de vista positivos” surge de nossa busca por coisas erradas — por exemplo, buscar uma teoria axiológica organizada sistematicamente quando o próprio Nietzsche é cético em relação a qualquer projeto desse tipo, ou esperar que qualquer ética “positiva” acomode certas “intuições morais” que Nietzsche está mais inclinado a desafiar do que a salvar. Esta seção investiga alguns territórios que Nietzsche cobre sob o título “criação de valor”. Após mencionar diferentes opções para entender a natureza de tal “criação”, ela explora alguns dos valores que ele promove.
3.1 A Meta-ética de Nietzsche e a Natureza da Criação de Valor
O discurso de Nietzsche sobre a criação de valores desafia o senso comum filosófico. É comum, se não totalmente padrão, explicar valores contrastando-os com meros desejos. Ambos são atitudes positivas em relação a algum objeto ou estado de coisas (“pró-atitudes”), mas a valorização parece envolver um elemento de objetividade ausente no desejo. (Considere: se eu me convencer de que algo que valorizo não é de fato valioso, essa descoberta normalmente é suficiente para me provocar a rever meu valor, sugerindo que a valorização deve ser responsiva ao mundo; por outro lado, os desejos subjetivos muitas vezes persistem mesmo diante do meu julgamento de que seus objetos não são propriamente desejáveis, ou são inalcançáveis; veja os verbetes acerca da teoria do valor e do desejo). Nietzsche desafia essa concepção filosófica básica quando trata o valor como “criado” em vez de descoberto no mundo:
Nós [contemplativos] … somos aqueles que realmente modelamos continuamente algo que não existia antes: todo o mundo eternamente crescente de valorizações, cores, sotaques, perspectivas, escalas, afirmações e negações. … O que tem valor em nosso mundo agora não tem valor em si mesmo, de acordo com sua natureza — a natureza é sempre sem-valor —, mas foi dado um valor em algum momento, como um presente — e fomos nós que o demos e concedemos. Somente nós criamos o mundo que diz respeito ao homem! (GS 301; ver também GS 78, 109, 139, 143, 276, 289, 290, 299; Z I, 17, 22, II, 20, III, 12; BGE 203, 211, 260, 261, 285; TI IX, 9, 24, 49)
Passagens como a da GS 301 têm um sabor subjetivista inconfundível, rastreando valor até alguma fonte em nossas próprias atitudes e/ou agência, porém trata-se de uma questão difícil saber como essa vertente subjetivista do pensamento de Nietzsche deve ser reconciliada com sua insistência onipresente (e intransigente, sem reservas) de que seus próprios juízos de valor são corretos e aqueles que ele opõe são falsos, ou se apoiam em mentiras. Alguns estudiosos consideram as passagens sobre criação de valor como evidência de que Nietzsche era um anti-realista sobre valor, de modo que seus confiantes julgamentos de valoraçãp devem ser lidos como esforços de persuasão retórica em vez de reivindicações objetivas (Leiter 2015), ou (conexamente) sugerem que Nietzsche poderia ser lido proveitosamente como um cético, de modo que tais passagens deveriam ser avaliadas principalmente por seu efeito prático sobre os leitores (Berry 2011, 2019; ver também Leiter 2014). Tais leituras céticas têm sido desafiadas de maneira ponderada por Huddleston (2014). Outros (Hussain 2007) levam Nietzsche a defender uma postura ficcionalista, de acordo com a qual os valores são contribuições inventadas conscientemente para um fingimento através do qual podemos satisfazer nossas necessidades como criaturas valorizadoras, mesmo que todas as reivindicações avaliativas sejam (estritamente falando) falsas. Ainda outros (Richardson 2004; Reginster 2006; Anderson 2005, 2009; Silk 2015, 2018) são tentados a supor que o discurso de Nietzsche sobre a “criação” tem o objetivo de sugerir uma ou outra forma de “construtivismo”, segundo o qual as reivindicações de valor são “dependentes de atitude” em algum aspecto definido que requer uma especificação cuidadosa, ou “realismo subjetivo” — uma visão segundo a qual os valores têm alguma base em atitudes subjetivas de valorização, mas no entanto também ganham algum tipo de posição objetiva no mundo uma vez que essas atitudes tenham feito seu trabalho e “criado” os valores.
A postura meta-ética de Nietzsche é tratada em outro lugar (ver seção 3 do verbete sobre a filosofia moral e política de Nietzsche), mas mesmo à parte do status meta-ético dos valores “criados”, a própria idéia de “criação de valor” é um desafio para o entendimento. Essa continua sendo uma área muito ativa de pesquisa, com relatos recentes bastante diferentes aparecendo em Richardson (2020: 439-74), Clark (2015b), Dries (2015), e outros. Em vez de uma discussão mais completa, aqui estão três observações textuais. Primeiro, enquanto algumas passagens parecem oferecer uma concepção de criação de valor como sendo algum tipo de fiat legislativo (por exemplo, BGE 211), tal visão é difícil de conciliar com a vertente dominante das passagens, que apresenta a criação de valor como uma realização difícil caracterizada por restrições substanciais do mundo e exposição significativa à sorte, em vez de algo que poderia ser feito à vontade. Em segundo lugar, muitas das passagens (especialmente GS 78, 107, 290, 299, 301) conectam a criação de valor à criação artística, sugerindo que Nietzsche considerou a criação artística e o valor estético como um importante paradigma ou modelo para seu relato sobre valores e criação de valor de modo mais geral. Enquanto alguns (Soll 2001) atacam toda essa idéia como confusa, outros estudiosos invocaram essas passagens como suporte para interpretações ficcionalistas ou realistas subjetivas. Ademais, Huddleston (2019) mostra que as investigações sobre a criação de valor artístico e cultural com aquisição intersubjetiva real foi totalmente central para a própria concepção de Nietzsche sobre filosofia e suas próprias ambições. O progresso nessa área provavelmente virá de uma cuidadosa interrogação sobre a concepção de Nietzsche quanto à própria criação artística. Por fim, o relato de Nietzsche sobre a “revalorização” continua sendo uma fonte pouco estudada sobre o que ele poderia querer dizer com “criação de valor”. Afinal, a revalorização moral alcançada pela “revolta dos escravos contra a moralidade” (ver seção 2) é apresentada como uma criação de novos valores (GM I, 10, et passim). Além de mostrar que nem toda criação de valor leva a resultados que Nietzsche endossaria, essa observação leva a questões interessantes — por exemplo: Nietzsche sustenta que toda criação de valor opera através da revalorização (como sugerido, talvez, pela GM II, 12-13)? Ou a “criação de valor ex nihilo” também é suposta ser uma possibilidade? Em caso afirmativo, o que diferencia os dois modos? Podemos dizer algo sobre o que é preferível? etc.
3.2 Alguns valores Nietzscheanos
Além de questões sobre o que é criar valores em primeiro lugar, muitos leitores se vêem perplexos sobre o que significa promover os valores “positivos” de Nietzsche. Uma explicação plausível para o persistente senso de falta de clareza dos leitores é que Nietzsche desaponta a expectativa de que a filosofia deve oferecer um relato redutor (ou, pelo menos, altamente sistematizado) do bem, na linha de “O prazer é o bem”; “A única coisa que é verdadeiramente boa é a boa disposição”; “A melhor vida é caracterizada pela tranqüilidade”; ou algo semelhante. Nietzsche elogia muitos valores diferentes e, no essencial, ele não segue a estratégia filosófica estereotipada de derivar seus julgamentos avaliativos de um ou alguns princípios fundacionais. Embora a paisagem axiológica resultante seja complexa, podemos ter uma noção de sua forma ao considerar seis valores que desempenham papéis indiscutivelmente importantes na percepção de Nietzsche acerca do que importa.
3.2.1 Poder e Vida
O mais próximo que Nietzsche chega de organizar sistematicamente suas reivindicações de valor é sua insistência na importância do poder, especialmente se este for considerado juntamente com idéias relacionadas sobre força, saúde e “vida”. Uma passagem bem conhecida aparece perto da abertura do trabalho tardio, O Anticristo:
O que é bom? Tudo o que eleva o sentimento de poder no homem, a vontade de poder, o próprio poder.
O que é mau? Tudo o que nasce da fraqueza.
O que é a felicidade? A sensação de que o poder está crescendo, que a resistência é superada.
Não contentamento, mas mais poder; não paz, mas guerra; não virtude, mas aptidão (virtude renascentista, virtù, virtude livre de moral). (A 2)
Na literatura, afirmações desse tipo estão associadas a uma “doutrina da vontade de poder”, comumente vista como uma das idéias centrais de Nietzsche (ver seção 6.1). Essa doutrina parece incluir a proposta de que criaturas como nós (ou mais amplamente: toda a vida, ou mesmo qualquer período das coisas) objetivam o aumento de seu poder — e depois, mais adiante, que esse fato implica que o aumento do poder é bom para nós (ou para tudo).
Em meados do século XX, muitos leitores (mais ou menos casualmente) receberam isso como uma afirmação profundamente desinteressante e sem rodeios de que “O poder resolve”, que eles associaram com tendências sociais e políticas perturbadoras salientadas na época (ver, por exemplo, Beauvoir 1948: 72). Após a Segunda Guerra Mundial, Walter Kaufmann ([1950] 1974: 178-333) engajou-se em uma campanha de longo prazo para recuperar o pensamento de Nietzsche dessa linha desagradável de interpretações, em grande parte insistindo em quantas vezes as formas de poder enfatizadas por Nietzsche envolvem autocontrole dirigido internamente e o desenvolvimento da excelência cultural, ao invés do domínio de outros. Enquanto tal relato destacou corretamente a complexidade interna e os matizes que foram nivelados pela recepção excessivamente simplificada do “O poder resolve” dominante em meados do século, a abordagem de Kaufmann ameaça sanitizar aspectos da visão de Nietzsche que pretendiam representar um desafio severo às nossas intuições morais. Versões mais sofisticadas dessa ampla abordagem — como o desenvolvimento de Richardson (1996) da distinção de Nietzsche entre tirania (na qual um impulso dominante elimina totalmente o que domina) e maestria (na qual um impulso mais dominante permite alguma expressão para o menos dominante, mas controla e redireciona essa expressão para seus próprios fins maiores) — estão corretamente inclinadas a admitir os aspectos preocupantes da visão de Nietzsche (por exemplo, que a doutrina contempla tanto a tirania quanto a maestria, mesmo se ela privilegia esta última).
Junto com tais concessões, trabalhos recentes fizeram importantes progressos na compreensão das complexidades internas da posição de Nietzsche, que valorizam o poder. Uma das vertentes mais importantes e influentes é a ênfase de Bernard Reginster (2006: 103-47; ver também 2018a) na concepção de Nietzsche do poder como superação da resistência (BGE 259, 230; GM I, 13; II, 16-17; A 2; KSA 11[111] 13: 52-3; 14[173] 13: 358-60; 14[174] 13: 360-2; 11[75] 13: 37-8; 9[151] 12: 424). Tal concepção conecta o poder diretamente à capacidade da pessoa de remodelar seu ambiente a serviço de seus fins, e assim proporciona uma sensação mais intuitiva do que, exatamente, se supõe que seja bom no poder. Além disso, a interpretação localiza a visão de Nietzsche diretamente nos esforços de Schopenhauer para motivar o pessimismo apelando para uma “vontade de vida” onipresente. Ao substituir a vontade de vida de Schopenhauer por sua vontade de poder (entendida como um impulso para superar a resistência, que deseja a resistência do mundo junto com sua superação; KSA 9[151] 12: 424), Nietzsche pode argumentar que nossa condição básica como criaturas desejosas, que lutam, pode levar a um modo de existência digno de endosso, ao invés de frustração inevitável (como Schopenhauer a considerava). A mesma concepção foi desenvolvida por Paul Katsafanas (2013), que argumenta que, qua agentes, estamos inelutavelmente empenhados em valorizar o poder, porque uma vontade de poder ao estilo Reginster é uma condição constitutiva para agir. (Seu relato contribui assim para a estratégia constitutivista na ética pioneira de Christine Korsgaard (1996) e David Velleman (2000, 2006)). Mais recentemente, Katsafanas (2015, 2019) ampliou sua visão de uma forma que coloca o valor do poder na base de um relato mais amplo de “valores superiores” em Nietzsche.
Uma segunda vertente importante do trabalho recente enfatiza não uma característica geral e estrutural do poder como a superação da resistência, mas uma idéia ética mais “espessa” e substantiva. Sob tal ponto de vista, o que Nietzsche valoriza é o poder entendido como uma tendência ao crescimento, força, domínio ou expansão (Schacht 1983: 365-88; Hussain 2011). Brian Leiter (2002: 282-3) criticou o que ele chamou de uma versão “Milliana” dessa idéia, segundo a qual o poder é valioso simplesmente porque (segundo a suposta doutrina nietzschiana) o poder é, de fato, nosso objetivo fundamental. (Supõe-se que isso seja análogo à estratégia de Mill para derivar o princípio da utilidade, baseado no pensamento de que podemos mostrar algo — viz., prazer — a ser desejável, mostrando-o como desejado). Leiter certamente tem razão em levantar preocupações sobre a reconstrução milliana. Nietzsche aparentemente nos leva a nos comprometer com uma grande diversidade de objetivos de primeira ordem, o que levanta dúvidas prima facie sobre a idéia de que para ele todos os que estão dispostos realmente assumem o poder como seu objetivo de primeira ordem (como o argumento Milliano exigiria). Além disso, a sensibilidade de Nietzsche ao pessimismo como uma possível perspectiva avaliativa cria problemas para a solidez do argumento — por exemplo, mesmo supondo que devemos visar o poder, talvez seja exatamente isso que torna o mundo um lugar terrível, em vez de fornecer qualquer razão para pensar que o poder, ou sua busca, é valioso.
Mas Hussain (2011) argumenta persuasivamente que se desviarmos nosso foco da busca do poder em qualquer sentido restrito para a idéia mais ampla (e bastante Nietzscheana) de que crescimento, fortalecimento, expansão do poder e coisas semelhantes são todas manifestações da vida, então pelo menos algumas das objeções filosóficas de Leiter e a maioria de suas objeções textuais podem ser evitadas. Sobre o quadro resultante, a posição de Nietzsche se lê como uma forma de naturalismo ético, argumentando que a expressão dessas tendências fundamentais da vida é boa para nós precisamente porque elas são nossas tendências básicas e estamos inelutavelmente em seu domínio (Hussain 2011: 159, et passim). Não está claro que essa visão possa evitar a objeção enraizada na possibilidade de pessimismo (ou seja, de que o valor da vida/potência não pode decorrer de sua inescapabilidade para nós, já que esse poderia ser um estado ao qual estamos condenados). Dado seu compromisso com Schopenhauer, Nietzsche deveria ter sido sensível à essa preocupação. Mas Hussain (2011) mostra que uma vertente substancial dos textos nietzschianos se encaixa no quadro, e que muitos outros filósofos do século XIX que compartilham os compromissos anti-supernaturalistas de Nietzsche foram atraídos por tais argumentos naturalistas da inescapabilidade.
3.2.2 Afirmação
Um segundo compromisso de valor que se destaca no trabalho de Nietzsche (e que, sem dúvida, está relacionado com suas avaliações positivas acerca da vida e do poder) é o valor da afirmação. De acordo com Reginster (2006: 2), “Nietzsche considera a afirmação da vida como sua conquista filosófica definidora”. Esse tema entra com força no Livro IV de A Gaia Ciência, que se abre com uma expressão de dedicação ao “amor fati”:
Quero aprender cada vez mais a ver como belo o que é necessário nas coisas; então serei um daqueles que tornam as coisas belas. Amor fati: que seja esse o meu amor daqui em diante! Não quero fazer guerra contra o que é feio. Não quero acusar; não quero nem mesmo acusar aqueles que acusam. Olhar para longe será minha única negação. E em suma e de modo geral: desejo um dia ser apenas um dizedor de “Sim”. (GS 276)
Após essa abertura, Nietzsche desenvolve a idéia em várias outras seções: GS 277 expressa a preocupação de Nietzsche com uma doutrina sedutora sobre a “providência pessoal”, de acordo com a qual “tudo o que nos acontece resulta para o melhor”, mas tal idéia poderia ser tentadora apenas por causa de uma afirmação de longo alcance (e, pensa Nietzsche, admirável) sobre a vida, enraizada em um dom de auto-interpretação que identifica criativamente alguma descrição segundo a qual as coisas realmente têm “um profundo significado e uso precisamente para nós”; um pouco depois, GS 304 (intitulado, “Ao fazê-lo, renunciamos“) recomenda contra qualquer exigência ética de renunciarmos a este ou àquele ou a outro, e em favor daquele que exige que se
faça algo e volte a fazê-lo, de manhã à noite… e que não pense em nada além de fazer isso bem, tal como só ele próprio posso fazer;
e então, em GS 321, Nietzsche sugere que desistamos de censurar os outros diretamente e nos concentremos apenas em
ver que nossa própria influência sobre tudo o que ainda está por vir equilibra e supera aquela ….. Que nosso brilhantismo os faz parecer sombrios. Não, não nos tornemos mais sombrios por causa deles, tal como todos aqueles que castigam…. Desviemos o olhar.
Famosamente, o livro conclui com a primeira introdução de Nietzsche sobre seu pensamento sobre a recorrência eterna, que supostamente coloca “O maior peso” em cada evento através de sua sugestão de que nossa vida só é boa se, ao imaginarmos seu retorno em cada detalhe, pudermos afirmá-lo como tal (GS 341). Depois dessa penúltima seção, Nietzsche cita a primeira seção de Assim Falou Zarathustra, que volta repetidamente ao mesmo tema da afirmação (ver, por exemplo, Z I, 1, 5, 17, 21, 22; II, 7, 12, 20; III, 3, 7, 13, 16; et passim; BGE 56; TI VIII, 6 e IX, 49).
Alguns acharam irônica a valorização da afirmação de Nietzsche, dado o zelo polêmico de seus ataques negativos ao cristianismo e à moralidade tradicional, mas na verdade, o valor da afirmação se confunde bem com alguns aspectos chave da crítica de Nietzsche. Essa crítica se concentra em grande medida em aspectos da moralidade que voltam o agente contra si mesmo — ou mais amplamente, do lado do cristianismo que condena a existência terrena, exigindo que nos arrependamos de nossa vida terrena como preço de admissão a um plano de ser diferente e superior. O que está errado com essas visões, segundo Nietzsche, é que elas negam nossa vida, em vez de a afirmarem. Bernard Reginster (2006), que deu mais (e mais sistematicamente) sentido à afirmação de Nietzsche do que ninguém, mostra que o principal problema filosófico a ser enfrentado é a crise do “niilismo” — provocada por um processo em que “os valores mais elevados se desvalorizam” (KSA 9[35] 12: 350). Tal “desvalorização” pode basear-se ou em algum argumento corrosivo que mina a força de todas as reivindicações avaliativas, ou, ao contrário, em um julgamento de que os valores mais elevados não podem ser realizados, de modo que, por referência a seu padrão, o mundo tal como ele é não deveria existir. A afirmação da vida pode ser enquadrada como a rejeição do niilismo, assim entendido. Para Nietzsche, isso envolve um projeto com duas faces: ambas devem minar valores por referência aos quais o mundo não poderia ser afirmado honestamente, ao mesmo tempo em que articulam os valores exemplificados pela vida e o mundo que os tornam afirmativos. (Os leitores interessados nestas questões sobre a afirmação nietzscheana e sua compatibilidade (ou não) com a crítica nietzscheana também devem consultar Richardson (2020: 353-97) e Huddleston, a ser publicado, que chegam a uma conclusão mais distinta do que a deste verbete).
3.2.3 Veracidade/honestidade
Se quisermos afirmar nossa vida e o mundo, porém, é melhor sermos honestos acerca de como eles realmente são. Endossar as coisas sob alguma descrição ilusória Panglossiana não é uma afirmação, mas uma auto-ilusão. Assim sendo, o valor de Nietzsche sobre a afirmação da vida o compromete simultaneamente com a honestidade. E, na verdade, nenhuma outra virtude recebe tantos elogios no corpus nietzschiano: a honestidade é “nossa virtude, a última que nos resta” (BGE 227), e a veracidade é a medida da força (BGE 39), ou mesmo do valor como tal:
Quanta verdade um espírito aguenta, quanta verdade ele tem a ousadia de suportar? Cada vez mais isso tornou-se para mim a verdadeira medida do valor. (EH Pref., 3)
Quatro vertentes na avaliação da honestidade de Nietzsche merecem menção. Alguns textos apresentam a veracidade como uma espécie de compromisso pessoal — um compromisso ligado a projetos particulares e um modo de vida no qual Nietzsche por acaso investiu. Por exemplo, em GS 2 Nietzsche expressa perplexidade diante de pessoas que não valorizam a honestidade:
Não quero acreditar, embora seja palpável: a grande maioria das pessoas carece de consciência intelectual. […] Quero dizer: a grande maioria das pessoas não considera desprezível acreditar nisso ou naquilo e viver de acordo, sem antes ter se dado conta dos motivos últimos e mais certos a favor e contra, e sem sequer se preocupar com tais motivos depois.
Nietzsche freqüentemente recomenda a busca do conhecimento como um modo de vida:
Não, a vida não me tem desapontado… desde o dia em que o grande libertador veio até mim: a idéia de que a vida poderia ser uma experiência para quem busca o conhecimento…. (GS 324)
De fato, ele atribui a mais alta importância cultural ao teste da experiência para saber se tal vida pode ser bem vivida:
Um pensador é agora aquele ser em quem o impulso pela verdade e aqueles erros que preservam a vida se chocam para seu primeiro confronto, após o impulso pela verdade ter provado ser também um poder que preserva a vida. Comparado ao significado dessa luta, tudo o mais é uma questão de indiferença: a questão última sobre as condições de vida foi colocada aqui, e nós enfrentamos a primeira tentativa de responder à pergunta por meio de experimentos. Até que ponto a verdade pode suportar a incorporação? Essa é a pergunta; esse é o experimento. (GS 110)
Uma segunda vertente de textos enfatiza as conexões entre veracidade e coragem, valorizando assim a honestidade como manifestação de um caráter virtuoso geral marcado pela resolutividade, determinação e força espiritual. O BGE 39 cabe aqui, assim como a passagem do Prefácio em EH citado acima. O mesmo compromisso valorativo sustenta os ataques generalizados de Nietzsche contra o que ele chama de “a ‘prova de força’ bíblica” — uma forma de argumento que pretende justificar a crença em alguma afirmação porque essa crença “torna alguém abençoado” ou traz algum benefício emocional ou prático (GS 347; GM III, 24; TI VI, 5; A 50-51; KSA 15[46] 13: 441). Para Nietzsche, tal desejo não é apenas cognitivamente corrupto, mas uma manifestação perturbadora de irresolução e covardia.
Dado o compromisso pessoal de Nietzsche com a veracidade e seu argumento de que sua ausência equivale a covardia, não é surpresa encontrá-lo, em terceiro lugar, atacando a suposta mendacibilidade e corrupção intelectual da consciência tradicional religiosa-moral como uma das piores coisas a respeito disso. A desonestidade da “revolta de escravos” moralista é um tema constante (GM I, 14; ver também Janaway 2007: 102-4, e GM I, 10, 13; II, 11; III, 26; TI V, 5; VI, 7; A 15, 24, 26-7, 36, 38, 42, 44, 47, 48-53, 55-6), e elucida algumas das retóricas de Nietzsche mais extremas e indignadas:
Nosso educado povo de hoje, nosso “bom povo”, não diz mentiras — isso é verdade; mas o mérito não é deles. […] Isso exigiria deles o que não se pode exigir, que saibam distinguir o verdadeiro do falso em si mesmos. Tudo do que eles são capazes é de uma mentira desonesta; quem hoje se considera um “homem bom” é totalmente incapaz de confrontar qualquer assunto, exceto com a desonestidade mendaz — uma mendacidade que é abismal, mas inocente, de coração verdadeiro, de olhos azuis e virtuoso. Esses “homens bons” — eles são um e todos moralizados até as profundezas, arruinados e atormentados por toda a eternidade no que diz respeito à honestidade… (GM III, 19)
Por fim, vale notar que mesmo quando Nietzsche levanta dúvidas sobre esse compromisso de veracidade, suas próprias perguntas são claramente motivadas pela importância central desse valor. O Terceiro Tratado da Genealogia fecha com a famosa preocupação de que a vontade incondicional rumo à verdade é uma forma de asceticismo (GM III, 24). Como observa Nietzsche, a veracidade implacável pode ser corrosiva para valores caros que fazem nossas vidas parecerem valer a pena: um contra-interrogatório da norma da “verdade a qualquer preço” conclui com a exclamação,
“A qualquer preço”: quão bem entendemos essas palavras depois de termos oferecido e massacrado uma fé atrás da outra neste altar! (GS 344)
Mesmo diante de tais preocupações, Nietzsche não desiste simplesmente da veracidade. Em vez disso, ele pede uma “crítica” que avaliará “experimentalmente” seu valor e legitimidade (GM III, 24). Essa experiência não pode ser outra coisa senão a “vida do pensador” com a qual já nos deparamos — a mesma “questão última” sobre até que ponto a veracidade pode “suportar a incorporação” e ser tornada compatível com a vida (GS 110). De fato, repetidamente, Nietzsche apresenta esta questão, “a questão do valor da verdade” (BGE 1), como sua pergunta distintiva, a que dirige centralmente sua filosofia (BGE 1; GM III, 24, 27, GS 110, 324, 344, 346; ver também BGE 204-13, 227-30). Ela só pode carregar tal significado central porque, aos olhos de Nietzsche, a devoção honesta à verdade era tanto demasiada e indispensavelmente valiosa quanto (potencialmente) perigosa.
3.2.4 Arte e Artística
Todavia, se a veracidade é um valor central para Nietzsche, ainda assim ele é famoso por insistir que também precisamos de ilusão para viver bem. Desde o início de sua carreira até o final, ele insistiu no valor insubstituível da arte precisamente por causa de seu poder de nos enaltecer na ilusão. A idéia era um tema importante de O Nascimento da Tragédia (BT 1, 3, 4, 7, 15, 25), e embora Nietzsche mais tarde tenha chegado a ver a questão de maneira um pouco diferente, ele nunca a abandonou (ver GS 107, também TI IX, 7-9). Em um slogan, “Possuímos arte para que não pereçamos diante da verdade” (KSA 16[40] 13: 500).
A arte e a artística trazem valor, para Nietzsche, tanto como uma simples matéria de primeira ordem, como também como uma fonte de lições de ordem superior sobre como criar valor de maneira mais geral. No nível de ordem superior, ele insiste que devemos aprender com os artistas “como tornar as coisas bonitas, atraentes, desejáveis para nós mesmos quando elas não são” (GS 299; ver também GS 78). A sugestão é a de que os métodos artísticos (“Afastar-se das coisas até que haja uma boa coisa que não se consegue mais observar…; ver as coisas… recortadas e enquadradas…; olhar para elas à luz do pôr-do-sol”, e assim por diante; GS 299) fornecem uma espécie de modelo formal (Landy 2012: 4, 8-19, et passim) para o desenvolvimento de técnicas análogas que poderiam ser implantadas para além da arte, na própria vida — “Pois com elas esse poder sutil geralmente chega ao fim quando a arte termina e a vida começa, mas queremos ser os poetas de nossa vida” (GS 299). Mas Nietzsche está igualmente dedicado à avaliação de primeira ordem, segundo a qual o que torna uma vida admirável inclui suas características estéticas. Famosamente (ou notoriamente), Nietzsche argumenta que para “obter satisfação consigo mesmo” deve-se “‘dar estilo’ ao próprio caráter” (GS 290). Aqui, trata-se do fato de que o caráter da pessoa (ou sua vida) tem certas propriedades estéticas — que manifesta um “plano artístico”, que tem beleza ou sublimidade, que seus momentos de feiúra foram gradualmente removidos ou retrabalhados através da formação de uma segunda natureza, que exibe uma narrativa satisfatória (ou outra forma artística) — que constitui seu valor (GS 290, 299, 370; TI IX, 7; EH Frontispício). Alexander Nehamas (1985) articula e explora esse tema nietzschiano da imposição de uma estrutura artística na vida individual em detalhes consideráveis, e muitos outros estudiosos têm construído sobre sua visão ou explorado aspectos relacionados ao tema (ver Gerhardt 1992; Young 1992; Soll 1998; Ridley 2007a, 2007b, 2018; Anderson 2005, 2009; Anderson e Cristy, 2017; Huddleston 2019; e os ensaios em Came 2014).
Um último ponto merece uma menção especial. Nas apresentações de Nietzsche, o valor da arte e da artística parecem muitas vezes estar em oposição ao valor da verdade — supõe-se que precisamos que a arte nos salve da verdade (ver Ridley 2007a, Landy 2002). Significativamente, a oposição aqui não é apenas aquela enfatizada em O Nascimento da Tragédia — de que a verdade substantiva sobre o mundo pode ser perturbadora o suficiente para exigir alguma salvação artística que nos ajude a lidar com isso. Nietzsche levanta uma preocupação mais específica sobre os efeitos deletérios da virtude da honestidade — a respeito da vontade pela verdade, ao invés de o que é verdadeiro — e a arte também é levada a aliviá-los:
Se não tivéssemos acolhido as artes e inventado esse tipo de culto ao inverídico, então a realização da inverdade geral e da mendacibilidade que agora nos chega através da ciência — a realização de que a ilusão e o erro são condições do conhecimento e da sensação humana — seria totalmente insuportável. A honestidade levaria à náusea e ao suicídio. Agora, porém, existe um contra-força contrária à nossa honestidade que nos ajuda a evitar tais conseqüências: a arte como a boa vontade de aparência. (GS 107)
A formulação de Nietzsche de (“que a ilusão e o erro são condições do conhecimento e da sensação humana”, e que essa percepção “chega até nós através da ciência”) sugere que a teoria do erro específico que ele tem em mente está enraizada nas teorias Kantianas e Schopenhauerianas da cognição, talvez tal como desenvolvidas sob uma forma mais naturalista, psicologicamente mais intelectualizada por pensadores neocantianos e positivistas posteriores. Essas visões implicariam que as condições básicas da cognição impediriam nosso conhecimento das coisas tal como elas realmente são, independentemente de nós (ver Anderson 2002, 2005; Hussain 2004; e o verbete sobre Friedrich Albert Lange). Porém, enquanto essas são as alusões imediatas, Nietzsche também endossa idéias mais gerais com implicações similares — por exemplo, o ceticismo contra qualquer pensamento (seja ele teológico/metafísico, ou hegeliano, ou mais modesto, a terceira Crítica do tipo orientado) de que o mundo é propositalmente adequado para se adequar às necessidades de nossas faculdades cognitivas.
O mais importante, entretanto, é a estrutura do pensamento em GS 107. A idéia de Nietzsche é a de que a própria veracidade, rigorosamente perseguida através da disciplina da ciência, nos forçou a concluir que nossos poderes cognitivos nos levam à “ilusão e ao erro”, de modo que essas mesmas exigências de veracidade não podem ser satisfeitas. Não se trata apenas de mais um caso de inospitabilidade do mundo para com nossos valores, mas de um caso especial onde o cultivo de uma virtude (honestidade) em si leva à percepção indesejável de que nunca poderemos estar à altura de suas exigências genuínas. Diante de tais resultados, sugere Nietzsche, a única maneira de escapar do pessimismo é o reconhecimento de outro valor bastante diferente, adequado para servir de “contra-força” contra nossa honestidade, mostrando que pode haver algo de valioso em permanecer satisfeito com as aparências. O valor cultural da arte na GS 107 repousa assim na oposição à honestidade oferecida pela “boa vontade de aparência”. Portanto, parece que os valores que Nietzsche endossa entram em conflito entre si, e esse fato é crucial para o valor que eles têm para nós (Anderson 2005: 203-11). (Ver Stoll (2019) para um relato alternativo sofisticado, argumentando que as “aparências” artísticas em Nietzsche não devem ser de forma alguma enganosas e, portanto, que o conflito entre os valores da honestidade e da arte é menos acentuado do que eu o descrevi aqui).
3.2.5 Individualidade, Autonomia, “Liberdade de Espírito”
Desde a primeira recepção, os comentaristas notaram o valor que Nietzsche atribui à individualidade e à independência do “espírito livre” das convenções limitadoras da sociedade, religião ou moralidade (por exemplo, Simmel [1907] 1920). Essa linha de pensamento continua a receber forte ênfase em interpretações recentes — veja, por exemplo Nehamas (1985), Thiele (1990), Gerhardt (1992), Strong ([1975] 2000: 186-217), Reginster (2003), Richardson (2004): 94-103), Anderson (2006, 2012a), Higgins (2006), Schacht (2006), Acampora (2013), Meyer (2019), Ansell-Pearson e Bamford (2021), e os ensaios em Young (2015) — e há um corpo impressionante de provas textuais para apoiá-lo (UM III, 2, 5-6, 8; GS 116, 117, 122, 143, 149, 291, 335, 338, 347, 354; BGE 29, 41, 259; GM I, 16, II, 1-3; TI IX, 41, 44, 49; A 11). Saliente como o elogio de Nietzsche à individualidade é, sem dúvida, é igualmente óbvio que ele resiste a qualquer pensamento segundo o qual cada pessoa humana possui valor baseado na força da individualidade por si só, ele está disposto a afirmar esse ponto em termos especialmente contundentes: “O interesse próprio vale tanto quanto a pessoa que o tem: ele pode valer muito, e pode ser indigno e desprezível” (TI IX, 33). Os estudiosos têm defendido explicações bastante diferentes sobre o que torna a individualidade de uma pessoa valiosa nos casos privilegiados. Alguns defendem que indivíduos valiosos devem ter certas dadas características naturais que não admitem (ou dificilmente) mais explicações e que essas características os tornam “homens superiores” manifestando valor genuíno, enquanto outros não têm tal valor — Leiter (2015) oferece uma versão naturalista fortemente desenvolvida dessa abordagem. Outros estudiosos consideram o “verdadeiro” ou o “eu superior” uma espécie de ideal ou norma para a qual uma pessoa pode ou não viver (Conant 2001; ver também Kaufmann [1950] 1974: 307-16). Outros ainda tentam desenvolver uma posição que combine aspectos de ambas as visões (Schacht 1983: 330-38), ou sustentam que a posição de Nietzsche sobre o “super-homem” ou “homem superior” é simplesmente dilacerada pela contradição interna (Müller-Lauter [1971] 1999: 72-83).
Uma abordagem diferente assume a direção da conexão de Nietzsche entre individualidade e liberdade de espírito (GS 347; BGE 41-44). Como mostra Reginster (2003), o que se opõe à liberdade de espírito nietzschiana é o fanatismo, entendido como um veemente compromisso com alguma fé ou conjunto de valores dado de fora, que é motivado pela necessidade de acreditar em algo porque falta a autodeterminação para pensar por si mesmo (GS 347). Esse apelo à autodeterminação sugere que poderíamos explicar o valor da individualidade através de um apelo a um valor subjacente de autonomia: indivíduos valiosos seriam aqueles que “dão a si mesmos leis, que criam a si mesmos” (GS 335), que exibem autocontrole ou autogovernança (TI, V, 2; VIII, 6; IX, 38, 49; BGE 203), e que são assim capazes de “assegurar” o seu próprio futuro (GM II, 2-3). Vários estudiosos exploraram recentemente os recursos dessa linha de pensamento em Nietzsche; Anderson (2013) pesquisa a literatura, e contribuições notáveis incluem Ridley (2007b, 2018), Pippin (2009, 2010), Reginster (2012), Katsafanas (2011b, 2012, 2014, 2016), Rutherford (2011, 2018), Anderson (2021), e especialmente os trabalhos em Gemes e May (2009).
3.2.6 Pluralismo
Vimos que Nietzsche promove uma série de valores diferentes. Em alguns casos, tais valores reforçam-se uns aos outros. Por exemplo, a ênfase de Nietzsche na afirmação da vida poderia ser considerada no sentido de realçar ou confirmar o valor da própria vida, qua expressão bem sucedida da vontade de poder, ou, inversamente, pode-se traçar o valor da afirmação até seu reconhecimento de nossa condição inescapável como criaturas vivas e em busca de poder. Da mesma maneira, vimos que tanto a virtude da honestidade quanto o valor da arte e da artística desempenham papéis essenciais no apoio à capacidade da pessoa de afirmar a vida (Anderson 2005: 203-11). Nietzsche apela para a metáfora do crescimento de uma árvore para capturar esse tipo de interconexão orgânica entre seus compromissos:
Pois isto, por si só, é apropriado para um filósofo. Não temos o direito de ser simples em nada: não podemos errar nem acertar a verdade isoladamente. Pelo contrário, com a necessidade com que uma árvore dá seus frutos, nossos pensamentos crescem a partir de nós, nossos valores, nossos sim, não e talvez — todo o conjunto relacionado e conectado entre si, testemunhas de uma vontade, de uma sanidade, de um reino terreno, de um sol. (GM Pref., 2)
No entanto, os valores de Nietzsche, inter-relacionados, parecem permanecer irredutíveis a um único valor ou princípio comum que os explica a todos. Por exemplo, o relato de honestidade e artística explorado nas seções 3.2.3 e 3.2.4 revelou que o apoio que eles dão ao valor da afirmação depende de sua oposição uns aos outros, como “contra-forças” (GS 107): se isso estiver correto, então os vários valores de Nietzsche podem interagir dentro de um todo orgânico, mas algumas das interações são opositivas, de modo que não podem surgir todas de um sistema filosófico monista.
Esse mesmo fato, entretanto, se encaixa bem em outro dos valores centrais de Nietzsche, o próprio valor do pluralismo. Para Nietzsche, a capacidade de uma pessoa de implantar e responder a uma multiplicidade de valores, de virtudes, de pontos de vista e “perspectivas”, é um bem positivo em si mesmo. A defesa que Nietzsche faz dessa idéia talvez seja mais clara no caso epistêmico, onde ele insiste no valor de trazer múltiplas perspectivas para qualquer questão: o pensador deve “saber distinguir precisamente as diferentes perspectivas e interpretações afetivas úteis para o conhecimento”, porque
há apenas uma visão perspectival, apenas um “saber” perspectival; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre um assunto, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos como trazer à tona sobre um mesmo assunto, muito mais completo será nosso “conceito” desse assunto, nossa “objetividade”. (GM III, 12)
Como a passagem deixa claro, no entanto, as perspectivas nietzschianas estão elas próprias enraizadas nos afetos (e as avaliações a que os afetos dão origem), e em sua mente, a capacidade de empregar uma variedade de perspectivas é tão importante para nossa vida prática e avaliativa quanto para a vida cognitiva. Em GM I, 16, por exemplo, ele encerra uma discussão sobre a forte oposição entre os esquemas de valores bom/ruim e bom/mau com um surpreendente reconhecimento de que o melhor de seus contemporâneos precisará de ambos, apesar de sua oposição:
hoje talvez não exista uma marca mais decisiva da “natureza superior“, da natureza mais espiritual, do que estar em conflito nesse sentido e ainda ser um verdadeiro campo de batalha para esses opostos. (GM I, 16; ver também BGE 212; TI V, 3; e EH I)
Embora os esforços para proporcionar uma reconstrução sistemática que unifique a filosofia de Nietzsche em torno de um pensamento fundamental ou valor básico mantenha sua atratividade para muitos comentaristas, é justo dizer que todos esses esforços têm permanecido controversos. Enquanto isso, o pluralismo nietzschiano tem sido o tema principal de vários estudos sobre Nietzsche (por exemplo, Nehamas 1985, Schacht 1983, Poellner 1995, Richardson 2004), e alguns dos mais sofisticados tratamentos recentes de sua teoria do valor retornaram o pluralismo avaliativo ao centro das atenções (Railton 2012; Huddleston 2017). A visão de Huddleston é particularmente notável, pois ele argumenta que as concepções de Nietzsche sobre força e saúde — que, como vimos, estão ligadas ao valor supostamente fundacional do poder — são elas próprias “conceitos agregados” desunificados que envolvem uma pluralidade interna de compromissos separados e irredutíveis. Na verdade, o compromisso de Nietzsche com o pluralismo nos ajuda a entender como seus diversos valores positivos se encaixam. De seu ponto de vista pluralista, trata-se de um ponto negocial, não de uma desvantagem, o fato de ele ter muitos outros compromissos de valor, e de que eles interagem em padrões complexos a fim de apoiar, informar e às vezes se opor ou limitar mutuamente, em vez de serem partes de uma axiologia única, hierarquicamente ordenada e sistemática.
4. O Eu e o Auto-Fabrição
Uma investigação apurada sobre a psique foi uma das principais preocupações de Nietzsche ao longo de sua carreira, e esse aspecto de seu pensamento foi corretamente considerado de importância central em um longo período da recepção, desde Kaufmann (1950) até trabalhos recentes de Pippin (2010), Katsafanas (2016), Leiter (2019), Riccardi (2021), e outros. Algumas das próprias reflexões programáticas de Nietzsche destacam a centralidade desse empreendimento: talvez a mais famosa, encerra um amplo tratamento das deficiências da filosofia anterior (na Parte I de Além do Bem e do Mal) com uma exigência
que a psicologia seja reconhecida novamente como a rainha das ciências, para cujo serviço e preparação as outras ciências existem. Pois a psicologia está novamente na trilha para os problemas fundamentais. (BGE 23)
Na seção 2, vimos que a crítica de Nietzsche à moralidade repousa crucialmente em análises psicológicas que pretendem expor os efeitos autodestrutivos de atitudes morais como a culpa e a abnegação ascética, bem como o descompasso corrosivo entre as alegações oficiais de moralidade altruísta e sua motivação subjacente no ressentimento. No lado positivo, Nietzsche está igualmente interessado em detalhar as condições psicológicas que ele pensa que seriam mais saudáveis tanto para os indivíduos quanto para as culturas (ver, por exemplo, GS Pref. e 382; BGE 212; TI V, 3 e VIII, 6-7). Assim, a psicologia de Nietzsche é central para sua agenda avaliativa e para seus projetos como crítico cultural. Além de seu apoio instrumental a esses outros projetos, Nietzsche busca a investigação psicológica por seu próprio bem, e também pelo autoconhecimento que ela envolve intrinsecamente (GM III, 9; GS Pref., 3 e 324; mas cf. GM Pref., 1). Ainda assim, apesar da ampla apreciação da perspicácia psicológica de Nietzsche — e apesar da centralidade da psicologia em seu método filosófico, questões centrais e objetivos de avaliação — mesmo os contornos mais básicos de sua psicologia substantiva continuam a ser motivo de controvérsia. O debate começa com o objeto da própria psicologia, a psique, o eu, ou a alma.
Um corpo significativo de textos nietzschianos expressa um ceticismo extremo em relação à existência de qualquer coisa como um “eu”, ou “alma”, assim como dúvidas sobre as faculdades tradicionais da alma e as capacidades básicas que se supunha que exercessem (pensar, querer, sentir). Esta passagem dos cadernos de anotações é típica — “Ceder à fábula da ‘unidade’, ‘alma’, ‘pessoa’, isso nós proibimos: com tais hipóteses apenas se encobre o problema” (KSA 37[4] 11: 577) – e há muitos, provavelmente centenas, como ela (ver D 109; GS 333; BGE 12, 17, 19, 54; GM I, 13; TI III, 5 e VI, 3). Ao mesmo tempo, as próprias análises psicológicas de Nietzsche fazem apelo livre não apenas ao eu, mas até mesmo a algumas das faculdades tradicionais (por exemplo a vontade) das quais ele é mais cético em outros lugares: por exemplo, o “indivíduo soberano” do GM II, 1-3 é distinto por desenvolver uma “memória da vontade” que sustenta sua capacidade de cumprir promessas e “garantir a si mesmo como futuro” (GM I, 13); ou ainda, a estratégia favorecida por Nietzsche de implantar uma multiplicidade de perspectivas no conhecimento (ver seção 3. 2.6) pressupõe a existência de um eu cognitivo que se afasta de determinados impulsos e efeitos e, portanto, tem “a capacidade de controlar os próprios Pro e Con e dispor deles” em apoio ao projeto cognitivo maior (GM III, 12, ver também BGE 284).
Esse aparente conflito nos textos incentivou interpretações concorrentes, com comentadores enfatizando os fios em Nietzsche aos quais eles têm mais simpatia filosófica. Por exemplo, intérpretes fortemente naturalistas como Brian Leiter (2007, 2015, 2019) e Matthias Risse (2007) se concentram no ceticismo de Nietzsche sobre a vontade e a alma pura quanto a rejeitar qualquer fonte de agência ao estilo kantiano que possa se distanciar e dirigir os impulsos básicos ou a natureza fundamental da pessoa. De forma um pouco semelhante, os leitores atraídos por uma concepção cartesiana da consciência como a essência do mental, mas repelidos pelo dualismo cartesiano, destacam a ênfase de Nietzsche na importância do corpo (GM III, 16; Z I, 4) para sugerir que suas aparentes reivindicações sobre psicologia deveriam ser ouvidas, em vez disso, como uma espécie de fisiologia de impulsos que rejeita completamente a psicologia mental (para versões diferentes, ver Poellner 1995: 216-29, 174; Haar [1993] 1996: 90, et passim). Riccardi (2018, 2021) defende uma visão mais matizada, na qual o eu consciente corre em paralelo com o eu corporal mais fundamental. Atacando a unidade ao invés da mentalidade, um grupo de leitores interessados na concepção agonística da política de Nietzsche tende a enfatizar sua concepção igualmente agonística, contestada internamente, do eu (Hatab 1995, 2018; Acampora 2013). Numa direção diametralmente oposta à daqueles três primeiros, Sebastian Gardner (2009) insiste que, enquanto Nietzsche foi às vezes tentado pelo ceticismo sobre um eu que pode se afastar das solicitações de inclinação e controlá-las, suas próprias doutrinas sobre a criação do valor e a auto-superação de fato o comprometem a algo como um ego transcendental kantiano, apesar de seus protestos em contrário.
As explicações psicológicas efetivas de Nietzsche baseiam-se fortemente em apelos a atitudes psicológicas sub-pessoais. Como Janaway (2009: 52) observa, muitos tipos diferentes de atitudes ingressam nesses relatos (incluindo não apenas as crenças e desejos padrão da psicologia moral atual, mas também “vontades”, sentimentos, sensações, humores, imaginações, memórias, valorizações, convicções e muito mais), mas, sem dúvida, as atitudes centrais que mais trabalham para ele são os impulsos e os afetos. Esses tipos de atitudes têm sido intensamente estudados em trabalhos recentes (ver esp. Richardson 1996, 2020; Katsafanas 2011b, 2013, 2016; Alfano 2019; Leiter 2019; e Riccardi 2021; ver também Anderson 2012a, Clark e Dudrick 2015, Creasy 2020). Embora muito permaneça controverso, é útil pensar nos impulsos como disposições para padrões gerais de atividade; eles visam a atividade do tipo relevante (por exemplo, um impulso alimentar, um impulso para poder), e também representam algum objeto ou ocasião mais específica da atividade em um caso particular (por exemplo, este sorvete, ou a superação de um problema particular no curso da redação de um artigo). Os afetos são estados emocionais que combinam uma reação receptiva e sentida ao mundo com uma tendência a um padrão distinto de estados de reação como amor, ódio, raiva, medo, alegria, etc. Tipicamente, as atitudes sub-pessoais postuladas nas explicações psicológicas de Nietzsche representam o mundo de uma forma ou de outra. Como ele endossa o pensamento de Leibniz de que representação, não consciência, é a marca decisiva do mental (GS 354; ver Simmons 2001, para discussão), é razoável tratar essas atitudes como distintamente psicológicas, sejam elas conscientes ou não.
Mas o que dizer de um eu de nível pessoal que sirva como o dono de tais atitudes? Parece que os impulsos e afetos postulados por Nietzsche não poderiam ser coerentemente contados como psicológicos (e sub-pessoais) sem tal “eu”, e ainda assim, as passagens céticas acima parecem descartar qualquer coisa desse tipo. Tal continua sendo um problema controverso, mas está claro pelo menos que a própria proposta de Nietzsche foi a de desenvolver uma concepção radicalmente reformada da psique, ao invés de rejeitar o eu, ou alma, por completo (ver Riccardi 2021). O BGE 12 fornece algumas idéias provocativas sobre o que tal concepção reformada poderia envolver: ali, Nietzsche insiste que devemos “dar o golpe final” ao que ele chama de “atomismo da alma“, o que ele continua explicando como sendo
a crença que considera a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, como um átomo:… Entre nós, não é de todo necessário nos livrarmos da “alma” ao mesmo tempo, e assim renunciar a uma das hipóteses mais antigas e veneráveis — como acontece freqüentemente com naturalistas desajeitados que mal conseguem abordar a “alma” sem perdê-la imediatamente. Porém, o caminho agora está aberto para novas versões e refinamentos da hipótese da alma, [incluindo] a “alma mortal”, a “alma como multiplicidade subjetiva”, e a “alma como estrutura social dos impulsos e dos afetos”… (BGE 12)
Aqui Nietzsche alude à psicologia racional tradicional, e sua inferência básica desde a unidade pura da consciência até a simplicidade da alma, e daí até sua indivisibilidade e imortalidade. Como ele observa, esses movimentos tratam a alma como um átomo indivisível (portanto incorruptível), ou mônada. A proposta alternativa de Nietzsche toma sua forma a partir da rejeição de tal atomismo — a alma tal como ele a entende será internamente complexa, ao invés de simples, e, portanto, sujeita à desintegração. Essa idéia informa os slogans marcantes de Nietzsche sobre a “mortalidade”, a “multiplicidade” e a “estrutura social” interna da alma. Os “impulsos e os afetos” evidentemente devem servir como os constituintes que compõem essa multiplicidade. Assim, Nietzsche constrói a psique, ou o eu, como uma estrutura emergente resultante de tais constituintes sub-pessoais (quando estes se encontram nas relações apropriadas), revertendo assim o relato tradicional, que trata as atitudes sub-pessoais como meros modos, ou formas de ser, próprios de uma substância mental unitária pré-existente — (ver Anderson 2012a para uma tentativa de dar corpo ao quadro; ver também Gemes 2001; Hales e Welshon 2000: 157-82; Riccardi 2021; Anderson 2021). Porém, embora vulnerável, mortal e sujeita à divisão interior, a alma deveria estar na concepção reformada, ela permanece (como a rejeição de Nietzsche do naturalismo redutor deixa claro) uma entidade genuinamente psicológica além de seus impulsos e afetos constituintes. Ademais, como os impulsos e afetos que a constituem são em grande parte individualizados em termos do que (e como) eles representam, a psicologia necessária para investigar a alma deve ser uma forma interpretativa, e não meramente uma forma de investigação causal (ver Pippin 2010; Ridley 2018).
A psicologia de Nietzsche trata o eu como algo que deve ser alcançado ou construído, e não como algo fundamentalmente dado como parte do equipamento metafísico básico com o qual uma pessoa entra no mundo. Essa idéia do eu como alcançado em vez de dado já foi notada por Schacht (1983), e foi elevada a um tema central na influente interpretação de Nietzsche em Nehamas (1985). Nessa leitura, o projeto de auto-fabricação individual, ou autocriação, está localizado no coração da agenda filosófica de Nietzsche (ver esp. GS 290, 335; TI IX, 49). Destacando os compromissos de Nietzsche com os valores da arte e da individualidade, a interpretação afirma que o principal objetivo dos novos filósofos de Nietzsche seria construir vidas individuais novas, interessantes e culturalmente ressonantes, cuja forma geral eles poderiam afirmar (apesar dos contratempos que envolvam) sobre a força do valor estético (amplamente) que eles instanciam. Na versão de Nehamas, essa agenda estaria intimamente ligada ao projeto de Nietzsche como escritor; ele deveria ter se criado, no sentido relevante, como uma pessoa autoral através da escrita de livros inconfundíveis (Nehamas 1985; ver esp. 233-4). Embora essa sugestão, e mesmo a própria idéia de autocriação, tenha permanecido controversa tanto textualmente quanto filosoficamente (veja, por exemplo, Pippin 2010: 109-11), ela levou a muitos outros trabalhos — alguns diretamente influenciados por Nehamas (1985), alguns desenvolvidos em oposição parcial ou total a ela —, que geraram verdadeiras idéias sobre a natureza da autocriação nietzschiana e as relações entre as idéias-chave da autocriação, da criação de valor, da individualidade e da liberdade nietzschiana (veja, por exemplo Gerhardt 1992; Nehamas 1998: 128-56; Leiter 1998; Maio 1999: 107-26; Anderson e Landy 2001; Reginster 2003; Anderson 2005, 2009, 2012a. 2021; Ridley 2007a, 2007b, 2018; Gardner 2009; Gemes 2009a, 2019; Pippin 2009, 2010; Poellner 2009; Richardson 2009, 2020; Acampora 2013; Katsafanas 2016: 164-96, 220-56; Anderson e Cristy 2017; Rutherford 2018).
Uma alternativa especialmente apoiada por Nehamas (1985) é desenvolvida por Elijah Millgram (2007, e m.s.). Ele argumenta que, longe de usar sua autoria para criar um caráter unificado para si mesmo, Nietzsche era (ao contrário) um agente desunificador, ou mesmo desintegrador. No constructo de Millgram, os livros de Nietzsche desenvolvem uma estratégia para a construção de uma vida significativa que seja adequada para pessoas desse tipo. Isso representa um tipo interessante de caso limite para o projeto de auto-modernização, que monta uma crítica sustentada contra a suposição generalizada na filosofia moderna de que a unidade de agência é sempre desejável ou valiosa.
5. Dificuldades da Escrita Filosófica de Nietzsche
Por toda a novidade das doutrinas de Nietzsche e a aparente extremidade de suas críticas à moral, religião e filosofia tradicional, talvez nada em seu trabalho pareça mais desfasado em relação aos procedimentos comuns da filosofia do que a maneira como ele escreve. A questão é suficientemente óbvia a ponto de já ter se tornado um tropo inteiramente convencional para iniciar comentários com observações sobre o caráter não convencional do estilo de Nietzsche. Apesar da atenção que recebe, no entanto, continua nos faltando algo como um relato abrangente das estratégias de Nietzsche como escritor e retórico. A maioria de nós (incluindo este verbete) é derrotada pela riqueza desconcertante do assunto e se contenta com algumas observações de especial relevância para nossos outros propósitos. Talvez Alexander Nehamas (1985: 13-41) chegue mais perto de enfrentar o desafio explicativo destacando o fato fundamental subjacente que derrota nossos esforços interpretativos — a aparentemente interminável variedade de efeitos estilísticos que Nietzsche implanta. Ao fazer isso, ele segue a liderança da própria avaliação retrospectiva de Nietzsche no Ecce Homo: “Tenho muitas possibilidades estilísticas — a mais variada arte de estilo que já esteve à disposição de um homem” (EH III, 4). Este verbete se concentrará em alguns pontos úteis para os leitores que fazem suas primeiras abordagens aos textos de Nietzsche.
O mais evidente afastamento de Nietzsche da escrita filosófica convencional é o plano básico e a construção de seus livros. A maioria dos filósofos escreve tratados ou artigos acadêmicos, regidos por uma tese cuidadosamente articulada para a qual eles apresentam um argumento constante. Os livros de Nietzsche não são nada parecidos. Muitos são divididos em seções curtas e numeradas, que somente às vezes têm conexões óbvias com seções próximas. Embora as seções dentro de uma parte sejam frequentemente relacionadas tematicamente (veja, por exemplo, o Livro GS II ou BGE Partes I, V, VI), mesmo assim elas não se encaixam tipicamente em um único argumento geral. O próprio Nietzsche observa quão áspero ele trata suas preocupações, insistindo que “eu me aproximo de problemas profundos como de banhos frios: rapidamente dentro deles e rapidamente fora novamente” (GS 381). À natural queixa de que tais tratamentos telegráficos os julgadores não entenderam, ele responde que
uma pessoa não deseja somente ser compreendida quando escreve; deseja-se igualmente não ser compreendido. … [Alguns autores] não desejam ser compreendidos por “qualquer um”. (GS 381)
Alguns dos livros de Nietzsche (notadamente O Nascimento da Tragédia, a Genealogia e O Anticristo) oferecem uma maior continuidade de argumentação, mas mesmo ali, ele muitas vezes aproveita as quebras de seção para deixar um fio de raciocínio e passar a pontos aparentemente não relacionados, deixando o leitor a reconstituir a forma como os vários aspectos de seu caso devem se encaixar (GM II é um caso notoriamente desafiador; ver Reginster 2018b, 2021). Assim Falou Zarathustra é unificado ao seguir a carreira de um personagem central, mas a unidade é solta e picaresca — uma seqüência de episódios que chega a uma conclusão um tanto equivocada (ou no mínimo controversa) que impõe apenas uma fraca unidade narrativa ao todo.
Esse modo de escrever é freqüentemente classificado como “aforístico”, e Nietzsche recebe com razão um lugar de honra dentro da linhagem distinta desse tipo de forma na filosofia alemã, que remonta pelo menos aos livros Waste Books de Georg Lichtenberg. Lichtenberg escreveu seus fragmentos para si mesmo e não para o público, mas as estratégias que ele desenvolveu causaram um sério impacto. Seus aforismos revelaram como a forma poderia ser estendida a partir de suas origens essencialmente pedagógicas (fornecendo forma comprimida e memorável para algum princípio ou observação) até um modo sustentado e exploratório de raciocínio consigo mesmo. Schopenhauer era um admirador particular, e sua busca da forma (especialmente em Parerga e Paralipomena) influenciou claramente o uso da técnica por Nietzsche a fim de enquadrar suas observações psicológicas — (os moralistas franceses também foram uma influência importante; ver Pippin 2010).
Alguns dos esforços de Nietzsche consistem em uma análise psicológica direta, como esta — “Egoísmo é a lei da perspectiva aplicada aos sentimentos: o que está mais próximo parece grande e pesado, e à medida que nos afastamos mais o tamanho e o peso diminuem” (GS 162) — enquanto outros condensam um aspecto que Nietzsche vem desenvolvendo através da seção (ver, por exemplo, “Estamos sempre somente em nossa própria empresa”; GS 166). Mais distintamente, porém, muitos aforismos nietzschianos dependem de um efeito de “torção” — a primeira parte cria uma certa expectativa, que é então controvertida ou aprofundada por uma inversão de pensamento na segunda parte. Ocasionalmente, esses aforismos são até mesmo configurados como mini-diálogos:
R: “Alguém é elogiado apenas pelos colegas”.
B: “Sim, e quem o elogia diz: Eu sou seu par”. (GS 190)
Muitos aforismos que exibem esse tipo de “torção” apresentam o tipo de cinismo típico dos moralistas como La Rochefoucauld, mas por mais que tenha aprendido com os franceses, Nietzsche trouxe maiores ambições à forma; ele está igualmente disposto a deixar o cinismo para trás e implantar a forma de torção simplesmente para provocar uma reflexão ativa no leitor, tal como ele faz aqui: “Todo hábito confere à nossa mão mais inteligência, mas torna nossa inteligência menos útil” (GS 247). Kaufmann ([1950] 1974: 72-95) ilustremente sugeriu que Nietzsche cunhou seus aforismos a serviço de um modo “experimentalista” de filosofar, e a idéia tem algo a ver com isso. Porém o leitor deve tomar cuidado, pois nem todo aforismo nietzschiano é uma experiência, e nem toda seção curta é um aforismo. De fato, muitas seções com várias frases formam um aforismo, que entra apenas como uma parte própria incluída dentro da seção, talvez servindo como sua culminação ou uma espécie de conclusão sumativa (em vez de um experimento).
Um caso particularmente importante é o “aforismo colocado diante do [Terceiro] tratado” da Genealogia, que o Prefácio de Nietzsche (GM Pref., 8) oferece ao leitor como um exemplo especialmente bom do poder densamente sumário da forma — supõe-se que todo o Terceiro Tratado seja apenas uma interpretação desse aforismo. Maudemarie Clark (1997), John Wilcox (1997) e Christopher Janaway (1997) mostraram de maneira convincente que o aforismo em questão aparece na seção 1 do Terceiro Tratado, e não é o epigrama do Tratado. No entanto, a primeira seção em si não é simplesmente um longo aforismo. Em vez disso, o aforismo que requer tamanha interpretação é o ponto de chegada comprimido e de alto impacto do GM III, 1; a seção inicia observando uma série de coisas diferentes que o ideal ascético significou, listadas uma após a outra e servindo como uma espécie de esboço para o Tratado, antes de culminar com o aforismo enfático:
O ideal ascético significou muito para o homem, entretanto, ele é a expressão do fato básico da vontade humana, seu horror vacui: ele precisa de um objetivo, — e ele preferiria querer nada do que não querer. (GM III, 1)
(É a essa formulação comprimida, não à totalidade da seção, que Nietzsche retorna quando encerra sua interpretação no GM III, 28).
A propensão de Nietzsche para os aforismos é responsável por algumas das dificuldades de sua escrita; essas formulações se destacam de seu contexto de fundo, tornando mais difícil a integração do discurso de Nietzsche de uma seção para a outra. Mas a forma aforística é apenas um desafio entre muitos. Como tem sido amplamente observado (por todo leitor, suponho, mas ver Blondel [1971] 1977; Derrida 1978; de Man 1979; Kofman [1983] 1993; Nehamas 1985; Higgins 1987, 2000; Thomas 1999), a escrita de Nietzsche está cheia de figuras de linguagem e tropos literários, e a decodificação desses modos de indireção exige envolvimento ativo e sutileza do leitor. De fato, algumas das figuras mais favorecidas e difundidas de Nietzsche (por exemplo, hipérbole, litotes, ironia) envolvem dizer algo mais, ou menos, ou algo diferente e, portanto, induzem o leitor a se ajustar. Além disso, Nietzsche faz pesado uso de alusões tanto à escrita contemporânea como histórica, e sem esse contexto é muito provável que se perca seu significado — BGE 11-15 oferece um conjunto particularmente denso de exemplos; veja Clark e Dudrick (2012: 87-112) para uma leitura para a qual Hussain (2004), Anderson (2002) e Riccardi (2011) propõem alternativas. Quase sempre, Nietzsche inventa uma persona de modo a elaborar algum ponto de vista que ele irá qualificar ou rejeitar (BGE 2 é um exemplo claro), de modo que pode ser um desafio íngreme acompanhar as várias vozes em ação dentro do texto.
Nehamas (1988: 46-51) oferece talvez a melhor descrição das complexidades da experiência de leitura resultante: nossa atenção é fixada por certas passagens brilhantes e marcantes, ou mesmo seções inteiras, mas porque suas conexões com as seções próximas não são especificadas, e porque o texto parece mudar de uma voz para outra, o leitor simplesmente segue em frente, tomando cada nova seção em seus próprios termos; em resumo, esquecemos os detalhes, os pontos, as precauções, ou mesmo o assunto das passagens de várias seções — exceto, talvez, por alguns poucos, especialmente os destaques memoráveis, que então chamamos de “aforismos”. Assim, é muito fácil não ler os livros de Nietzsche como livros. No entanto, tais leituras abrangentes estão aí para ser feitas. Clark e Dudrick (2012) oferecem uma leitura aprofundada, embora controversa, explorando a unidade da Parte I de Além do Bem e do Mal; seus esforços revelam o grau de dificuldade — eles precisavam de um livro inteiro para explicar as alusões e conexões envolvidas em apenas vinte e três seções de Nietzsche, cobrindo algumas poucas páginas! Atacando o mesmo problema num espírito diferente, Nehamas (1988) chama a atenção para as conexões soltas do tipo “comboio de pensamento” que ligam uma seção a outra através de grandes faixas de obras como Além do Bem e do Mal ou A Gaia Ciência. Ao seguir tais conexões, se propõe, permite entender os livros como monólogos apresentados por um narrador. Para Nehamas, a criação de tal persona narrativa é central para o projeto maior de autoria de Nietzsche. Em contraste, no livro mencionado acima, Millgram contra-propõe que Nietzsche emprega diferentes “vozes”, diferentes narradores, em seus diferentes livros (ver Millgram 2007; Millgram 2020; e Millgram m.s.; e documentos relacionados disponíveis em Outros Recursos da Internet). Sobre esse quadro menos unificado, o tipo de efeito de “habitante-persona”, observado acima para o caso óbvio do BGE 2, é uma característica muito mais difundida e desestabilizadora da escrita de Nietzsche. Torna-se uma condição prévia para a compreensão adequada de cada livro em particular, que primeiro se trabalhe no que Nietzsche quer dizer com a voz — e que atitude ele, e nós, devemos ter em relação a esse personagem — antes de podermos avaliar as reivindicações e efeitos de primeira ordem da obra.
Embora a visão de Millgram seja extrema quanto às exigências que a escrita de Nietzsche impõe ao leitor, exigências do tipo amplo que ele indica – exigências, por exemplo, de ouvir as intervenções de Nietzsche no tom certo, ou no “espírito” certo, se elas forem entendidas — parecem ser impostas por algumas características bastante simples dos textos. Considere, por exemplo, qual poderia ser o objetivo daquela característica mais óbvia da retórica de Nietzsche — o calor e o vigor com que suas condenações dos valores tradicionais são apresentadas. A Genealogia da Moral se anuncia como “polêmica”, mas mesmo nesse gênero, trata-se de uma aberração para a intensidade retórica; Nietzsche não perde a oportunidade de atacar emocionalmente, ele repetidamente blasfema contra o que é considerado o mais sagrado da cultura, ele livremente distribui tropas anti-semitas ofensivas (voltadas para trás, ironicamente, contra os próprios cristãos anti-semitas), ele grita com justiça, ele zomba entre as citações assustadoras, ele repetidamente acusa a má-fé e a desonestidade por parte de seus oponentes, e assim por diante. É impossível concluir que o trabalho não é deliberadamente concebido para ser tão ofensivo quanto possível a qualquer crente cristão sincero. Por quê? Dada a expressa convicção de Nietzsche de que muitos cristãos devem permanecer enredados em sua ideologia porque isso é o melhor que podem fazer por si mesmos (que “o senso do [pecado] do rebanho deve reinar no rebanho”; KSA 7[6], 12: 280), talvez a maneira correta de entender esse excesso retórico é que ele opera como uma estratégia para a divisão do público. Na mente de Nietzsche, aqueles que não podem prescindir do cristianismo e de sua moralidade só seriam prejudicados se entendessem como é destrutivo e autodestrutivo; Nietzsche quer explicar esses efeitos terríveis, mas também quer proteger os leitores dependentes do cristianismo contra os danos. Ele consegue ambos de uma só vez, assegurando que exatamente esses leitores ficarão tão ofendidos por seu tom que sua raiva prejudicará a compreensão e eles deixarão de seguir seu argumento. Se isso estiver certo, o próprio vigor da Genealogia surge de um objetivo de ser ouvido apenas pelo público certo — aquele que pode potencialmente ajudar em vez de prejudicar —, superando assim o problema de que
há livros que têm valores opostos para a alma e a saúde, dependendo se a alma inferior… ou a superior e mais vigorosa se volta para eles. (BGE 30; compare BGE 26-7, 40 e GS 381)
O fato de tal interpretação das intenções de Nietzsche ser até mesmo possível mostra como esses textos explosivos e cuidadosamente redigidos representam um grande desafio para seus leitores.
6. Principais Doutrinas
Este verbete tem se concentrado em temas amplos, perseguidos ao longo de toda a escrita de Nietzsche, mas a maioria dos comentários filosoficamente sofisticados sobre seu trabalho tem sido dedicada à explicação de certos compromissos doutrinários centrais, nos quais Nietzsche parece confiar ao longo de todo o processo, mas que ele não desenvolve sistematicamente em seus trabalhos publicados da maneira típica para os filósofos. Algumas dessas doutrinas, como a idéia da eterna recorrência do mesmo, são descritas como “fundamentais” pelo próprio Nietzsche (EH III, Z, 1), mas são formuladas de maneira surpreendentemente críptica ou metafórica — e discutidas, ou mesmo mencionadas, muito mais raramente do que seria de se esperar, dada a importância que Nietzsche colocou nelas. Outras são aludidas com mais freqüência, mas levantam questões teóricas que normalmente exigiriam um desenvolvimento filosófico cuidadoso que está amplamente ausente nos livros de Nietzsche. Portanto, os comentaristas têm despendido um esforço considerável na reconstrução racional dessas doutrinas. Esta seção oferece breves explicações sobre três das mais importantes: a vontade de poder, a eterna recorrência, e o perspectivismo.
6.1 A vontade de poder
A doutrina da vontade de poder parece afirmar que tudo o que existe repousa fundamentalmente sobre uma base de “centros de poder”, cuja atividade e interações são explicadas por um princípio de que eles buscam a expansão de seu poder. Porém, está longe de ser óbvio o que estes “centros de poder” deveriam ser, e muita controvérsia acadêmica diz respeito ao tipo de doutrina que Nietzsche pretendia impulsionar em primeiro lugar. Alguns leitores a tomam como a versão de Nietzsche de uma metafísica fundamental (ver Heidegger 1961, Jaspers [1936] 1965, e para uma abordagem recente e sofisticada na mesma linha ampla, Richardson 1996; ver também relatos alternativos de Doyle 2019 e Remhof 2017). Outros a recebem como uma rejeição anti-essencialista da teorização metafísica tradicional, na qual os centros de poder abstratos e mutáveis substituem entidades estáveis (Nehamas 1985: 74-105, Poellner 1995: 137-98), ou então como uma hipótese psicológica (Kaufmann [1950] 1974, Soll 2015; Clark e Dudrick 2015), ou uma conjectura (quase) científica (Schacht 1983; Abel 1984; Anderson 1994, 2012b). Opondo-se a todas essas leituras da vontade de poder como doutrina da filosofia teórica, Maudemarie Clark (2000, ver também 1990: 205-44) lê a vontade de poder como uma corrente de pensamento que não faz nenhuma reivindicação acerca do mundo, mas expressa os valores de Nietzsche. Como vimos (3.B.i.), a idéia de que a expansão do poder é boa tem uma reivindicação melhor do que outros princípios para sistematizar os vários compromissos de valor em Nietzsche, e diferentes interpretações avaliativas foram desenvolvidas por Reginster (2006), Katsafanas (2013), Hussain (2011) e Richardson (2020: 53-80). Mas há também um grande número de outros textos que sugerem que a principal agenda de Nietzsche era a de defender que o mundo psicológico — ou o mundo como um todo — é fundamentalmente composto de centros de poder que exercem força uns contra os outros (ver GS 13; BGE 23, 36, 259; GM II, 16-17; III, 13-15; assim como muitas passagens dos cadernos). A descrição de Nietzsche de tais “centros de poder” é às vezes bastante abstrata, evocando “centros de poder” matematicamente caracterizados como aqueles às vezes postulados na física do século XIX, mas, em outros momentos, entidades psicológicas ou biológicas concretas (pessoas, unidades, organismos) são as coisas que exercem vontade de poder.
Reginster (2006, 2018a) explica a vontade de poder como um impulso para a superação da resistência que pode mobilizar um grande corpo de apoio textual (particularmente nos cadernos), e também tem algumas vantagens filosóficas particulares. Do ponto de vista dialético, a leitura de Reginster esclarece substancialmente o alvo e o ponto filosófico da visão de Nietzsche sobre o poder: eles são voltados contra as idéias de Schopenhauer sobre a vontade de vida e seu uso dessas idéias para motivar o pessimismo. A vontade de poder contribui assim diretamente para o programa de Nietzsche de combate ao niilismo (na sua aparência de afirmação avaliativa de que o mundo não deveria existir). A leitura de Reginster também faz bom senso da aparente centralidade da vontade de poder na psicologia de Nietzsche. Na mesma passagem onde ele afirma que a psicologia deveria “ser reconhecida novamente como a rainha das ciências”, Nietzsche propõe entender a psicologia “como a morfologia e a o desenvolvimento-teoria da vontade de poder” (BGE 23). Alguns comentaristas consideram isso como sugestão de uma psicologia monística na qual todas as unidades visam o poder, e assim contam como manifestações de uma única unidade subjacente (ou tipo de unidade). Essa interpretação não se adapta bem à diversidade prodigiosa das explicações psicológicas atuais de Nietzsche (e de suas tendências pluralistas), mas a visão de Reginster redireciona a atenção para longe dos objetivos de primeira ordem das unidades, em direção a uma característica estrutural geral das unidades — sua tendência a superar a resistência no curso da perseguição de quaisquer atividades de primeira ordem que elas perseguem. (Assim, ele se baseia em uma produtiva linha de pensamento anterior de Richardson (1996), segundo a qual a vontade de poder dos impulsionadores não é uma questão de tomar o poder como um objetivo de primeira ordem, mas diz respeito à maneira como eles perseguem os vários objetivos de primeira ordem). O relato de Reginster permite assim a vontade de poder manter uma importante centralidade dentro da psicologia de Nietzsche, sem a necessidade de afirmar que ninguém (ou nenhuma unidade) jamais visa qualquer outra coisa além do poder.
Outros estudiosos enfatizaram as especulações de Nietzsche de que fenômenos biológicos e físicos poderiam ser explicados por um sistema postulado de centros de energia interativos (Abel 1984; Müller-Lauter 1999a; Moore 2002; Gemes 2013). Abel (1984) oferece uma versão particularmente sistemática e cuidadosamente argumentada da abordagem, que destaca ressonâncias importantes entre as idéias de Nietzsche e elementos da física dinâmica e metafísica de Leibniz, enquanto Moore (2002) busca uma linha fascinante de conexões entre o pensamento de Nietzsche sobre o poder e certas idéias fisiológicas desenvolvidas por Wilhelm Roux (1881). A leitura de Moore enfatiza a retórica biologizada que Nietzsche freqüentemente usa em seu discurso sobre poder (juntamente com suas conexões com a saúde e a doença, degeneração, etc.) como parte de um caso em que a vontade de poder situa a filosofia de Nietzsche dentro de uma tendência intelectual mais ampla em direção ao “biologismo” prevalecente no final do século XIX.
6.2 Perspectivismo
Grande parte da reação de Nietzsche à filosofia de seus antecessores é mediada por seu interesse na noção de perspectiva. Ele pensou que os filósofos do passado ignoraram em grande parte a influência de suas próprias perspectivas em seu trabalho e, portanto, não conseguiram controlar esses efeitos de perspectiva (BGE 6; ver BGE I em geral). Os comentadores ficaram fascinados e perplexos com o que veio a ser chamado de “perspectivismo” de Nietzsche, e isso tem sido uma grande preocupação em vários comentários de grande escala sobre Nietzsche (ver, por exemplo, Danto 1965; Kaulbach 1980, 1990; Schacht 1983; Abel 1984; Nehamas 1985; Clark 1990; Poellner 1995; Richardson 1996; Benne 2005). Tem havido tanta contestação sobre exatamente que doutrina ou grupo de compromissos fazem parte desse título quanto sobre seus méritos filosóficos, mas alguns pontos são relativamente incontroversos e podem fornecer uma forma útil para essa linha do pensamento de Nietzsche.
Os apelos de Nietzsche à noção de perspectiva (ou, equivalente em seu uso, a uma “ótica” do conhecimento) têm um lado positivo, bem como um lado crítico. Nietzsche freqüentemente critica os filósofos “dogmáticos” por ignorarem as limitações da perspectiva em sua teorização, mas como vimos, ele simultaneamente defende que a operação da perspectiva faz uma contribuição positiva para nossos esforços cognitivos. Falando (do que ele considera ser) das doutrinas perversamente contraintuitivas de alguns filósofos do passado, ele escreve:
Particularmente enquanto conhecedores, não sejamos ingratos diante de tais reviravoltas obstinadas das perspectivas e valorizações familiares com as quais o espírito se enfureceu por tempo demais… : ver de maneira diferente desta vez, querer ver de maneira diferente, não é algo de pouca disciplina e preparação do intelecto para sua futura “objetividade” — esta última entendida não como “contemplação desinteressada” (que é um não conceito e um absurdo), mas sim como a capacidade de ter os próprios Pro e Contra em seu poder, e de transferi-los para dentro e para fora, para que se saiba fazer exatamente a diferença nas perspectivas e interpretações afetivas que são úteis para o conhecimento. (GM III, 12)
Essa famosa passagem rejeita sem rodeios a idéia, dominante na filosofia pelo menos desde Platão, de que o conhecimento envolve essencialmente uma forma de objetividade que penetra por trás de todas as aparências subjetivas para revelar o modo como as coisas realmente são, independentemente de qualquer ponto de vista. Em vez disso, a proposta é abordar a “objetividade” (em uma concepção revisada) assimptoticamente, explorando a diferença entre uma perspectiva e outra, usando cada uma delas para superar as limitações das outras, sem assumir que algo parecido com uma “visão a partir do nada” seja assim possível. É claro que há aqui uma crítica implícita ao quadro tradicional de uma objetividade perspectiva, mas existe igualmente um conjunto positivo de recomendações sobre como perseguir o conhecimento enquanto agente cognitivo finito e limitado.
Ao trabalhar em sua perspectiva ótica da cognição, Nietzsche construiu sobre os desenvolvimentos contemporâneos da teoria da cognição — particularmente o trabalho de neo-kantianos não ortodoxos como Friedrich Lange e positivistas como Ernst Mach, que propôs versões naturalizadas, baseadas psicologicamente, do amplo tipo de teoria da cognição inicialmente desenvolvida por Kant e Schopenhauer (ver Clark 1990; Kaulbach 1980, 1990; Anderson 1998, 2002, 2005; Green 2002; Hill 2003; Hussain 2004). O pensamento kantiano era o de que certas características estruturais muito básicas do mundo que conhecemos (espaço, tempo, relações causais, etc.) eram artefatos de nossas faculdades cognitivas subjetivas e não propriedades ou relações das coisas em si mesmas; mas onde Kant e Schopenhauer tinham tratado essas estruturas como necessárias, condições a priori de qualquer experiência possível, as figuras mais naturalistas que influenciaram Nietzsche procuraram rastreá-las até fontes da psicologia empírica humana, que seriam, naturalmente, contingentes. O potencial de variação dessas inelimináveis influências do lado do assunto sugere a idéia de tratá-las como uma espécie de perspectiva, que Nietzsche encontrou desenvolvida numa versão idealista por Gustav Teichmüller (1882). Deixando de lado o idealismo de Teichmüller, Nietzsche desenvolve a idéia ligando perspectivas cognitivamente importantes de volta à sua própria psicologia. Em particular, a passagem da Genealogia enfatiza que, para ele, as perspectivas estão sempre enraizadas nos afetos e em seus padrões de valorização associados. Por essa razão, Nietzsche sustenta que “toda grande filosofia até agora” tem sido “a confissão pessoal de seu autor e uma espécie de memórias involuntárias e inconscientes” (BGE 6). Assim, as afirmações teóricas não só precisam ser analisadas a partir do ponto de vista da verdade, mas também podem ser diagnosticadas como sintomas e, assim, rastreadas até as complexas configurações de impulso e efeito a partir do ponto de vista do qual elas fazem sentido. O perspectivismo de Nietzsche se conecta assim com seu programa “genealógico” de crítica das teorias filosóficas, expondo as necessidades psicológicas que elas satisfazem; o perspectivismo serve tanto para motivar o programa, quanto para fornecer-lhe orientação metodológica.
No entanto, o perspectivismo de Nietzsche e seus argumentos vão além da epistemologia, ou a “teoria da cognição” (Erkenntnistheorie), como era praticada no meio amplamente kantiano de sua filosofia contemporânea. (Dever-se-ia dizer, que “vai além” da teoria da cognição, no mínimo; Gemes (2009c, 2013) argumenta que as interpretações epistemológicas do perspectivismo estão completamente equivocadas, e que, em vez disso, deveria ser considerada como fundamentalmente uma doutrina dentro da psicologia moral, sobre os impulsos e os afetos). Nietzsche faz afirmações perspectivistas não apenas sobre o lado do sujeito cognitivo, mas também sobre o lado da verdade, ou realidade, que pretendemos conhecer. Suas opiniões sobre esse tópico têm sido altamente controversas, com alguns estudiosos enfatizando as aparentes negações da verdade por parte de Nietzsche (ou negações céticas segundo as quais qualquer verdade é sempre conhecida, ou afirmações mais radicais de que a própria idéia de verdade é de alguma forma incoerente), e outros ainda destacando suas próprias freqüentes e rotineiras afirmações sobre a verdade de suas próprias opiniões, bem como a valorização da veracidade e honestidade que vimos acima (3.B.iv.). Várias estratégias diferentes foram propostas para conciliar as tensões entre essas diferentes vertentes do texto, incluindo a suposição de que pelo menos algumas das reivindicações de Nietzsche devem ficar fora do escopo de suas negações da verdade (Hales e Welshon 2000), a idéia de que Nietzsche distinguia diferentes sentidos de “verdade” (Schacht 1983; Anderson 1998, 2005), e a proposta de desenvolvimento segundo a qual Nietzsche acabou desistindo de suas negações da verdade no final de sua carreira (Clark 1990, 1998). (Ver os recentes intercâmbios sobre este tema entre Clark (2018) e Nehamas (2015, 2017, 2018)). Além do trabalho focado na compreensão da verdade per se de Nietzsche, uma boa dose de esforço acadêmico explorou a maneira como Nietzsche tenta construir seu perspectivismo através da ontologia do mundo, entendendo a própria realidade como um sistema de centralização de forças em constante mudança que, por si só, constitui uma variedade de pontos de vista sobre o todo (contribuições notáveis incluem Deleuze [1962] 1983; Abel 1984; Poellner 1995; Richardson 1996; Müller-Lauter 1999a; Hales e Welshon 2000; Gemes 2013). Esses esforços defendem fortes conexões entre o perspectivismo e doutrina da vontade de poder (seção 6.1).
6.3 A Eterna Recorrência do Mesmo
O próprio Nietzsche sugere que a eterna recorrência foi seu pensamento mais importante, mas isso não facilitou a compreensão dos comentaristas. As articulações de Nietzsche sobre essa doutrina envolvem hipóteses — (ou induzir o leitor a imaginar, ou retratar um personagem em consideração) — a idéia de que todos os eventos no mundo se repetem na mesma seqüência através de uma série eterna de ciclos. Porém, os textos são difíceis de interpretar. Todas as apresentações oficiais de Nietzsche do pensamento em trabalhos publicados são ou apresentadas em termos hipotéticos (GS 341), ou extremamente elípticas e alusivas (por exemplo, GS 109), ou altamente metafóricas e quase herméticas (Z III, 2, 13), ou todas as três juntas. A maioria das alusões à idéia, de fato, assume que já se sabe o que ela significa — mesmo as afirmações no Ecce Homo de que ela é a “concepção fundamental” ou “idéia básica” de Zarathustra têm esse caráter. Na recepção inicial, a maioria dos leitores levou Nietzsche a oferecer uma hipótese cosmológica sobre a estrutura do tempo ou do destino (ver Simmel [1907] 1920; Heidegger 1961; Löwith [1935] 1997; Jaspers [1936] 1965), e vários problemas foram levantados para a tese, assim entendida (Simmel [1907] 1920: 250-1n; Soll 1973; Anderson 2005: 217 n28). Muitos comentaristas posteriores concentraram-se no significado existencial ou prático do pensamento (Magnus 1978; Nehamas 1980, 1985), ou sua importância “mitológica” (Hatab 2005).
Na sequência de Nehamas (1985), uma linha influente de leituras argumentou que o pensamento ao qual Nietzsche atribuiu tal significado “fundamental” nunca foi uma reivindicação cosmológica ou teórica — seja sobre o tempo, seja sobre o destino, seja sobre o mundo, ou sobre o eu — mas sim uma experiência prática do pensamento destinada a testar se a vida de alguém foi boa. A idéia geral é a de que se imagine o retorno infinito da vida, e a reação emocional à perspectiva revela algo sobre o quanto a vida de alguém tem sido valiosa, tanto quanto (citando a memorável analogia de Maudemarie Clark) a pergunta do cônjuge sobre se alguém iria se casar novamente evoca — e de fato, exige bastante — uma avaliação do estado do casamento (ver Clark 1990: 245-86; Wicks 1993; Ridley 1997; Williams 2001; Reginster 2006: 201-27; Anderson 2005, 2009; Risse 2009; Huddleston, no prelo). Naturalmente, a ameaça do consenso acadêmico emergente em torno dessa linha de interpretação tem provocado um recuo, e Paul Loeb (2006, 2013, 2021) ofereceu recentemente uma vigorosa defesa de uma interpretação cosmológica da idéia de Nietzsche, com base em trabalhos anteriores de Alistair Moles (1989, 1990).
Céticos como Loeb estão certos ao insistirem que, se a recorrência for entendida como uma experiência prática do pensamento, os comentaristas nos devem um relato de como as características particulares dos pensamentos relevantes devem fazer alguma diferença (Soll 1973 já apresentava uma forma crua desse desafio). Três características parecem especialmente salientes: devemos imaginar 1) que o passado se repete, de modo que o que aconteceu no passado será novamente experimentado no futuro; 2) que o que se repete é o mesmo em cada detalhe; e 3) que a recorrência não acontece apenas mais uma vez, ou mesmo muitas vezes mais, mas eternamente. A suposta recorrência (1) é plausivelmente importante como um dispositivo para superar o preconceito natural em direção ao futuro no raciocínio prático. Como não podemos mudar o passado, mas pensar em nós mesmos como ainda capazes de fazer algo sobre o futuro, nossa atenção prática é, compreensivelmente, voltada para o futuro. Mas se a questão é sobre o valor de nossa vida em geral, os eventos do passado importam tanto quanto os do futuro, e ignorá-los é um erro, na melhor das hipóteses, e um caso de raciocínio motivado ou desonestidade, se estamos explorando o preconceito do futuro para ignorar aspectos de nós mesmos que preferiríamos não possuir (Forma geral: “Ufa! Pelo menos nunca mais terei que passar por isso...”). Ao localizar imaginativamente toda nossa vida mais uma vez no futuro, a experiência do pensamento pode mobilizar os recursos de nossa autoconsciência prática para direcionar um julgamento avaliativo sobre nossa vida como um todo. Considerações semelhantes motivam o constrangimento da mesmice (2). Se minha avaliação de mim mesmo simplesmente eludisse quaisquer eventos ou características de meu eu, vida ou mundo com os quais eu estava descontente, dificilmente contaria como um auto-exame honesto e completo. A restrição de que a vida que eu imagino que se repita deve ser a mesma em cada detalhe é projetada para bloquear tais elisões.
Como Reginster (2006: 222-7) observa, é mais difícil explicar o papel da terceira limitação, a eternidade. No entanto, é claro que isso faz uma diferença prática: para acentuar a questão, deve-se voltar à analogia do casamento de Clark; pode-se muito bem estar muito feliz em viver o próprio casamento de novo (uma, ou duas, ou até mesmo várias vezes), mas ainda assim preferir alguma variação nos arranjos conjugais ao longo da eternidade — na verdade, Milan Kundera (1991) parece estar colocando seu personagem Agnes em algo parecido com essa situação em seu uso do pensamento nietzschiano experimentado desde cedo na Imortalidade. Reginster propõe que a restrição da eternidade se destina a reforçar a idéia de que o experimento do pensamento exige uma forma de afirmação especialmente plena — a alegria — cuja força é medida pelo envolvimento de um desejo de que nossas vidas essencialmente finitas possam ser eternas. Mais modestamente, pode-se pensar que Nietzsche considerou importante descartar como insuficiente um tipo particular de afirmação condicional, sugerida pelo contexto escatológico cristão, que deixaria no lugar o julgamento de que a vida humana terrena carrega um valor intrinsecamente negativo. Afinal, o cristão devoto poderia afirmar sua vida terrena como um teste de fé, que deve ser redimida por uma eterna recompensa celestial se alguém passar no teste — tudo isso enquanto mantém seu compromisso segundo o qual, considerada por si mesma, a vida terrena é uma condição pecaminosa a ser rejeitada. Imaginar que minha vida finita se repete eternamente bloqueia essa via (e retorna o foco de avaliação às características finitas da vida real) supondo que nunca haverá um ponto em que se possa fingir que a vida finita está de uma vez por todas “terminada e acabada” (Anderson 2005: 198, 203; 2009: 237-8).
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com
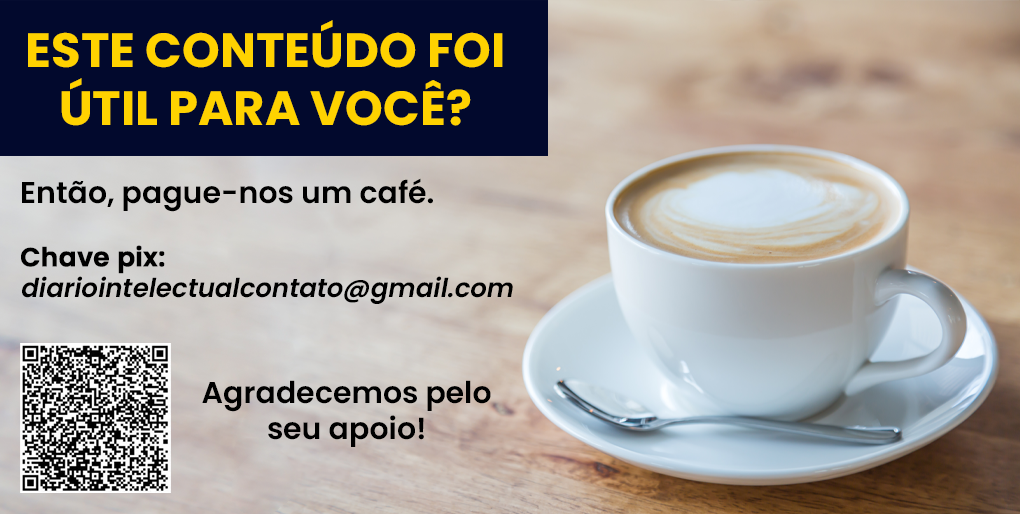
Bibliografia
Literatura Primária: Obras de Nietzsche
Obras de Nietzsche em alemão
Os trabalhos de Nietzsche foram recentemente publicados em uma edição crítica excepcional (o Kritische Gesamtausgabe) sob a redação geral de Giorgio Colli e Massimo Montinari. Ela é realizada em muitas bibliotecas universitárias e é tipicamente citada por volume e número de página usando a abreviatura KGA. Este verbete cita obras publicadas nas traduções em inglês listadas abaixo, e para os textos inéditos, cita a versão resumida e útil da edição crítica, preparada para estudantes e acadêmicos (o Kritische Studienausgabe, KSA). Essas referências seguem a prática acadêmica padrão, fornecendo volumes e números de páginas da KSA, precedidos pelos números dos cadernos e fragmentos estabelecidos para a edição crítica geral. As traduções em inglês agora apareceram contendo seleções dos textos não publicados incluídos na KSA, e esses volumes (WEN, WLN) estão listados entre as traduções na próxima seção. As informações bibliográficas completas para as edições em alemão são
- KGA Werke: Kritische Gesamtausgabe, edited by G. Colli and M. Montinari. Berlin: W. de Gruyter, 1967 ff.
- KSA Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe, edited by G. Colli and M. Montinari. Berlin: W. de Gruyter, 1980 ff
Obras de Nietzsche em inglês
Os trabalhos publicados por Nietzsche são citados por seus números originais de seção (ou parte maior mais os números de seção juntos), que são os mesmos em todas as edições. As citações seguem o sistema norte-americano de abreviações da Sociedade Nietzsche para referência às traduções em inglês. Para cada trabalho, a tradução primária citada no verbete é listada primeiro, seguida por outras traduções que foram consultadas. (N.B.: o verbete ocasionalmente se afasta da tradução citada, geralmente no sentido de uma maior literalidade, sem aviso prévio separado). A data original da publicação alemã é indicada entre parênteses no final de cada verbete.
- BT The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1967 (1872).
- UM Untimely Meditations, R.J. Hollingdale (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1983 (1873–6).
- HH Human, All-too-human: a Book for Free Spirits, R.J. Hollingdale (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1986 (Vol. I, 1878; Vol. II, 1879–80).
- D Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality, R.J. Hollingdale (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1997 (1881).
- GS The Gay Science, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1974 (1st ed. 1882, 2nd ed. 1887). (I also consulted The Gay Science, J. Nauckhoff (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 2001.)
- Z Thus Spoke Zarathustra, Walter Kaufmann (trans.), New York: Viking, 1954 (1883–5).
- BGE Beyond Good and Evil, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1966 (1886).
- GM On the Genealogy of Morality, Maudemarie Clark and Alan Swensen (trans.), Indianapolis: Hackett, 1998 (1887). (I also consulted On the Genealogy of Morals, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1967.)
- TI Twilight of the Idols, Walter Kaufmann (trans.), New York: Viking, 1954 (1888).
- CW The Wagner Case, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1966 (1888).
- NCW Nietzsche Contra Wagner, Walter Kaufmann (trans.), New York: Viking, 1954 (1888).
- A The Antichrist, Walter Kaufmann (trans.), New York: Viking, 1954 (1895).
- EH Ecce Homo, Walter Kaufmann (trans.), New York: Vintage, 1967 (1908).
- WP The Will to Power, Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale (trans.), edited by Walter Kaufmann. New York: Vintage, 1967 (1901, 1906).
- WEN Writings from the Early Notebooks, Ladislaus Löb (trans.), Raymond Guess and Alexander Nehamas (eds), Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- WLN Writings from the Late Notebooks, Kate Sturge (trans.), Rüdiger Bittner (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Literatura Secundária
- Abel, Günther, 1984, Nietzsche: die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, Berlin: W. de Gruyter.
- Acampora, Christa, 2002, “Nietzsche contra Homer, Socrates, and Paul”, Journal of Nietzsche Studies, 24: 25–53. doi:10.1353/nie.2002.0010
- –––, 2006a, “On Sovereignty and Overhumanity: Why it Matters How We Read Nietzsche’s Genealogy II, 2”, in Acampora 2006b: 147–61.
- ––– (ed.), 2006b, Nietzsche’s On the Genealogy of Morals: Critical Essays, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- –––, 2013, Contesting Nietzsche, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- –––, 2019, “Nietzsche’s On the Genealogy of Morality: Moral Injury and Transformation”, in Stern 2019: 222–46. doi:10.1017/9781316676264.010
- –––, forthcoming, “Nietzsche’s Responsibility”, in Christopher Janaway and Ken Gemes (eds.), Nietzsche’s Postmoralism, Oxford: Oxford University Press.
- Alfano, Mark, 2019, Nietzsche’s Moral Psychology, Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781139696555
- Allison, David (ed.), 1977, The New Nietzsche, Cambridge, MA: MIT Press.
- Anderson, R. Lanier, 1994, “Nietzsche’s Will to Power as a Doctrine of the Unity of Science”, Studies in History and Philosophy of Science, 25(5): 729–50. doi:10.1016/0039-3681(94)90037-X
- –––, 1998, “Truth and Objectivity in Perspectivism”, Synthese, 115(1): 1–32. doi:10.1023/A:1004984312166
- –––, 2002, “Sensualism and Unconscious Representations in Nietzsche’s Account of Knowledge”, International Studies in Philosophy, 34(3): 95–117. doi:10.5840/intstudphil200234310
- –––, 2005, “Nietzsche on Truth, Illusion, and Redemption”, The European Journal of Philosophy, 13(2): 185–225. doi:10.1111/j.0966-8373.2005.00227.x
- –––, 2006, “Nietzsche on Strength and Achieving Individuality”, International Studies in Philosophy, 38(3): 89–115. doi:10.5840/intstudphil200638331
- –––, 2009, “Nietzsche on Redemption and Transfiguration”, in Landy and Saler 2009: 225–58.
- –––, 2011, “On the Nobility of Nietzsche’s Priests”, in May 2011: 24–55. doi:10.1017/CBO9781139014977.004
- –––, 2012a, “What is a Nietzschean Self?” in Janaway and Robertson 2012: 202–35. doi:10.1093/acprof:oso/9780199583676.003.0009
- –––, 2012b, “The Will to Power in Science and Philosophy”, in Heit, Abel, and Brusotti 2012: 55–72.
- –––, 2013, “Nietzsche on Autonomy”, in Gemes and Richardson 2013: 432–60.
- –––, 2021, “Nietzchean Autonomy and the Meaning of the ‘Sovereign Individual’”, Philosophy and Phenomenological Research, first online 21 August 2021. doi:10.1111/phpr.12824
- Anderson, R. Lanier and Rachel Cristy, 2017, “What is ‘the Meaning of our Cheerfulness’? Philosophy as a Way of Life in Nietzsche and Montaigne”, European Journal of Philosophy, 25(4): 1514–49. doi: 10.1111/ejop.12235
- Anderson, R. Lanier and Joshua Landy, 2001, “Review: Philosophy as Self-Fashioning: Alexander Nehamas’s Art of Living”, Diacritics, 31(1): 25–54. doi:10.1353/dia.2003.0002
- Ansell-Pearson, Keith, 1991a, Nietzsche contra Rousseau: a Study of Nietzsche’s Moral and Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511554490
- ––– (ed.), 1991b, Nietzsche and Modern German Thought, London: Routledge.
- –––, 1994, An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: the Perfect Nihilist, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511606144
- –––, 2005, How to Read Nietzsche, New York: W.W. Norton.
- ––– (ed.), 2006, A Companion to Nietzsche, Oxford: Blackwell. doi:10.1002/9780470751374
- –––, 2014, “Heroic-Idyllic Philosophizing: Nietzsche and the Epicurean Tradition”, Royal Institute of Philosophy Supplement, 74: 237–63. doi:10.1017/S1358246114000010
- Ansell-Pearson, Keith, and Rebecca Bamford, 2021, Nietzsche’s Dawn: Philosophy, Ethics, and the Passion of Knowledge, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
- Beauvoir, Simone de, 1948, The Ethics of Ambiguity, Bernard Frechtman (trans.), New York: Citadel.
- Benne, Christian, 2005, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, Berlin: W. de Gruyter.
- Berry, Jessica, 2011, Nietzsche and the Ancient Skeptical Tradition, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195368420.001.0001
- –––, 2019, “Nietzsche’s Attack on Belief: Doxastic Skepticism in The Antichrist”, The Journal of Nietzsche Studies, 50(2): 187–209. doi: 10.5325/jnietstud.50.2.0187
- Bittner, Rüdger, 1994, “Ressentiment”, in Schacht 1994: 127–38.
- Blondel, Eric, [1971] 1977, “Nietzsche: Life as Metaphor”, Mairi Macrae (trans.), in Allison 1977: 150–75.
- Came, Daniel (ed.), 2014, Nietzsche on Art and Life, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199545964.001.0001
- Cate, Curtis, 2002, Friedrich Nietzsche, London: Hutchinson.
- Clark, Maudemarie, 1990, Nietzsche on Truth and Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511624728
- –––, 1997, “From the Nietzsche Archive: Concerning the Aphorism Explicated in Genealogy, III”, Journal of the History of Philosophy, 35(4): 611–14. doi:10.1353/hph.1997.0086
- –––, 1998, “On Knowledge, Truth, and Value: Nietzsche’s Debt to Schopenhauer and the Development of his Empiricism”, in Janaway 1998: 37–78. Reprinted in Clark 2015a: 213–49. doi:10.1093/acprof:oso/9780199371846.003.0013
- –––, 2000, “Nietzsche’s Doctrine of the Will to Power: Neither Ontological nor Biological”, International Studies in Philosophy, 32(3): 119–35. doi:10.5840/intstudphil200032346
- –––, 2015a, Nietzsche on Ethics and Politics, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199371846.001.0001
- –––, 2015b, “On Creating Values”, Nietzsche-Studien, 44(1): 98–103. doi: 10.1515/nietstu-2015-0114
- –––, 2018, “Perspectivism and Falsification Revisited: Nietzsche, Nehamas, and Me”, The Journal of Nietzsche Studies, 49(1): 3–30.
- Clark, Maudemarie and David Dudrick, 2009, “Nietzsche on the Will: an Analysis of BGE 19”, in Gemes and May 2009: 247–68. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0012
- –––, 2012, The Soul of Nietzsche’s Beyond Good and Evil, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139032865
- –––, 2015, “Nietzsche’s Philosophical Psychology: Will to Power as Theory of the Soul”, in Clark 2015: 260–86. doi:10.1093/acprof:oso/9780199371846.003.0015
- Conant, James, 2001, “Nietzsche’s Perfectionism: a Reading of Schopenhauer as Educator”, in Schacht 2001: 181–257. doi:10.1017/CBO9780511570636.012
- Creasy, Kaitlyn, 2020, The Problem of Affective Nihilism in Nietzsche: Thinking Differently, Feeling Differently, London: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-37133-3
- Cretu, Ana-Maria, and Michela Massimi (eds.), 2020, Knowledge from a Human Point of View, Cham: Springer. [Cretu and Massimi (eds.) 2020 available online]. doi: 10.1007/978-3-030-27041-4
- Danto, Arthur, 1965, Nietzsche as Philosopher, New York: Columbia University Press.
- Deleuze, Gilles, [1962] 1983, Nietzsche and Philosophy, Hugh Tomlinson (trans.), New York: Columbia University Press.
- de Man, Paul, 1979, Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New Haven, CT: Yale University Press.
- Derrida, Jacques, 1978, Spurs: Nietzsche’s Styles, Barbara Harlow (trans.), Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Doyle, Tsarina, 2018, Nietzsche’s Metaphysics of the Will to Power: the Possibility of Value, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dries, Manuel, 2015, “What is it Like to Recognize Values? (The Hard Problem of Values 2)”, Nietzsche-Studien, 44(1): 113–21. doi:10.1515/nietstu-2015-0117
- –––, 2018, Nietzsche on Consciousness and the Embodied Mind, Berlin: de Gruyter. doi:10.1515/9783110246537-010
- Foucault, Michel, [1964] 1990, “Nietzsche, Freud, Marx”, in Gayle Ormiston and Alan Schrift (eds.), Transforming the Hermeneutic Context, Albany NY: State University of New York Press, pp. 59–67.
- –––, 1977, “Nietzsche, Genealogy, History”, in Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Donald Bouchard and Sherry Simon (trans.), Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gardner, Sebastian, 2009, “Nietzsche, the Self, and the Disunity of Philosophical Reason”, in Gemes and May 2009: 1–31. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0001
- Gemes, Ken, 1992, “Nietzsche’s Critique of Truth”, Philosophy and Phenomenological Research, 52(1): 47–65. doi:10.2307/2107743
- –––, 2001, “Postmodernism’s Use and Abuse of Nietzsche”, Philosophy and Phenomenological Research, 62(2): 337–60. doi:10.2307/2653702
- –––, 2009a, “Nietzsche on Free Will, Autonomy, and the Sovereign Individual”, in Gemes and May 2009: 33–49. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0002
- –––, 2009b, “Freud and Nietzsche on Sublimation”, Journal of Nietzsche Studies, 38: 38–59.
- –––, 2009c, “Janaway on Perspectivism”, European Journal of Philosophy, 17(1): 101–12. doi:10.1111/j.1468-0378.2008.00335.x
- –––, 2013, “Life’s Perspectives”, in Gemes and Richardson 2013: 553–75. doi:10.1093/oxfordhb/9780199534647.013.0025
- –––, 2019, “A Better Self: Freud and Nietzsche on the Nature and Value of Sublimation,” in Gipps and Lacewing 2019: 107–30. doi:10.1093/oxfordhb/9780918789703.013.5
- –––, 2021, “The Biology of Evil: Nietzsche on Degeneration (Entartung) and Jewification (Verjüdung)”, The Journal of Nietzsche Studies, 52(1): 1–25. doi:10.5325/jnietstud.52.1.0001
- Gemes, Ken and Simon May (eds.), 2009, Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.001.0001
- Gemes, Ken and John Richardson (eds.), 2013, The Oxford Handbook of Nietzsche, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199534647.001.0001
- Gerhardt, Volker, 1992, Friedrich Nietzsche, München: Beck.
- Gipps, Richard G.T., and Michael Lacewing (eds.), 2019, The Oxford Handbook of Philosophy and Psychoanalysis, Oxford: Oxford University Press.
- Green, Michael, 2002, Nietzsche and the Transcendental Tradition, Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Haar, Michel, [1993] 1996, Nietzsche and Metaphysics, Michael Gendre (trans.), Albany, NY: State University of New York Press.
- Hales, Steven, 2020, “Nietzsche’s Epistemic Perspectivism”, in Cretu and Massimi 2020: 19–38. doi:10.1007/978-3-030-27041-4_2
- Hales, Steven, and Rex Welshon, 2000, Nietzsche’s Perspectivism, Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Hatab, Lawrence, 1995, A Nietzschean Defense of Democracy: an Experiment in Postmodern Politics, La Salle, IL: Open Court Press.
- –––, 2005, Nietzsche’s Life Sentence: Coming to Terms with Eternal Recurrence, London: Routledge.
- –––, 2018, “Talking Ourselves into Selfhood: Nietzsche on Consciousness and Language in Gay Science 354”, in Dries 2018: 183–94. doi:10.1515/9783110246537-010
- Hayman, Ronald, 1980, Nietzsche: a Critical Life, Oxford: Oxford University Press.
- Heidegger, Martin, 1961, Nietzsche, Pfullingen: Neske. Translated in 4 vols. by David Farrell Krell, as Nietzsche, London: Routledge, 1981 ff.
- Heit, Helmut, Günther Abel, and Marco Brusotti (eds.), 2012, Nietzsches Wissenschaftsphilosophie: Hintergründe, Wirkungen und Aktualität, Berlin: W. de Gruyter.
- Higgins, Kathleen Marie, 1987, Nietzsche’s Zarathustra, Philadelphia, PA: Temple University Press.
- –––, 2000, Comic Relief: Nietzsche’s “Gay Science”, Oxford; Oxford University Press.
- –––, 2006, “Nietzsche, Empty Names, and Individuality”, International Studies in Philosophy, 34(3): 47–60. doi:10.5840/intstudphil200638332
- Hill, R. Kevin, 2003, Nietzsche’s Critiques: the Kantian Foundations of his Thought, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199285525.001.0001
- Huddleston, Andrew, 2014, “Nietzsche’s Meta-Axiology: Against the Skeptical Readings”, British Journal for the History of Philosophy, 22(2): 322–42. doi:10.1080/09608788.2014.900607
- –––, 2017, “Nietzsche on the Health of the Soul”, Inquiry 60(1–2): 135–164.
- –––, 2019, Nietzsche on the Decadence and Flourishing of Culture, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2021, “Ressentiment”, Ethics, 131: 670–96.
- –––, forthcoming a, “Affirmation, Admirable Overvaluation, and the Eternal Recurrence”, in Daniel Came (ed.), Nietzsche on Morality and Affirmation, Oxford: Oxford University Press.
- Huenemann, Charlie, 2013, “Nietzsche’s Illness”, in Gemes and Richardson 2013: 63–80. doi:10.1093/oxfordhb/9780199534647.013.0004
- Hunt, Lester, 1991, Nietzsche and the Origin of Virtue, London: Taylor and Francis.
- Hussain, Nadeem J.Z, 2004, “Nietzsche’s Positivism”, European Journal of Philosophy, 12(3): 326–68. doi:10.1111/j.0966-8373.2004.00213.x
- –––, 2007, “Honest Illusion: Valuing for Nietzsche’s Free Spirits”, in Leiter and Sinhababu 2007: 157–91.
- –––, 2011, “The Role of Life in the Genealogy”, in May 2011: 142–69. doi:10.1017/CBO9781139014977.009
- –––, 2013, “Nietzsche’s Metaethical Stance”, in Gemes and Richardson 2013: 389–414. doi:10.1093/oxfordhb/9780199534647.013.0018
- Janaway, Christopher, 1997, “Nietzsche’s Illustration of the Art of Exegesis”, European Journal of Philosophy, 5(3): 251–68. doi:10.1111/1468-0378.00039
- ––– (ed.), 1998, Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2007, Beyond Selflessness: Reading Nietzsche’s Genealogy, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199279692.001.0001
- –––, 2009, “Autonomy, Affect, and the Self in Nietzsche’s Project of Genealogy”, in Gemes and May 2009: 51–68. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0003
- –––, 2017a, “Attitudes to Suffering: Parfit and Nietzsche”, Inquiry, 60(1–2): 66–95. doi: 10.1080/0020174X.2016.1251165
- –––, 2017b, “On the Very Idea of ‘Justifying Suffering’”, The Journal of Nietzsche Studies, 48(20: 152–70. doi: 10.5325/jnietstud.48.2.1052
- Janaway, Christopher and Simon Robertson (eds.), 2012, Nietzsche, Naturalism, and Normativity, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199583676.001.0001
- Jaspers, Karl, [1936] 1965, Nietzsche: an Introduction to the Understanding of his Philosophical Activity, Charles Wallraff and Frederick Schmitz (trans.), Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Jenkins, Scott, 2018, “Ressentiment, Imaginary Revenge, and the Slave Revolt”, Philosophy and Phenomenological Research, 96(1): 192–213. doi:10.1111/phpr.12309
- Katsafanas, Paul, 2011a, “Deriving Ethics from Action: a Nietzschean Version of Constitutivism”, Philosophy and Phenomenological Research, 83(3): 620–60. doi:10.1111/j.1933-1592.2010.00440.x
- –––, 2011b, “The Concept of Unified Agency in Nietzsche, Plato, and Schiller”, Journal of the History of Philosophy, 49(1): 87–113.
- –––, 2012, “Nietzsche on Agency and Self-Ignorance”, Journal of Nietzsche Studies, 43(1): 5–17.
- –––, 2013, “Nietzsche’s Philosophical Psychology”, in Richardson and Gemes 2013: 727–55.
- –––, 2014, “Nietzsche and Kant on the Will: Two Models of Reflective Agency”, Philosophy and Phenomenological Research, 89(1): 185–216. doi:10.1111/j.1933-1592.2012.00623.x
- –––, 2015, “Fugitive Pleasure and the Meaningful Life: Nietzsche on Nihilism and Higher Values”, Journal of the American Philosophical Association, 1(3): 396–416. doi: 10.1017/apa.2015.5
- –––, 2016, The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198737100.001.0001
- ––– (ed.), 2018, The Nietzschean Mind, London: Routledge.
- –––, 2019, “Fanaticism and Sacred Values”, Philosophers’ Imprint, 19(17): 1–20.
- Kaufmann, Walter, 1950, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, 1st edition, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- –––, 1954, The Portable Nietzsche, New York: Viking.
- –––, [1950] 1974, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, 4th edition, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kaulbach, Friedrich, 1980, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, Köln: Böhlau.
- –––, 1990, Philosophie des Perspektivismus, Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Kofman, Sarah, [1983] 1993, Nietzsche and Metaphor, Duncan Large (trans.), Stanford, CA: Stanford University Press.
- Korsgaard, Christine, 1996, The Sources of Normativity, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511554476
- Kundera, Milan, 1991, Immortality, Peter Kussi (trans.), New York: Harper Collins.
- Landy, Joshua, 2002, “Nietzsche, Proust, and Will to Ignorance”, Philosophy and Literature, 26(1): 1–23. doi:10.1353/phl.2002.0015
- –––, 2012, How to Do Things with Fictions, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195188561.001.0001
- Landy, Joshua and Michael Saler (eds.), 2009, The Re-Enchantment of the World: Secular Magic in a Rational Age, Stanford, CA: Stanford University Press.
- Leiter, Brian, 1998, “The Paradox of Fatalism and Self-Creation in Nietzsche”, in Janaway 1998: 217–57.
- –––, 2002, Nietzsche on Morality, London: Routledge.
- –––, 2004, “The Hermeneutics of Suspicion: Recovering Marx, Nietzsche, and Freud”, in Brian Leiter (ed.), The Future of Philosophy, Oxford: Oxford University Press, pp. 74–105.
- –––, 2007, “Nietzsche’s Theory of the Will”, Philosopher’s Imprint, 7(7): 1–15. Reprinted in Gemes and May 2009: 107–26. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0006 [Leiter 2007 available online]
- –––, 2014, “Moral Skepticism and Moral Disagreement in Nietzsche”, Oxford Studies in Metaethics, 9: 126–51. doi:10.1093/acprof:oso/9780198709299.003.0006
- –––, 2015, Nietzsche on Morality, second edition, London: Routledge.
- –––, 2019, Moral Psychology with Nietzsche, Oxford: Oxford University Press.
- Leiter, Brian and Joshua Knobe, 2007, “The Case for Nietzschean Moral Psychology”, in Leiter and Sinhababu 2007: 83–109.
- Leiter, Brian and Neil Sinhababu (eds.), 2007, Nietzsche and Morality, Oxford: Oxford University Press.
- Loeb, Paul, 2006, “Identity and Eternal Recurrence”, in Ansell-Pearson 2006: 171–88. doi:10.1002/9780470751374.ch10
- –––, 2013, “Eternal Recurrence”, in Gemes and Richardson 2013: 645–71. doi:10.1093/oxfordhb/9780199534647.013.0029
- –––, 2021, “Nietzsche’s Heraclitean Doctrine of the Eternal Recurrence of the Same”, Nietzsche-Studien, 50(1): 70–101.
- Löwith, Karl, [1935] 1997, Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same, J. Harvey Lomax (trans.), Berkeley, CA: University of California Press.
- Magnus, Bernd, 1978, Nietzsche’s Existential Imperative, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- May, Simon, 1999, Nietzsche’s Ethics and his War on “Morality”, Oxford: Oxford University Press.
- ––– (ed.), 2011, Nietzsche’s On the Genealogy of Morality: a Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139014977
- Meyer, Matthew, 2019, Nietzsche’s Free Spirit Works: a Dialectical Reading, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108564847
- Migotti, Mark, 1998, “Slave Morality, Socrates, and the Bushmen: a Reading of the First Essay of the Genealogy of Morals”, Philosophy and Phenomenological Research, 58(4): 745–79. doi:10.2307/2653721
- –––, 2013, “‘A Promise Made is a Debt Unpaid’: Nietzsche on the Morality of Commitment and the Commitments of Morality”, in Gemes and Richardson 2013: 509–24.
- Millgram, Elijah, 2007, “Who was Nietzsche’s Genealogist?” Philosophy and Phenomenological Research, 75(1): 92–110. doi:10.1111/j.1933-1592.2007.00061.x [Preprint available from the author]
- –––, 2020, “Who Wrote Nietzsche’s Autobiography?”, in J. Ulatowski and L. van Zyl, Virtue, Narrative, and Self, New York: Routledge: 185–213.
- Moles, Alistair, 1989, “Nietzsche’s Eternal Recurrence and Reimannian Cosmology”, International Studies in Philosophy, 21(2): 21–35. doi:10.5840/intstudphil198921265
- –––, 1990, Nietzsche’s Philosophy of Nature and Cosmology, New York: Peter Lang.
- Moore, Gregory, 2002, Nietzsche, Biology, and Metaphor, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511490637
- Müller-Lauter, Wolfgang, [1971] 1999, Nietzsche: his Philosophy of Contradictions and the Contradictions of his Philosophy, David Parent (trans.), Urbana, IL: University of Illinois Press.
- –––, 1999a, Über Werden under Wille zur Macht: Nietzsche-Interpretationen I, Berlin: W. de Gruyter.
- –––, 1999b, Über Freiheit und Chaos: Nietzsche-Interpretationen II, Berlin: Walter de Gruyter.
- Nehamas, Alexander, 1980, “The Eternal Recurrence”, The Philosophical Review, 89(3): 331–56. doi:10.2307/2184393
- –––, 1983, “‘How One Becomes What One Is’”, The Philosophical Review, 92(3): 385–417. doi:10.2307/2184481
- –––, 1985, Nietzsche: Life as Literature, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- –––, 1988, “Who are ‘The Philosophers of the Future’?: a Reading of Beyond Good and Evil”, in Solomon and Higgins 1988: 46–67.
- –––, 1998, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, Berkeley, CA: University of California Press.
- –––, 1999, “Nietzsche and ‘Hitler’”, Southern Journal of Philosophy, 37(S1): 1–17. doi:10.1111/j.2041-6962.1999.tb01790.x
- –––, 2015, “Did Nietzsche Hold a ‘Falsification Thesis’?” Philosophical Inquiry, 39(1): 222–36. doi:10.5840/philinquiry201539116
- –––, 2017, “Nietzsche on Truth and the Value of Falsehood”, The Journal of Nietzsche Studies, 48(3): 319–46.
- –––, 2018, “Perspectivism and Falsification: a Reply to Maudemarie Clark”, The Journal of Nietzsche Studies, 49(2): 214–20.
- Nussbaum, Martha, 1994, “Pity and Mercy: Nietzsche’s Stoicism”, in Schacht 1994: 139–67.
- Owen, David, 1995, Nietzsche, Politics, and Modernity: a Critique of Liberal Reason, London: Sage.
- –––, 2002, “Equality, Democracy, and Self-Respect: Nietzsche’s Agonistic Perfectionism”, Journal of Nietzsche Studies, 24: 113–31. doi:10.1353/nie.2002.0014
- –––, 2003, “Nietzsche’s Re-evaluation and the Turn to Genealogy”, European Journal of Philosophy, 11(3): 249–72. doi:10.1111/1468-0378.00186
- –––, 2007, Nietzsche’s Genealogy of Morality, Montreal: McGill University Press.
- Pippin, Robert B., 1983, “Nietzsche and the Origin of the Idea of Modernism”, Inquiry, 26(2): 151–80. doi:10.1080/00201748308601991
- –––, 1997, Idealism as Modernism: Hegelian Variations, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139172943
- –––, 1999, Modernism as a Philosophical Problem: On the Dissatisfactions of European High Culture, 2nd ed., Oxford: Blackwell.
- –––, 2001, “Morality as Psychology, Psychology as Morality: Nietzsche, Eros, and Clumsy Lovers”, in Schacht 2001: 79–99. doi:10.1017/CBO9780511570636.008
- –––, 2009, “How to Overcome Oneself: Nietzsche on Freedom”, in Gemes and May 2009: 69–88. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0004
- –––, 2010, Nietzsche, Psychology, and First Philosophy, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- –––, 2015, Interanimations: Receiving Modern German Philosophy, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Poellner, Peter, 1995, Nietzsche and Metaphysics, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0198250630.001.0001
- –––, 2009, “Nietzschean Freedom”, in Gemes and May 2009: 151–80. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0008
- –––, 2011, “Ressentiment and Morality”, in May 2011: 120–41. doi:10.1017/CBO9781139014977.008
- Prideaux, Sue, 2018, I am Dynamite! a Life of Nietzsche, New York: Tim Duggan Books.
- Railton, Peter, 2012, “Nietzsche’s Normative Theory? The Art and Skill of Living Well”, in Janaway and Robertson 2012: 20–51. doi:10.1093/acprof:oso/9780199583676.003.0002
- Reginster, Bernard, 1997, “Nietzsche on Ressentiment and Valuation”, Philosophy and Phenomenological Research, 57(2): 281–305. doi:10.2307/2953719
- –––, 2000, “Nietzsche’s ‘Revaluation’ of Altruism”, Nietzsche-Studien, 29(1): 199–219. doi:10.1515/9783110244472.199
- –––, 2003, “What is a Free Spirit? Nietzsche on Fanaticism”, Archiv für Geschichte der Philosophie, 85(1): 51–85. doi:10.1515/agph.2003.003
- –––, 2006, The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- –––, 2011, “The Genealogy of Guilt”, in May 2011: 56–77. doi:10.1017/CBO9781139014977.005
- –––, 2012, “Autonomy and the Self as the Basis of Morality”, in Allen W. Wood and Songsuk Susan Hahn (eds.), Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth Century, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CHO9780511975257.019
- –––, 2018a, “The Will to Power”, in Katsafanas 2018: 105–20.
- –––, 2018b, “What is the Structure of Genealogy of Morality II?”, Inquiry, 61(1): 1–20. doi: 10.1080/0020174X.2017.1371833
- –––, 2021, The Will to Nothingness: an Essay on Nietzsche’s On the Genealogy of Morality, Oxford: Oxford University Press.
- Richardson, John, 1996, Nietzsche’s System, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0195098463.001.0001
- –––, 2004, Nietzsche’s New Darwinism, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0195171039.001.0001
- –––, 2009, “Nietzsche’s Freedoms”, in Gemes and May 2009: 127–49. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0007
- –––, 2020, Nietzsche’s Values, Oxford: Oxford University Press.
- Ricoeur, Paul, [1965] 1970, Freud and Philosophy: an Essay on Interpretation, Denis Savage (trans.), New Haven, CT: Yale University Press.
- Ridley, Aaron, 1997, “Nietzsche’s Greatest Weight”, Journal of Nietzsche Studies, 14: 19–25.
- –––, 1998, Nietzsche’s Conscience: Six Character Studies from the “Genealogy”, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- –––, 2007a, Nietzsche on Art, London: Routledge.
- –––, 2007b, “Nietzsche on Art and Freedom”, European Journal of Philosophy, 15(2): 204–24. doi:10.1111/j.1468-0378.2007.00259.x
- –––, 2009, “Nietzsche’s Intentions: What the Sovereign Individual Promises”, in Gemes and May 2009: 181–96. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0009
- –––, 2016, “Nietzsche, Nature, Nurture”, European Journal of Philosophy, 25(1): 129–43. doi:10.1111/ejop.12190
- –––, 2018, The Deed is Everything: Nietzsche on Will and Action, Oxford: Oxford University Press.
- Riccardi, Mattia, 2011, “Nietzsche’s Sensualism”, European Journal of Philosophy, 21(2): 219–57. doi:10.1111/j.1468-0378.2010.00440.x
- –––, 2018, “A Tale of Two Selves: Nietzsche and the Contemporary Debates on the Self”, in Katsafanas 2018: 186–200.
- –––, 2021, Nietzsche’s Philosophical Psychology, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780198803287.001.0001
- Risse, Matthias, 2001, “The Second Treatise in the Genealogy of Morality: Nietzsche on the Origin of the Bad Conscience”, European Journal of Philosophy, 9(1): 55–81. doi:10.1111/1468-0378.00130
- –––, 2005, “On God and Guilt: a Reply to Aaron Ridley”, Journal of Nietzsche Studies, 29: 46–53. doi:10.1353/nie.2005.0009
- –––, 2007, “Nietzschean ‘Animal Psychology’ versus Kantian Ethics”, in Leiter and Sinhababu 2007: 53–82.
- –––, 2009, “The Eternal Recurrence: a Freudian Look at what Nietzsche Took to be his Greatest Insight”, in Gemes and May 2009: 223–45. doi:10.1093/acprof:oso/9780199231560.003.0011
- Remhof, Justin, 2018, Nietzsche’s Constructivism: a Metaphysics of Material Objects, London: Routledge.
- Rousseau, Jean-Jacques, [1762] 1979, Emile, or On Education, Allan Bloom (trans.), New York: Basic Books.
- Roux, Wilhelm, 1881, Der Kampf der Theile im Organismus, Leipzig: W. Engelmann.
- Rutherford, Donald, 2011, “Freedom as a Philosophical Ideal: Nietzsche and his Antecedents”, Inquiry, 54(5): 512–40. doi:10.1080/0020174X.2011.608885
- –––, 2018, “Nietzsche and the Self”, in Katsafanas 2018: 201–17.
- Safranski, Rüdiger, 2003, Nietzsche: a Philosophical Biography, Shelley Frisch (trans.), New York: Norton.
- Salomé, Lou, [1894] 2001, Nietzsche, S. Mandel (trans.), Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Schacht. Richard, 1983, Nietzsche, London: Routledge.
- –––, 1984, “Nietzsche on Philosophy, Interpretation, and Truth”, Noûs, 18(1): 75–85. doi:10.2307/2215025
- ––– (ed.), 1994, Nietzsche, Genealogy, Morality: Essays on Nietzsche’s Genealogy of Morals, Berkeley, CA: University of California Press.
- –––, 1995, Making Sense of Nietzsche: Reflections Timely and Untimely, Urbana, IL: University of Illinois Press.
- ––– (ed.), 2001, Nietzsche’s Postmoralism: Essays on Nietzsche’s Prelude to Philosophy’s Future, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511570636
- –––, 2006, “Nietzsche and Individuality”, International Studies in Philosophy, 38(3): 131–51. doi:10.5840/intstudphil200638333
- –––, 2012, “Nietzsche’s Naturalism”, Journal of Nietzsche Studies, 43(2): 185–212.
- Schopenhauer, Arthur, 2014, Parerga and Paralipomena, Vol. I, Sabine Roehr and Christopher Janaway (trans.), Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, Tamsin, 2007, Nietzsche’s Political Skepticism, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Silk, Alex, 2015, “Nietzschean Constructivism: Ethics and Metaethics for All and None”, Inquiry, 58(3): 244–80. doi:10.1080/0020174X.2013.878866
- –––, 2018, “Nietzsche and Contemporary Metaethics”, in Katsafanas 2018: 247–63.
- Simmel, Georg, [1907] 1920, Schopenhauer und Nietzsche: ein Vortragszyklus, München: Duncker & Humblot.
- Simmons, Alison, 2001, “Changing the Cartesian Mind: Leibniz on Sensation, Representation, and Consciousness”, The Philosophical Review, 110(1): 31–75.
- Small, Robin, 2005, Nietzsche and Rée: a Star Friendship, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0199278075.001.0001
- Snelson, Avery, 2017, “The History, Origin, and Meaning of Nietzsche’s Slave Revolt in Morality”, Inquiry, 60(1–2): 1–30. doi:10.1080/0020174X.2016.1251167
- –––, 2019, “Nietzsche on the Origin of Conscience and Obligation”, The Journal of Nietzsche Studies, 50(2): 310–31.
- Soll, Ivan, 1973, “Reflections on Recurrence: a Re-Examination of Nietzsche’s Doctrine, die Ewige Wiederkehr des Gleichens”, in Solomon 1973: 322–42.
- –––, 1998, “Schopenhauer, Nietzsche, and the Redemption of Life through Art”, in Janaway 1998: 79–105.
- –––, 2001, “Nietzsche on the Illusion of Everyday Experience”, in Schacht 2001: 7–33. doi:10.1017/CBO9780511570636.004
- –––, 2015, “Nietzsche Disempowered: Reading the Will to Power out of Nietzsche’s Philosophy”, Journal of Nietzsche Studies, 46(3): 425–50.
- Solomon, Robert (ed.), 1973, Nietzsche: a Collection of Critical Essays, New York: Anchor.
- –––, 2003, Living with Nietzsche: What the Great “Immoralist” has to Teach Us, Oxford: Oxford University Press.
- Solomon, Robert and Kathleen Higgins (eds.), 1988, Reading Nietzsche, Oxford: Oxford University Press.
- Stoll, Timothy, 2019, “Nietzsche and Schiller on Aesthetic Semblance”, The Monist, 102: 331–48. doi:10.1093/monist/onz013
- Strong, Tracy, [1975] 2000, Friedrich Nietzsche and the Politics of Transfiguration, Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Teichmüller, Gustav, 1882, Die wirkliche und die scheinbare Welt: neue Grundlegung der Metaphysik, Breslau: W. Koebner.
- Thiele, Leslie Paul, 1990, Friedrich Nietzsche and the Politics of the Soul: a Study of Heroic Individualism, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Thomas, Douglas, 1999, Reading Nietzsche Rhetorically, New York: Guilford Press.
- Velleman, J. David, 2000, The Possibility of Practical Reason, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2006, Self to Self, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511498862
- Wallace, R. Jay, 2007, “Ressentiment, Value, and Self-Vindication: Making Sense of Nietzsche’s Slave Revolt”, in Leiter and Sinhababu 2007: 110–37.
- Welshon, Rex, 2004, The Philosophy of Nietzsche, Montreal: McGill University Press.
- Wicks, Robert, 1993, “The Eternal Recurrence: Nietzsche’s Ideology of the Lion”, Southern Journal of Philosophy, 31(1): 97–118. doi:10.1111/j.2041-6962.1993.tb00671.x
- Wilcox, John, 1997, “What Aphorism does Nietzsche Explicate in Genealogy of Morals, Essay III?” Journal of the History of Philosophy, 35(4): 593–610. doi:10.1353/hph.1997.0065
- Williams, Bernard, 1973, “The Makropulos Case”, in Problems of the Self: Philosophical Papers 1956–1972, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 82–100. doi:10.1017/CBO9780511621253.008
- –––, 1993a, “Nietzsche’s Minimalist Moral Psychology”, European Journal of Philosophy, 1(1): 4–14. doi:10.1111/j.1468-0378.1993.tb00021.x
- –––, 1993b, Shame and Necessity, Berkeley, CA: University of California Press.
- –––, 2001, “Introduction”, in Nietzsche, The Gay Science, J. Nauckhoff (trans.), Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted in Williams 2006a: 311–24.
- –––, 2006a, The Sense of the Past, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- –––, 2006b, “There are many kinds of eyes”, in Williams 2006a: 325–30.
- –––, 2006c, “Unbearable Suffering”, in Williams 2006a: 331–7.
- –––, 2006d, “The Women of Trachis: Fictions, Pessimism, Ethics”, in Williams 2006a: 49–59.
- Yalom, Irvin, 1992, When Nietzsche Wept, New York: Basic Books.
- Young, Julian, 1992, Nietzsche’s Philosophy of Art, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511586316
- –––, 2003, The Death of God and the Meaning of Life, London: Routledge.
- –––, 2006, Nietzsche’s Philosophy of Religion, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511584411
- –––, 2010, Friedrich Nietzsche: a Philosophical Biography, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139107013
- ––– (ed.), 2015, Individual and Community in Nietzsche’s Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107279254
Academic Tools
- How to cite this entry.
- Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
- Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
- Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.
Other Internet Resources
- Millgram, Elijah, unpublished ms, “Who Wrote Nietzsche’s Autobiography?”, dated 4 October 2021.
- Nietzsche Circle
- North American Nietzsche Society
- Journal of Nietzsche Studies
- Nietzsche Haus in Naumburg (Germany)
- Nietzsche Haus in Sils-Maria (Switzerland)
- Society for Phenomenology and Existential Philosophy
- Nietzsche Source—Digital Versions of Nietzsche’s Complete Works
- Nietzsche Quotes
- International Society For Nietzsche Studies
Related Entries
evil: concept of | existentialism | Lange, Friedrich Albert | Nietzsche, Friedrich: life and works | Nietzsche, Friedrich: moral and political philosophy | relativism | Schopenhauer, Arthur
Acknowledgments
I am grateful to Rachel Cristy for exchanges that helped me work out basic ideas for the structure and contents of this entry. Joshua Landy, Andrew Huddleston, Christopher Janaway, and Elijah Millgram provided helpful feedback on a late draft, and each saved me from several errors.
Este artigo foi publicado originalmente no site Plato Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/
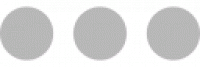


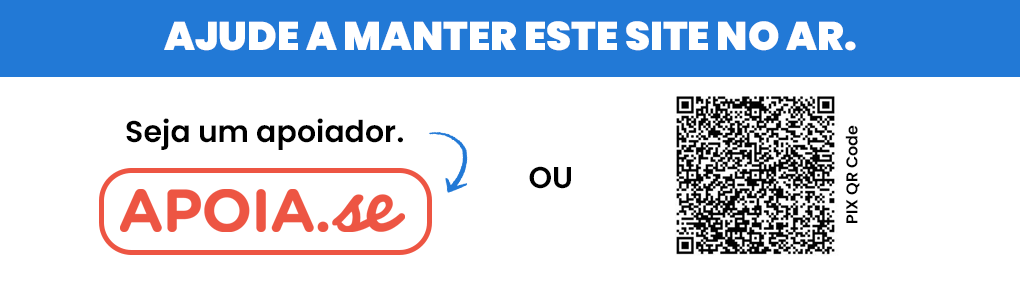










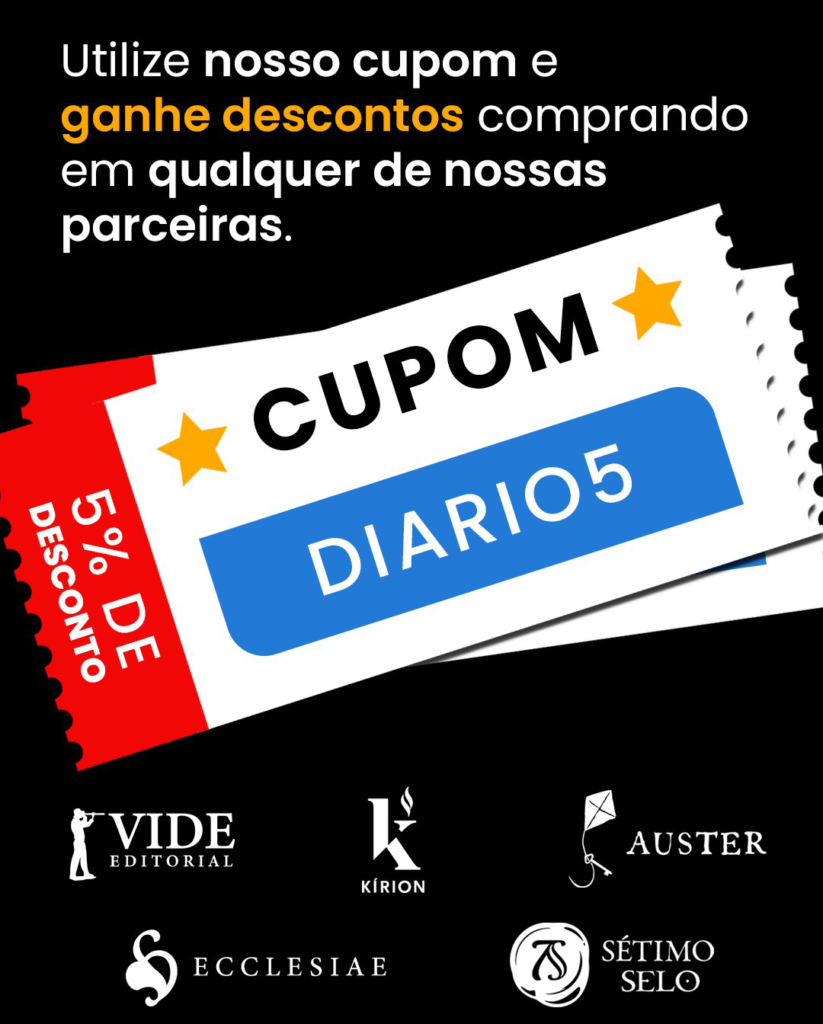



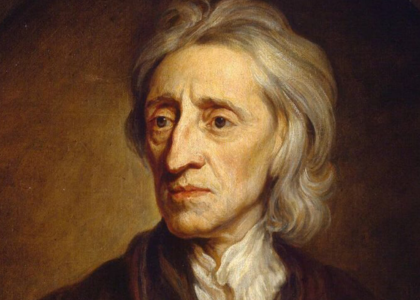
Sou a Rafaela Barbosa, achei seu artigo excelente! Ele
contém um conteúdo extremamente valioso. Parabéns
pelo trabalho incrível! Nota 10.