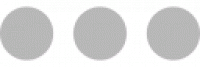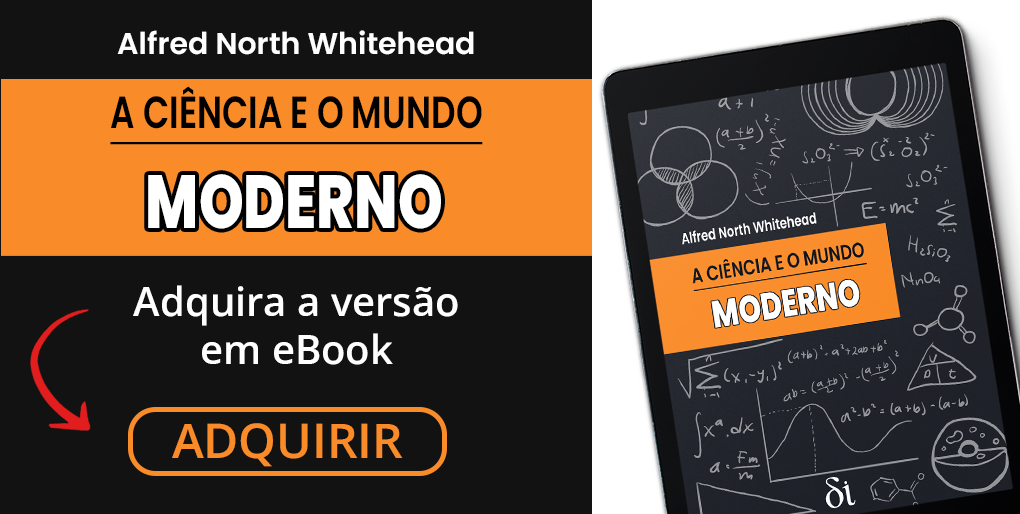“Que é que você quer com a Literatura?” foi escrito por Michael Amorim.
Uma das maiores e mais perniciosas mentiras que já ouvi sendo divulgada entre os ditos leitores é a de que um livro é uma viagem, uma fuga do mundo em torno, que a leitura serve para nos desligar da realidade, que nos fecha em nosso pensamento ou coisas semelhantes. Mas isso, é claro, é apenas mais um traço da personalidade do que pode-se chamar de leitor pop, aquele sujeito que cheira livros novos e adora exibir seus exemplares de Harry Potter. Não há nada de mais falso do que dizer que a leitura é uma forma de negar a ordem externa refugiando-se na ordem mental.
Indubitavelmente essas falsas noções do que é ser um leitor leva muitos ao cárcere auto-imposto, a renegar a vida para serem “homens de livros”; não sabendo que as magníficas expressões literárias são frutos de dramas humanos, saídos da pena de quem soube melhor retratar as emoções humanas justamente por encarar o mundo em vez de fugir dele. Dizia Otto Maria Carpeaux sobre José Lins do Rêgo:
Ele é mais um homem da terra que dos livros, é homem da comida boa e farta, das meninas bonitas, do futebol, e do povo […] A obra de José Lins do Rêgo é mais, muito mais do que um documento sociológico; é qualquer coisa de vivo, porque o seu criador lhe deu o próprio sangue, encheu-a dos seus gracejos e tristezas, risos e lágrimas, conversas, doenças, barulhos, disparates, e da sua grande sabedoria literária. Deu-lhe o hábito da vida.
Num texto de Lins do Rêgo — retirado da Breve notícia-vida de José Lins do Rêgo, texto de Wilson Lousada, publicado na 11° Edição de Fogo Morto, pela editora José Olympio — sobre si próprio, ele diz, categoricamente: “Afinal de contas, sou um homem como os outros. E que Deus queira que assim continue”.
Não devemos ir às obras de ficção para sair deste mundo, pelo contrário, devemos ler para recuperar o elo com a realidade, outrora perdido, para estarmos cada vez mais com os pés firmes no chão (embora com a cabeça nas nuvens) e conscientes da situação em torno, cientes de nossas circunstâncias, para usar um termo muito caro à Ortega y Gasset, filósofo espanhol. Hugo de São Vitor, no clássico medieval Didascalicon, dizia que devemos usar a leitura para integrar-nos à Ordem. Existe uma ordem natural e cósmica, externa ao indivíduo, que deve ser absorvida pelo aluno. Não se trata de sair do mundo, mas, antes, de adentrar nele. Desconfiar do mundo que criamos em nossa mente, com nossos pensamentos, e compreender o mundo que se apresenta diante de nossos olhos: tão real quanto a luz do sol ou o calor do fogo que vêm de fora para aquecer nossos corpos e iluminar as trevas de nossa ignorância. Northrop Frye, crítico literário canadense, nos lembra, citando Wallace Stevens, que o motivo da metáfora é um desejo de associar, e por fim de identificar, a mente humana com o que ocorre fora dela. Fora, não dentro. Em seu clássico A Vida Intelectual, A.D. Sertillanges escreve que:
“A riqueza infinita do real tem também muito a nos instruir; é preciso frequentá-la com espírito contemplativo, porém não desertá-la”.
As personagens da literatura expressam muito mais que um mero devaneio: são modelos de vidas possíveis inspiradas em situações verossímeis. Modelos que, ao serem internalizados pelo leitor, servem de bússola ou guia durante a epopéia de sua vida. De modo que, ao esquecer de quem nós somos, podemos encontrar nos clássicos um espelho empoeirado no qual, ao passarmos a mão, reconhecemos o reflexo distorcido e abandonado que costumávamos chamar de “eu”. Eis aí o arcabouço de toda a literatura: a perda e a reconquista da identidade. O poeta, se não tem por função retratar coisas reais, tampouco tem a ocupação de retratar coisas irreais. É função do historiador fazer lembrar dos fatos passados, ocorridos no mundo real, e função dos oráculos e profetas alertar-nos do futuro, do que ainda vai acontecer. O dever do poeta, por outro lado, é retratar aquilo que se dá sempre ou, para usar um termo aristotélico, o universal. Não vamos a Macbeth como quem está empreendendo um estudo sobre a Escócia, mas para conhecer as sutilezas, temores e complexidades de um homem que conquista um reino às custas de sua alma. Foi exatamente isso que George Steiner quis dizer quando afirmou, em seu maravilhoso ensaio O Leitor Incomum, que:
“O tempo passa, mas o livro permanece”.
Uma verdade já declarada por Goethe:
“Ah! Deus! Como a Arte é longa, e tão breve é a vida!”.
Esta é a espantosa revelação proclamada por Píndaro:
“Quando a cidade que eu canto já não mais existir, quando os homens para quem eu canto já houverem desaparecido no esquecimento, minhas palavras ainda perdurarão”.
E é isso que torna as obras da literatura tão úteis para o teatro da vida. Há nelas sempre um traço, ou arquétipo, da vida humana semelhante ou correspondente às situações reais à nossa volta. Podemos dizer que o literato transforma os objetos do mundo real em símbolos. Northrop Frye, em seu clássico A Imaginação Educada, acertadamente diz que “O escritor não é um observador, nem um sonhador. A literatura não reflete a vida, mas também não escapa ou se retira dela: engole-a”. O certo é que, sem extrair de um livro a ampla gama de experiências acumuladas da qual surgiram as personagens, é impossível tornar-se um bom leitor. Cercar-se de livros e ignorar que eles nos dão testemunho dos fatos concretos que se desenrolam no mundo em torno é como querer construir uma casa a partir do telhado. É necessário lembrar, cada vez mais, que o caráter se aperfeiçoa na agitação do mundo, como insistia o professor Olavo de Carvalho citando Goethe.
O escritor cubano Guillermo Cabrera Infante em seu Uma história do conto traça um amplo percurso do gênero literário mais antigo e versátil, que tem início com as primeiras epopéias, passa pelas “Mil e Uma Noites” e, no século XIX, por autores como Machado de Assis e Tchecov, até chegar, no século XX, a Guimarães Rosa e Borges. Logo no início do texto diz ele que “o conto é tão antigo quanto o homem”. Essa afirmação, muito mais que apelo poético, traz consigo algo de profundo e verdadeiro. Uma antiga máxima pitagórica dizia que os semelhantes só podem ser compreendidos pelos semelhantes; de fato: se a alma humana não fosse composta das mesmas potências que as das personagens da literatura, de modo nenhum poderia compreendê-las. Quem nunca esbarrou com um Lara Ribas por aí, sujeito que acha que, por ter inclinações à vida intelectual, não tem obrigações com o sustento da família? Quem não conheceu algum pobre diabo que tenha casado com alguma Emma Bovary, esposa que vive de aventuras amorosas fora do matrimônio? Quem não já gastou quinze meses e onze contos de réis com alguma Marcela, mulher bonita e interesseira, personagem de Machado de Assis? Quem não consegue imaginar-se nos braços de Saraminda fazendo todas as suas vontades e cedendo às suas exigências malucas — “me beija, Bonfim…”? Ou ainda, quem não reconhece em Ivan Ilitch, personagem de Tolstoi, um sujeito infeliz, frustrado e totalmente dominado por suas circunstâncias, incapaz de controlá-las? Ou em Heitor, príncipe de Tróia, um arquétipo de herói, viril, corajoso e justo, ainda que inalcançável para muitos? Todas essas personagens são familiares por serem universais, por representarem não apenas gregos, russos e brasileiros, mas o homem. A alma do homem, marcada pela semelhança com todas as coisas, é todas as coisas, não integral, mas virtualmente, ou seja, o leitor não apenas se identifica com as personagens, mas é virtualmente todas as personagens da literatura, pois as contém potencialmente. Aqui se entende que a mente possui a forma, no sentido aristotélico, de todas as personagens da literatura, mas não as próprias personagens, obviamente. Essas formas estão em potência em cada alma humana. Compreender isso é compreender que as personagens da literatura não são medíocres, confundidas com quaisquer outras pessoas conhecidas, um bando de Zé das Quintas, sem personalidade ou originalidade. No clássico Meditações do Quixote, de José Ortega y Gasset, há trechos magníficos sobre a individualidade das personagens da literatura clássica. Às vezes, por criarmos um raciocínio baseado numa interpretação exagerada do fato de que elas são “modelos de vidas possíveis”, acabamos por ignorar o fato de que são também inconfundíveis; de que têm algo que as torna únicas, incomparáveis e, portanto, nem um pouco medíocres.
Nas palavras de Ortega:
“As figuras épicas não são representantes de tipos, e sim criaturas únicas. Existiu um só Aquiles e só uma Helena; houve só uma guerra à margem do Escamadro. Se na distraída mulher de Menelau acreditássemos ver uma moça qualquer, solicitada por amores inimigos, Homero teria fracassado. Porque sua missão era muito circunscrita — não livre como a de Ghiberti ou Flaubert –, ele há de nos fazer ver ESTA Helena e ESTE Aquiles [ênfase minha], os quais porventura não se parecem com os humanos que costumamos encontrar pela rua (Meditações do Quixote, pág. 118)”.
O ser “criaturas únicas” é o que podemos chamar de autenticidade. É o que faz com que as personagens sobrevivam muito tempo depois da morte de seu criador e mesmo centenas de anos após o fim da civilização que lhes criou. Goethe compreendia perfeitamente essa verdade quando escreveu que “O efêmero reluz, seu brilho é passageiro. O autêntico perdura, eterno, verdadeiro”. Citando George Steiner: “A vida do leitor mede-se em horas; a do livro, em milênios”. Não deixa de ser curioso o fato de que o meio de expressão mais frágil, palavras escritas num papel, sobrevivem às eras. Conta-se que Flaubert, em seu leito de morte, lamentou o fato de estar morrendo como um cachorro de rua enquanto a “prostituta” Emma Bovary, fruto de sua pena, continuaria a viver.
Em suma, literatura é bem mais que passatempo ou distração; não se trata de um mundo radicalmente diferente do nosso com vidas radicalmente diferentes da nossa; é, antes, um mundo possível com vidas que não são as nossas mas que poderiam ter sido. Situações que poderíamos ter passado, decisões que poderíamos ter tomado e erros que poderíamos ter cometido. São essas situações, reais ou possíveis, que formam nosso imaginário e moldam nosso caráter. Ler é, antes de tudo, estabelecer uma relação de reciprocidade para com o livro. É estar preparado para um “intercurso”, como diria Geoffrey Hill. O bom leitor dialoga com o livro, e em todo diálogo existe uma relação de troca, de recebermos, mas também de ofertarmos. Não por acaso, Platão optou por expressar sua filosofia em forma de diálogos. Dar e receber, numa relação dialética de onde se pode parir as idéias, é a base da maiêutica socrática. O bom livro jamais deixará seu leitor passivo, pois a leitura bem feita é uma via de mão dupla: o leitor lê o livro ao mesmo tempo que é lido por ele. Quem não estiver preparado para retirar de um livro consequências reais para sua vida, não deveria ler um clássico. Ler é assumir responsabilidade pelo que se lê. Sem isso não somos mais que plagiários de orangotangos, incapazes de olhar para a relva e ver-se perdido como Robinson Crusoé; de imaginar-se, ao ser traído por um amigo, como Edmond Dantès traído por Fernand; de reconhecer as profundezas de uma mente inteiramente e verdadeiramente má como a do Conde Drácula de Bram Stoker. Quem não leu Shakespeare dificilmente saberá reconhecer as sutilezas demoníacas do ciúme, ciúme que levou Otelo, o mouro de Veneza, a tirar a vida da inocente, doce e apaixonada Desdêmona. Pode ser que a vida imite a arte, mas é certo que sem a arte não se saberá viver. As narrativas literárias são, por assim dizer, verdadeiros mapas para quem dispõe de uma única vida e tempo demasiado limitado para viver toda a gama de situações. Viver é sentir-se perdido, diria Ortega y Gasset, mas aquele que renegar o mapa estará um tanto mais perdido.
Escreveu Eugen Rosenstock:
“[…] há em nós uma mudez que espera tornar-se linguagem”.
A cura para essa mudez não pode estar em outro lugar que não nos clássicos da literatura. Os literatos são como guias ou faróis que iluminam o caminho. São capazes de expressar o que sentimos, mas não sabemos dizer. E o fazem em diferentes estilos, sob diferentes formas e gêneros literários. Seja nas peças de Shakespeare, nos contos das Mil e Uma Noites ou nos romances de Dostoiévski, o literato põe na pena toda a gama de possíveis situações humanas. Certa vez, tive o desprazer de ouvir da boca de um estudante de letras que a literatura não precisa falar à alma humana. Ora, se não fala à alma do homem, fala a quem? Ainda poderá servir para algo quando tudo que tem a oferecer são explorações banais de ideologias, situações artificiais e personagens nada verossímeis, estranhos ao nosso cotidiano e vazios de dramas humanos universais? Uma literatura que não reflete modelos de vida perdeu a razão de ser. Tornou-se panfletagem, retórica vazia, ou mero passatempo.
Os clássicos da literatura são clássicos justamente por narrar ao leitor algo mais que doutrinação — doutrinar, e aqui não uso o termo de forma pejorativa, é papel da religião —, que fugas mentais da realidade, que sensações afloradas e emoções fortes: eles expressam situações humanas universais, capazes de serem reconhecidas por quem os lê e de elevarem a condição do leitor no momento mesmo da leitura. O leitor não vai a um clássico apenas para entreter-se com alguma história boba, não vai para aprender mais sobre seu país, entender os fatos da história e da sociedade e de sua cultura, vai, antes, para compreender a si mesmo, para tentar responder a pergunta crucial: “que é o homem?”.
O grande escritor inglês, G.K. Chesterton, escreveu sobre Shakespeare este magnífico parágrafo que servirá bem para a compreensão do que está sendo exposto aqui:
“Shakespeare conhecia então todo o tipo de modos de estar: podia exaltar um republicano em Plutarco ou um rei medieval, um pagão misantropo a amaldiçoar o mundo ou um franciscano alegre a reunir dois amantes, um deus dos oráculos gregos ou um duende dos bosques ingleses, um tolo alegre ou um intelectual louco — tudo sem os colocar em contraposição, sem pensar em qualquer conflito com a tradição, sem questionar se era clássico, modernista, tradicionalista, romântico, branco ou negro.”
Quando se lê dessa forma, Aquiles deixa de ser um personagem fictício e distante, existente só em nossas mentes, e passa a ser um esquema interpretativo do próprio mundo em que vivemos e das próprias decisões que tomamos. Emma Bovary, incapaz de buscar nos livros esquemas de interpretação de sua vida, usou os que encontrou como incentivo para distanciar-se da vida de mulher casada. Em vez de completar-se pela leitura de romances, fragmentou-se ainda mais. Entregou-se a uma vida dupla onde tudo se tornou falso e caricatural. Não compreendeu que se deve buscar, nas personagens, modelos. Heitor, Ulisses, Enéias, Anna Karenina, Sherlock Holmes, Scrooge, Brás Cubas e tutti quanti são mais que fantasia, são esquemas, chaves de interpretação de dramas observados ou vivenciados. Nesse sentido, quanto mais distante da alma humana for a obra, mais descartável ela é.
As boas obras nos ensinam a separar o possível do impossível, o verossímil do absurdo, o banal do excepcional; preparam-nos para o mundo, põe-nos em contato com a maldade, frieza, inteligência, sutileza, sacrifício e amor humanos. Nos fazem aprender a viver, a ser, de fato, parte da humanidade. Por isso a ‘suspensão da descrença’. Um clássico é mais que entretenimento, é uma vida possível. É algo que você poderia ter feito, mas não fez.
Por isso é imprescindível que, na leitura, se viva na pele do personagem, mesmo os maus. É fato, até maus exemplos nos ensinam. Se um clássico vai além do entretenimento, também é mais que uma proposta moral. Assim sendo, uma leitura eivada de moralismo pode atrapalhar bastante a compreensão e, principalmente, a absorção da obra, que deve estar livre desse tipo de julgamento. O que interessa, nas obras de literatura, não é fazer julgamento das escolhas morais ou imorais dos personagens, mas aguçar, com elas, nossa percepção moral: expandir nosso imaginário e, assim, melhor julgar a nossa própria vida e ponderar nossas próprias escolhas. A literatura, sobretudo a poesia, deve ser tomada como expressão momentânea e possível de sentimentos e atitudes, não como propostas dogmáticas de moral e conduta. Lê-las assim é não saber ler. É confundir Hamlet com um código de filosofia moral. A função do discurso poético não é propor nada e sim abrir a imaginação para o reino do possível. Charles Plisnier escreveu, em seu Papiers D’un romancier, que:
“A missão do romancista não é só contar uma história, nem pintar costumes ou analisar caracteres, e sim revelar o interior do ser humano, ou seja: a lama e a santidade que existem no íntimo do homem; dar-lhe a consciência do sofrimento fraterno; interrogá-lo sobre os problemas da própria alma e inquiri-lo sobre si mesmo. Por esse caminho, ainda que o romancista seja imoral, ou pouco edificante, serve eles aos homens e a Deus”.
Obras da literatura não existem para serem condenadas ou absolvidas, pois, nos dois casos, há julgamento. Existem para serem absorvidas, integradas à personalidade. Devemos ir aos clássicos da literatura para maturar nossas posições, vencer nossos preconceitos, reconhecer o mal, amar o bem; para saber expor melhor nossos sentimentos, ver a complexidade da vida e, sobretudo, nos tornar humanos completos. O texto de Charles Plisnier citado algumas linhas acima figura, não por acaso, na folha de rosto do livro A Mulher Proibida, de Josué Montello, livro que narra a história do conflito interno de um pai de família viúvo que sente-se atraído por uma adolescente. A crise moral se agrava ainda mais ao sabermos tratar-se de sua filha adotiva – a verdadeira nasceu morta e foi substituída sem o conhecimento da mãe. Não trata-se de um dos melhores trabalhos do grande escritor maranhense, mas serve bem para mostrar que a condição humana é inexoravelmente tensão entre trevas e luz. Tensão já exposta nas Escrituras pelo Apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos que “Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero”.
Sem essa intrínseca contradição o homem é tudo, menos homem. Torna-se semelhante ao Dr. Jekyll, personagem de O Médico e o Monstro, que renega sua parte má. Na novela de Robert Louis Stevenson, o maligno Hyde nasce do desejo deturpado de Jekyll de separar o bem e o mal no ser humano, de extirpar em si tudo o que o leva a cometer maldades, de buscar uma existência terrena sem crises morais. Creio ser a estes que Nietzsche chama de Niilistas, homens que, em nome do céu, negam a terra; e acabam perdendo os dois. Esse “puritanismo intelectual”, que nega a condição humana, é uma praga que precisa ser erradicada. A quem vê a si próprio como sendo uma alma pura distante do “mal” falta humanidade e, por isso mesmo, caridade, pois a caridade só pode ser exercida para com o semelhante. Achar-se diferente e não semelhante é a sepultura da caridade. Ao cultivar a alma, não se deve esquecer que também tem-se corpo. “De tanto ser uma alma, acaba-se por deixar de ser um homem, diria Victor Hugo”. Não somos anjos, seres puramente intelectuais, e podemos, por isso mesmo, na complexidade do mundo, maturar nossas opiniões. Pretender isolar uma alma da espécie humana é torná-la individualista, seca e insuportavelmente metida a besta. Estão no mundo, mas não são do mundo, disse Nosso Senhor a seus discípulos. E esse “estar” no mundo é crucial.
Conflitos morais existem na literatura por existirem, antes, na alma humana. Volto a lembrar do que disse o escritor cubano Guillermo Cabrera Infante em sua História do Conto, “o conto é tão antigo quanto o homem”. Ele continua:
“Antes até que aquele anônimo artista de Altamira pintasse seus minuciosos murais, deve ter existido um autor anônimo na região que contasse contos para seus companheiros de caverna sentados em volta de uma fogueira. O homem, como sabemos, é o único animal que faz fogo. O contista é o único ser humano que faz contos. Esses contos seriam, por exemplo, narrações de um dia de caça perdido no encalço de um cervo branco com um chifre na testa. Os contos não perduraram nas paredes da caverna, mas não se perderam: foram reencontrados, contados, na memória coletiva”.
Um clássico tem a dupla missão de nos fazer conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. Era José Monir Nasser quem dizia que nós não explicamos os clássicos; eles é que nos explicam.
Sentar em volta da fogueira para ouvir sobre o mundo e suas aventuras – ou desventuras –, sair da prisão de nossos pensamentos, creio ser o principal convite que nos faz a literatura. Afinal, nascemos em duplas trevas: pecado e ignorância, a salvação para ambos vem de fora: da graça redentora do batismo e da leitura atenciosa dos clássicos. Leitura que ilumina como as chamas da fogueira que arde aquecendo aqueles que ouvem atenciosos as palavras do ancião. Palavras que trazem símbolos que refletem, ali mesmo, a humanidade. Ligando os ouvintes, antes isolados pelo tempo e pelo espaço, ao restante da raça humana de todos os tempos e lugares.
Pensei em terminar este ensaio comentando um trecho do texto “Poesia e Filosofia”, capítulo que saiu nos estudos reunidos “A Dialética Simbólica” (Vide Editorial, 2° edição, 2015), livro do filósofo Olavo de Carvalho, mas, dada a beleza e lucidez do parágrafo, seria um crime não adicioná-lo aqui na íntegra. Faço e despeço-me:
“O poeta, em suma, cria, através da força analogante das imagens e dos símbolos, uma área de experiência imaginativa comum, onde os indivíduos e mesmo as épocas podem se encontrar, vencendo no imaginário as barreiras que separam fisicamente suas respectivas vivências reais. Assim fazendo, ele não apenas se comunica, mas intercomunica os outros homens. Daí a missão curativa, mágica e apaziguadora, que faz da poesia um dos pilares em que se assenta a possibilidade mesma da civilização: ela liberta os homens da noite animal, do terror primitivo que isola e paralisa. Ela reúne os membros da tribo em torno do fogo aconchegante e os faz participar de um universo comum que transcende as barreiras dos corpos e do tempo. Ela apazigua, reanima e torna possível, aos que eram animais assustados, pensar e agir.”
P.S.: Por favor, não me perguntem pelas referências que esqueci.
Se esta publicação foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com