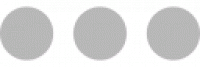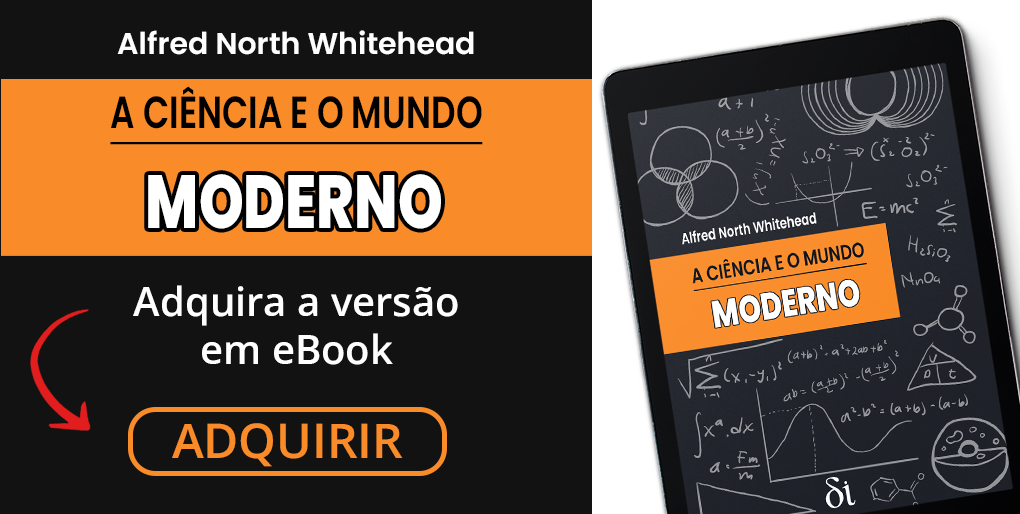“A Disposição para Acreditar”1 é um ensaio extraído da obra The Will to Believe and Others Essays in Popular Philosophy (1912), de William James.

Na recém-publicada Life (Vida) de Leslie Stephen sobre seu irmão, Fitz-James, há um relato sobre uma escola que ele frequentou quando era menino. O professor, um certo Sr. Guest, costumava conversar com seus alunos da seguinte maneira “Gurney, qual é a diferença entre justificação e santificação? Stephen, prove a onipotência de Deus!” etc. Em meio ao nosso livre-pensamento e indiferença de Harvard, somos propensos a imaginar que aqui, na boa e velha faculdade ortodoxa, as conversas continuam a ser um pouco dessa ordem; E para mostrar que nós, em Harvard, não perdemos todo o interesse nesses assuntos vitais, trouxe comigo esta noite algo parecido com um sermão sobre a justificação pela fé para ler para os senhores — quero dizer, um ensaio sobre a justificação da fé, uma defesa de nosso direito de adotar uma atitude de crença em assuntos religiosos, apesar do fato de que nosso intelecto meramente lógico possa não ter sido persuadido. “A disposição para acreditar”, portanto, é o título de meu artigo.
Há muito tempo defendo perante meus próprios alunos a legalidade da fé que é adotada voluntariamente; mas assim que eles se tornaram bem imbuídos do espírito lógico, eles, via de regra, se recusaram a admitir que minha argumentação fosse filosoficamente legal, mesmo que, de fato, eles próprios estivessem pessoalmente o tempo todo cheios de uma fé ou outra. Entretanto, estou tão profundamente convencido de que minha posição está correta que seu convite me pareceu uma boa ocasião para deixar minhas afirmações mais claras. Talvez suas mentes sejam mais abertas do que aquelas com as quais tive de lidar até agora. Serei o menos técnico possível, embora deva começar estabelecendo algumas distinções técnicas que nos ajudarão no final.
I.
Vamos dar o nome de hipótese a qualquer coisa que possa ser proposta à nossa crença; e assim como os eletricistas falam de fios vivos e mortos, vamos falar de qualquer hipótese como viva ou morta. Uma hipótese viva é aquela que apela como uma possibilidade real para aquele a quem é proposta. Se eu pedir que você acredite no Mahdi, essa noção não faz nenhuma conexão elétrica com sua natureza — ela se recusa a cintilar com qualquer credibilidade. Como hipótese, ela está completamente morta. Para um árabe, entretanto (mesmo que ele não seja um dos seguidores do Mahdi), a hipótese está entre as possibilidades da mente: ela está viva. Isso mostra que a morte e a vivacidade em uma hipótese não são propriedades intrínsecas, mas relações com o pensador individual. Elas são medidas por sua disposição de agir. O máximo de vivacidade em uma hipótese significa disposição para agir de forma irrevogável. Na prática, isso significa crença; mas há alguma tendência de crença sempre que há disposição para agir.
Em seguida, vamos chamar a decisão entre duas hipóteses de opção. As opções podem ser de vários tipos. Elas podem ser: 1, vivas ou mortas; 2, obrigatórias ou evitáveis; 3, importantes ou triviais; e, para nossos propósitos, podemos chamar uma opção de opção genuína quando ela for do tipo obrigatória, válida e importante.
1. Uma opção viva é aquela em que ambas as hipóteses são vivas. Se eu disser a você: “Seja teosofista ou maometano”, provavelmente essa é uma opção morta, porque para você é provável que nenhuma das hipóteses esteja viva. Porém, se eu disser: “Seja agnóstico ou cristão”, a situação é outra: instruído como você é, cada hipótese faz algum apelo, por menor que seja, à sua crença.
2. Em seguida, se eu disser a você: “Escolha entre sair com seu guarda-chuva ou sem ele”, eu não lhe ofereço uma opção genuína, pois ela não é obrigatória. Você pode evitá-la facilmente, não saindo de casa. Da mesma maneira, se eu disser: “Ou me ame ou me odeie”, “Ou chame minha teoria de verdadeira ou de falsa”, sua opção é evitável. Você pode permanecer indiferente a mim, sem me amar ou odiar, e pode se recusar a fazer qualquer julgamento sobre minha teoria. No entanto, se eu disser: “Aceite essa verdade ou ignore-a”, eu lhe imponho uma opção obrigatória, pois não há lugar fora da alternativa. Todo dilema baseado em uma disjunção lógica completa, sem possibilidade de não escolher, é uma opção desse tipo obrigatório.
3. Por fim, se eu fosse o Dr. Nansen e lhe propusesse participar da minha expedição ao Pólo Norte, sua opção seria importantíssima, pois essa provavelmente seria sua única grande oportunidade de fazê-lo e sua escolha agora poderia excluí-lo completamente das possibilidades imortais ligadas ao Polo Norte ou pelo menos poderia colocar em suas mãos a chance de ter essa oportunidade. Aquele que se recusa a aceitar uma oportunidade única perde o prêmio tão certamente quanto se tivesse tentado e falhado. Por outro lado, a opção é trivial quando a oportunidade não é única, quando a aposta é insignificante ou quando a decisão pode ser revertida se mais tarde se mostrar insensata. Essas opções triviais são abundantes na vida científica. Um químico acha uma hipótese viva o suficiente para passar um ano em sua verificação: ele acredita nela até esse ponto. Entretanto, se seus experimentos se mostrarem inconclusivos de alguma forma, ele será demitido pela perda de tempo, sem nenhum dano vital.
A discussão será facilitada se tivermos em mente todas essas distinções.
II.
A próxima questão a ser considerada é a psicologia efetiva da opinião humana. Quando observamos certos fatos, parece que nossa natureza passional e volitiva está na raiz de todas as nossas convicções. Quando olhamos para outros, parece que eles não podem fazer nada quando o intelecto já disse o que tinha a dizer. Vamos analisar primeiro esses últimos fatos.
Não parece absurdo falar que nossas opiniões podem ser modificadas à vontade? Nossa vontade pode ajudar ou atrapalhar nosso intelecto em suas percepções da verdade? Podemos, apenas por vontade própria, acreditar que a existência de Abraham Lincoln é um mito e que os retratos dele na McClure’s Magazine são todos de outra pessoa? Podemos, por qualquer esforço de nossa vontade, ou por qualquer força de desejo de que isso seja verdade, acreditar que estamos bem quando estamos de cama, urrando de reumatismo, ou ter certeza de que a soma das duas notas de um dólar em nosso bolso deve corresponder a cem dólares? Podemos dizer qualquer uma dessas coisas, mas somos absolutamente impotentes para acreditar nelas; e é exatamente dessas coisas que se compõe toda a estrutura das verdades em que acreditamos — matérias de fato, imediatas ou remotas, como disse Hume, e relações entre idéias, que estão lá ou não estão lá para nós, se as virmos assim, e que, se não estiverem lá, não podem ser colocadas lá por nenhuma ação nossa.
Nos Pensamentos de Pascal, há uma passagem célebre conhecida na literatura como a aposta de Pascal. Nela, ele tenta nos forçar a entrar no cristianismo raciocinando como se nossa preocupação com a verdade se assemelhasse à nossa preocupação com as apostas em um jogo de azar. Traduzidas livremente, suas palavras são estas: É preciso que você acredite ou não acredite que Deus existe — o que você fará? Sua razão humana é incapaz de responder. Há um jogo em andamento entre você e a natureza das coisas que, no dia do julgamento, resultará em um cara ou coroa. Pese quais seriam seus ganhos e suas perdas se você apostasse tudo o que tem em cara ou na existência de Deus: se você ganhar nesse caso, ganhará a bem-aventurança eterna; se perder, não perderá nada. Se houvesse uma infinidade de chances, e apenas uma para Deus nessa aposta, ainda assim você deveria apostar tudo o que tem em Deus; pois, embora você certamente arrisque uma perda finita com esse procedimento, qualquer perda finita é razoável, até mesmo uma perda certa é razoável, se houver apenas a possibilidade de um ganho infinito. Vá, então, pegue água benta e reze as missas; a crença virá e deixará seus escrúpulos estupefatos, — Cela vous fera croire et vous abêtira. Por que você não deveria fazer isso? No fundo, o que você tem a perder?
Você provavelmente sente que, quando a fé religiosa se expressa dessa maneira, na linguagem das mesas de jogo, ela é colocada em seus últimos trunfos. Certamente, a crença pessoal de Pascal em missas e água benta tinha outras origens; e essa página célebre dele é apenas um argumento para convencer os outros, uma última tentativa desesperada de usar uma arma contra a dureza do coração incrédulo. Sentimos que uma fé em missas e água benta adotada voluntariamente após esse cálculo mecânico careceria da alma interior da realidade da fé; e se nós mesmos estivéssemos no lugar da Deidade, provavelmente teríamos um prazer especial em separar os crentes com esse padrão de sua recompensa infinita. É evidente que, a menos que haja alguma tendência preexistente para acreditar em missas e água benta, a opção oferecida à vontade por Pascal não é uma opção viva. Certamente nenhum turco jamais acreditou em missas e água benta por causa disso; e mesmo para nós, protestantes, esses meios de salvação parecem ser tão impossíveis que a lógica de Pascal, invocada especificamente para eles, não nos comove. O Mahdi também poderia escrever para nós, dizendo: “Eu sou o Esperado que Deus criou em sua refulgência. Vocês serão infinitamente felizes se me confessarem; caso contrário, serão privados da luz do sol. Pese, então, seu ganho infinito se eu for genuíno contra seu sacrifício finito se eu não o for!” Sua lógica seria a de Pascal; mas ele a usaria em vão conosco, pois a hipótese que ele nos oferece está morta2. Não existe em nós nenhuma tendência para agir de acordo com ela, em nenhum grau.
A conversa sobre acreditar através de nossa volição parece, então, de um ponto de vista, simplesmente tola. De outro ponto de vista, é pior do que tola, é vil. Quando nos voltamos para o magnífico edifício das ciências físicas e vemos como ele foi erguido; quantos milhares de vidas de homens, vidas morais e desinteressadas, estão enterradas em seus singelos alicerces; quanta paciência e postergação, quanta preferência sufocada, quanta submissão às leis gélidas dos fatos externos foram forjadas em suas próprias pedras e argamassa; quão absolutamente impessoal ela é em sua vasta augustez — então, como parecem obcecados e desprezíveis todos os pequenos sentimentalistas que vêm soprando suas coroas de fumaça voluntárias e fingindo decidir as coisas a partir de seus sonhos particulares! Podemos nos perguntar se aqueles que foram criados na escola robusta e viril da ciência sentiriam vontade de vomitar tal subjetivismo de suas bocas? Todo o sistema de lealdades que cresce nas escolas de ciência é totalmente contrário à sua tolerância, de modo que é natural que aqueles que pegaram a febre científica passem para o extremo oposto e escrevam, às vezes, como se o intelecto incorruptível e verdadeiro devesse preferir positivamente a amargura e a inaceitabilidade ao coração em sua taça.
Fortalece minha alma saber
Que, embora eu pereça, a verdade é assim…
canta Clough, enquanto Huxley exclama: “Meu único consolo está na reflexão de que, por pior que nossa posteridade possa se tornar, se eles seguirem a regra simples de não fingir acreditar no que não têm razão para acreditar, porque pode ser vantajoso para eles fingir [a palavra ‘fingir’ é certamente redundante aqui], eles não terão atingido a mais baixa profundidade da imoralidade.” E o delicioso enfant terrible Clifford escreve: “A crença é profanada quando é dada a declarações não comprovadas e inquestionáveis para o consolo e o prazer particular do crente… Quem quiser merecer o bem de seus companheiros nessa questão guardará a pureza de sua crença com um fanatismo de cuidado ciumento, para que em qualquer momento ela não se apóie em um objeto indigno e pegue uma mancha que nunca poderá ser apagada…. Se [uma] crença foi aceita com base em evidências insuficientes [mesmo que a crença seja verdadeira, como explica Clifford na mesma página], o prazer é um prazer roubado…. Ele é pecaminoso porque é roubado em desafio ao nosso dever para com a humanidade. Esse dever é nos protegermos de tais crenças como de uma peste que pode em breve dominar nosso próprio corpo e depois se espalhar para o resto da cidade…. É errado sempre, em todos os lugares e para todos, acreditar em qualquer coisa com base em evidências insuficientes.”
III.
Tudo isso nos parece saudável, mesmo quando expresso, como por Clifford, com um pouco de pathos robusto demais na voz. O livre-arbítrio e o simples desejo parecem, na questão de nossas crenças, ser apenas uma quinta roda da carruagem. No entanto, se alguém presumir que o discernimento intelectual é o que resta depois que o desejo, a vontade e a preferência sentimental tomaram asas, ou que a razão pura é o que estabelece nossas opiniões, voará diretamente contra os fatos.
São apenas nossas hipóteses já mortas que nossa natureza volitiva é incapaz de trazer à vida novamente. Porém, o que as tornou mortas para nós foi, na maioria das vezes, uma ação anterior de nossa natureza volitiva de um tipo antagônico. Quando digo “natureza volitiva”, não me refiro apenas às volições deliberadas que podem ter criado hábitos de crença dos quais não podemos escapar agora — refiro-me a todos os fatores de crença, como medo e esperança, preconceito e paixão, imitação e partidarismo, a pressão da nossa casta e do nosso grupo. Enquanto matéria de fato, nos encontramos acreditando, mas mal sabemos como ou por quê. O Sr. Balfour dá o nome de “autoridade” a todas essas influências, nascidas do clima intelectual, que tornam as hipóteses possíveis ou impossíveis para nós, vivas ou mortas. Aqui nesta sala, todos nós acreditamos em moléculas e na conservação da energia, na democracia e no progresso necessário, no cristianismo protestante e no dever de lutar pela “doutrina do imortal Monroe”, tudo isso sem nenhuma razão digna desse nome. Vemos essas questões sem maior clareza interior, e provavelmente com muito menos, do que qualquer descrente nelas poderia possuir. Sua falta de convencionalidade provavelmente teria alguns fundamentos para mostrar suas conclusões; mas, para nós, não é o discernimento, mas o prestígio das opiniões, que faz a faísca sair delas e iluminar nossas sonolentas revistas acerca da fé. Nossa razão fica satisfeita, em novecentos e noventa e nove casos de cada mil de nós, se puder encontrar alguns argumentos que sirvam para recitar no caso de nossa credulidade ser criticada por outra pessoa. Nossa fé é a fé na fé de outra pessoa e, nos assuntos mais importantes, esse é o caso mais comum. Nossa crença na verdade em si, por exemplo, de que existe uma verdade e que nossas mentes e ela foram feitas uma para a outra — o que é isso senão uma afirmação apaixonada de desejo, na qual nosso sistema social nos apóia? Queremos ter uma verdade; queremos acreditar que nossas experiências, estudos e discussões devem nos colocar em uma posição cada vez melhor em relação a ela; e nessa linha concordamos em lutar por nossas vidas pensantes. Mas se um cético pirrônico nos perguntar como sabemos tudo isso, nossa lógica pode encontrar uma resposta? Não! Certamente não. Se trata apenas de uma volição contra outra — estamos dispostos a nos arriscar por toda a vida com base em uma confiança ou suposição que ele, por sua vez, não se importa em assumir3.
Como regra geral, não acreditamos em todos os fatos e teorias para os quais não temos utilidade. As emoções cósmicas de Clifford não encontram utilidade para os sentimentos cristãos. Huxley critica os bispos porque não há utilidade para o sacerdotalismo em seu esquema de vida. Newman, ao contrário, vai para o romanismo e encontra todos os tipos de razões para permanecer lá, porque um sistema sacerdotal é para ele uma necessidade orgânica e um prazer. Por que tão poucos “cientistas” sequer examinam as evidências da assim chamada telepatia? Porque eles pensam, como um importante biólogo, já falecido, me disse certa vez, que mesmo que isso fosse verdade, os cientistas deveriam se unir para mantê-la suprimida e escondida. Isso anularia a uniformidade da natureza e todos os tipos de coisas sem as quais os cientistas não podem continuar suas atividades. Mas se a esse mesmo homem tivesse sido mostrado algo que, como cientista, ele poderia fazer com a telepatia, ele poderia não apenas ter examinado a evidência, mas até mesmo tê-la considerado boa o suficiente. Essa mesma lei que os lógicos nos impõem — se é que posso dar o nome de lógicos àqueles que aqui excluem nossa natureza volitiva — não se baseia em nada além de seu próprio desejo natural de excluir todos os elementos para os quais eles, em sua qualidade profissional de lógicos, não encontram utilidade.
Evidentemente, então, nossa natureza não intelectual influencia nossas convicções. Há tendências e volições passionais que vêm antes e outras que vêm depois da crença, e são apenas as últimas que chegam tarde demais para o evento; e elas não chegam tarde demais quando o trabalho passional anterior já está em sua própria direção. O argumento de Pascal, em vez de ser impotente, parece ser um argumento decisivo, e é o último golpe necessário para tornar completa nossa fé em missas e água benta. O estado das coisas está evidentemente longe de ser simples; e o puro discernimento e a lógica, independentemente do que possam fazer idealmente, não são as únicas coisas que realmente produzem nossos credos.
IV.
Nosso próximo dever, tendo reconhecido esse estado confuso de coisas, é perguntar se ele é simplesmente repreensível e patológico ou se, ao contrário, devemos tratá-lo como um elemento normal na formação de nossas mentes. A tese que defendo é, resumidamente, a seguinte: Nossa natureza passional não apenas legalmente pode, mas deve, decidir sobre uma opção entre proposições, sempre que for uma opção genuína que não pode, por sua natureza, ser decidida em bases intelectuais; pois dizer, sob tais circunstâncias, “Não decida, mas deixe a questão em aberto”, é, em si, uma decisão passional — assim como decidir sim ou não — e está acompanhada do mesmo risco de se perder a verdade. A tese assim expressa de forma abstrata, acredito, logo se tornará bastante clara. Mas, primeiro, preciso me dar ao luxo de fazer mais um pouco de trabalho preliminar.
V.
Será observado que, para os propósitos desta discussão, estamos em um terreno “dogmático” — um terreno, quero dizer, que deixa o ceticismo filosófico sistemático completamente fora de cogitação. O postulado de que existe a verdade e que é o destino de nossas mentes alcançá-la, é algo que estamos deliberadamente decidindo defender, embora o cético não o faça. Portanto, nos separamos dele, absolutamente, neste ponto. Porém, a fé de que a verdade existe e que nossas mentes podem encontrá-la pode ser mantida de duas maneiras. Podemos falar da maneira empirista e da maneira absolutista de acreditar na verdade. Os absolutistas nessa questão dizem que não apenas podemos chegar a conhecer a verdade, mas também que podemos saber quando chegamos a conhecê-la; enquanto os empiristas acham que, embora possamos alcançá-la, não podemos saber infalivelmente quando. Saber é uma coisa, e saber com certeza que sabemos é outra. Pode-se sustentar que a primeira é possível sem a segunda; portanto, os empiristas e os absolutistas, embora nenhum deles seja cético no sentido filosófico usual do termo, mostram graus muito diferentes de dogmatismo em suas vidas.
Se observarmos a história das opiniões, veremos que a tendência empirista prevaleceu amplamente na ciência, enquanto na filosofia a tendência absolutista teve tudo à sua maneira. De fato, o tipo característico de felicidade que as filosofias proporcionam consistiu principalmente na convicção sentida por cada escola ou sistema sucessivo de que, por meio dele, a certeza fundamental foi alcançada. “As outras filosofias são coleções de opiniões, em sua maioria falsas; a minha filosofia dá base para sempre” — quem não reconhece nisso a nota principal de todo sistema digno desse nome? Um sistema, para ser de fato um sistema, deve vir como um sistema fechado, reversível neste ou naquele detalhe, talvez, mas nunca em suas características essenciais!
A ortodoxia escolástica, à qual sempre se deve recorrer quando se deseja encontrar uma declaração perfeitamente clara, elaborou maravilhosamente essa convicção absolutista em uma doutrina que ela chama de “evidência objetiva”. Se, por exemplo, eu não sou capaz de duvidar que existo agora diante de você, que ‘dois é menor que três’, ou que ‘se todos os homens são mortais, então eu também sou mortal’, é porque essas coisas iluminam meu intelecto irresistivelmente. O fundamento último dessa evidência objetiva possuída por certas proposições é a adaequatio intellectûs nostri cum rê. A certeza que ela traz envolve uma aptitudinem ad extorquendum certum assensum por parte da verdade contemplada e, por parte do sujeito, uma quietem in cognitione, quando o objeto é recebido mentalmente, que não deixa nenhuma possibilidade de dúvida para trás; e em toda a transação nada opera além da entitas ipsa do objeto e da entitas ipsa da mente. Nós, pensadores modernos desleixados, não gostamos de falar em latim — na verdade, não gostamos de falar em termos definidos; mas, no fundo, nosso próprio estado de espírito é muito parecido com esse, sempre que nos abandonamos acriticamente: você acredita em evidências objetivas, e eu acredito. De algumas coisas sentimos que temos certeza: sabemos e sabemos que sabemos. Há algo que faz um clique dentro de nós, um sino que bate doze horas, quando os ponteiros de nosso relógio mental varrem o mostrador e se encontram sobre a hora meridiana. Os maiores empiristas entre nós são apenas empiristas na reflexão: quando deixados em seus instintos, eles dogmatizam como papas infalíveis. Quando os Cliffords nos dizem como é pecaminoso sermos cristãos com base em tal “evidência insuficiente”, a insuficiência é realmente a última coisa que eles têm em mente. Para eles, as evidências são absolutamente suficientes, só que ao contrário. Eles acreditam tão completamente em uma ordem anti-cristã do universo que não há opção viva: o cristianismo é uma hipótese morta desde o início.
VI.
Contudo, uma vez que todos nós somos absolutistas por instinto, o que, em nossa qualidade de estudantes de filosofia, devemos fazer em relação a esse fato? Devemos abraçar e endossar o fato? Ou devemos tratá-lo como uma fraqueza de nossa natureza da qual devemos nos libertar, se pudermos?
Acredito sinceramente que o último caminho é o único que podemos seguir como homens reflexivos. Evidências objetivas e certezas são, sem dúvida, ideais muito bons para brincadeiras, mas onde neste planeta iluminado pela lua e revisitado por sonhos elas são encontradas? Sou, portanto, um empirista completo no que diz respeito à minha teoria do conhecimento humano. Vivo, com certeza, pela fé prática de que devemos continuar experimentando e pensando sobre nossa experiência, pois somente assim nossas opiniões podem se tornar mais verdadeiras; mas sustentar qualquer uma delas — não me importa qual — como se nunca pudesse ser reinterpretável ou corrigível, acredito que essa seja uma atitude tremendamente equivocada, e acho que toda a história da filosofia me confirmará. Há apenas uma verdade indefectivelmente certa, e essa é a verdade que o próprio ceticismo pirrônico deixa de lado: a verdade de que o fenômeno atual da consciência existe. Esse, entretanto, é o ponto de partida do conhecimento, a mera admissão de um material a ser filosofado. As várias filosofias são apenas tentativas de expressar o que esse material realmente é. E se formos às nossas bibliotecas, que divergências descobriremos! Onde se encontra uma resposta certamente verdadeira? Excetuando-se as proposições abstratas de comparação (como dois e dois são o mesmo que quatro), proposições que não nos dizem nada por si mesmas sobre a realidade concreta, não encontramos nenhuma proposição já considerada por alguém como evidentemente certa que não tenha sido chamada de falsidade ou, pelo menos, que tenha tido sua verdade sinceramente questionada por outra pessoa. A transcendência dos axiomas da geometria, não por brincadeira, mas com seriedade, por alguns de nossos contemporâneos (como Zöllner e Charles H. Hinton), e a rejeição de toda a lógica aristotélica pelos hegelianos, são exemplos notáveis.
Nunca se chegou a um acordo sobre um teste concreto sobre o que é realmente verdadeiro. Alguns consideram o critério como sendo externo ao momento da percepção, colocando-o na revelação, no consensus gentium, nos instintos do coração ou na experiência sistematizada da raça. Outros fazem do momento perceptivo seu próprio teste — Descartes, por exemplo, com suas idéias claras e distintas garantidas pela veracidade de Deus; Reid com seu “senso comum”; e Kant com suas formas de julgamento sintético a priori. A inconcebibilidade do oposto; a capacidade de ser verificado pelo sentido; a posse de unidade orgânica completa ou auto-relação, realizada quando uma coisa é seu próprio outro, são padrões que, por sua vez, têm sido usados. A tão aclamada evidência objetiva nunca está triunfantemente presente, é uma mera aspiração ou Grenzbegriff, marcando o ideal infinitamente remoto de nossa vida pensante. Afirmar que certas verdades agora a possuem é simplesmente dizer que, quando você as considera verdadeiras e elas são verdadeiras, então a evidência delas é objetiva; caso contrário, não é. Mas, na prática, a convicção de que a evidência que utilizamos é do tipo objetivo real é apenas mais uma opinião subjetiva adicionada ao lote. Que variedade contraditória de opiniões tem alegado ter evidências objetivas e certeza absoluta! O mundo é racional por completo — sua existência é um fato bruto definitivo; existe um Deus pessoal — um Deus pessoal é inconcebível; existe um mundo físico extra-mental imediatamente conhecido — a mente só pode conhecer suas próprias idéias; existe um imperativo moral — a obrigação é apenas o resultado dos desejos; um princípio espiritual permanente está em cada um — há apenas estados mentais mutáveis; há uma cadeia interminável de causas — há uma causa primeira absoluta; uma necessidade eterna — uma liberdade; um propósito — nenhum propósito; um Um primordial — um Muitos primordial; uma continuidade universal — uma descontinuidade essencial nas coisas; um infinito — nenhum infinito. Não há nada que alguém já não tenha considerado absolutamente verdadeiro, enquanto seu vizinho o considerou absolutamente falso; e nenhum absolutista entre eles parece ter considerado que o problema pode ser sempre essencial, e que o intelecto, mesmo com a verdade diretamente ao seu alcance, pode não ter nenhum sinal infalível para saber se é verdade ou não. Quando, de fato, nos lembramos de que a aplicação prática mais marcante da doutrina da certeza objetiva à vida foi o trabalho consciencioso do Santo Ofício da Inquisição, sentimo-nos menos tentados do que nunca a dar ouvidos respeitosos à doutrina.
Contudo, por favor, observe que quando, como empiristas, desistimos da doutrina da certeza objetiva, não desistimos da busca ou da esperança da verdade em si. Ainda depositamos nossa fé em sua existência e ainda acreditamos que conquistamos uma posição cada vez melhor em relação a ela ao continuarmos sistematicamente acumulando experiências e pensando. Nossa grande diferença em relação à escolástica está na maneira como abordamos. A força de seu sistema está nos princípios, na origem, no terminus a quo de seu pensamento; para nós, a força está no resultado, no desfecho, no terminus ad quem. Não é preciso decidir de onde ele vem, mas a que ele leva. Para um empirista, não importa de que lado uma hipótese possa vir a ele: ele pode tê-la adquirido por meios justos ou sujos; a paixão pode ter sussurrado ou o acidente a sugerido; mas se a tendência total do pensamento continuar a confirmá-la, é isso que ele quer dizer com o fato de ser verdadeira.
VII.
Mais um ponto, pequeno, mas importante, e nossas preliminares estarão concluídas. Há duas maneiras de encarar nosso dever na questão da opinião — maneiras totalmente diferentes e, ainda assim, maneiras sobre cuja diferença a teoria do conhecimento parece, até agora, ter demonstrado muito pouca preocupação. Devemos conhecer a verdade e evitar o erro — esses são nossos primeiros e grandes mandamentos como aspirantes a conhecedores; mas não são duas maneiras de declarar um mandamento idêntico, são duas leis separáveis. Embora possa de fato acontecer que, quando acreditamos na verdade A, escapemos como consequência incidental da crença na falsidade B, dificilmente acontece que, ao simplesmente não acreditar em B, acreditemos necessariamente em A. Podemos, ao escapar de B, cair na crença de outras falsidades, C ou D, tão ruins quanto B; ou podemos escapar de B não acreditando em nada, nem mesmo em A.

Acredite na verdade! Evite o erro! — essas, como vemos, são duas leis materialmente diferentes e, ao escolher entre elas, podemos acabar colorindo de forma diferente toda a nossa vida intelectual. Podemos considerar a busca pela verdade como primordial, e evitar o erro como secundário; ou podemos, por outro lado, tratar a prevenção do erro como mais imperativa, e deixar que a verdade corra seu risco. Clifford, na passagem instrutiva que citei, nos exorta a seguir o último caminho. Não acredite em nada, ele nos diz, mantenha sua mente em suspense para sempre, em vez de fechá-la com base em evidências insuficientes, incorrendo no terrível risco de acreditar em mentiras. Você, por outro lado, pode pensar que o risco de estar errado é muito pequeno quando comparado com as bênçãos do conhecimento real e estar pronto para ser enganado muitas vezes em sua investigação, em vez de adiar indefinidamente a chance de adivinhar a verdade. Eu mesmo acho impossível concordar com Clifford. Devemos nos lembrar de que esses sentimentos de nosso dever em relação à verdade ou ao erro são, de qualquer forma, apenas expressões de nossa vida passional. Biologicamente considerando, nossas mentes estão tão prontas para moer a falsidade quanto a veracidade, e aquele que diz: “É melhor ficar sem acreditar para sempre do que acreditar em uma mentira!” apenas mostra seu próprio horror particular e predominante de se tornar um ludibriado. Ele pode ser crítico em relação a muitos de seus desejos e medos, mas obedece servilmente a esse medo. Ele não consegue imaginar que alguém questione sua força coercitiva. De minha parte, também tenho horror de ser enganado; mas posso acreditar que coisas piores do que ser enganado podem acontecer a um homem neste mundo: assim, a exortação de Clifford tem, aos meus ouvidos, um som completamente fantasioso. É como um general informando a seus soldados que é melhor ficar fora da batalha para sempre do que arriscar um único ferimento. Não é assim que as vitórias sobre os inimigos ou sobre a natureza são conquistadas. Nossos erros certamente não são coisas tão terrivelmente solenes. Em um mundo onde temos tanta certeza de que incorreremos neles, apesar de toda a nossa cautela, uma certa leveza de coração parece mais saudável do que esse nervosismo excessivo em relação a eles. De qualquer modo, essa parece ser a coisa mais adequada para o filósofo empirista.
VIII.
E agora, depois de toda essa introdução, vamos direto à nossa questão. Eu disse, e agora repito, que não apenas encontramos, como uma matéria de fato, nossa natureza passional nos influenciando em nossas opiniões, mas que há algumas opções entre opiniões nas quais essa influência deve ser considerada tanto inevitável quanto legalmente determinante de nossa escolha.
Temo que alguns de vocês, meus ouvintes, comecem a pressentir o perigo e a dar ouvidos inóspitos. Dois primeiros passos da paixão, de fato, vocês tiveram que admitir como necessários — devemos pensar de modo a evitar o engano e devemos pensar de modo a obter a verdade; mas o caminho mais seguro para essas consumações ideais, vocês provavelmente considerarão, é de agora em diante não dar mais nenhum passo passional.
Bem, é claro, eu concordo até onde os fatos permitirem. Onde quer que a opção entre perder a verdade e ganhá-la não seja importante, podemos desperdiçar a chance de ganhar a verdade e, de qualquer modo, nos salvar de qualquer chance de acreditar em falsidade, não tomando nenhuma decisão até que a evidência objetiva chegue. Em questões científicas, esse é quase sempre o caso; e mesmo em assuntos humanos em geral, a necessidade de agir raramente é tão urgente de modo que uma crença falsa para agir seja melhor do que nenhuma crença. Os tribunais, de fato, precisam decidir com base nas melhores evidências disponíveis no momento, porque o dever de um juiz é aplicar a lei, bem como determiná-la, e (como me disse certa vez um juiz experiente) em poucos casos vale a pena gastar muito tempo: o mais importante é que eles sejam decididos com base em qualquer princípio aceitável e que saiam do caminho. No entanto, em nossas relações com a natureza objetiva, obviamente somos registradores, e não criadores, da verdade; e decisões com o mero objetivo de decidir prontamente e passar para o próximo assunto estariam totalmente fora de lugar. Em toda a extensão da natureza física, os fatos são o que são independentemente de nós, e raramente há tanta pressa em relação a eles que seja necessário enfrentar os riscos de ser enganado por acreditar em uma teoria prematura. As perguntas aqui são sempre opções triviais, as hipóteses dificilmente são vivas (pelo menos não são vivas para nós, espectadores), a escolha entre acreditar na verdade ou na falsidade raramente é obrigatória. A atitude de equilíbrio cético é, portanto, absolutamente sensata se quisermos evitar erros. Que diferença, de fato, faz para a maioria de nós se temos ou não uma teoria dos raios Röntgen, se acreditamos ou não em coisas da mente ou se temos uma convicção sobre a causalidade dos estados conscientes? Isso não faz diferença. Essas opções não são impostas a nós. Em todo caso, é melhor não fazê-las, mas continuar a pesar as razões pro et contra com uma mão indiferente.
Falo aqui, é claro, da mente puramente julgadora. Para fins de descoberta, essa indiferença deve ser menos recomendada, e a ciência seria muito menos avançada do que é se os desejos apaixonados dos indivíduos de ter suas próprias crenças confirmadas tivessem sido mantidos fora do jogo. Veja, por exemplo, a sagacidade que Spencer e Weismann demonstram atualmente. Por outro lado, se você quiser um absoluto desastrado em uma investigação, você deve, afinal, pegar o homem que não tem interesse algum em seus resultados: ele é o incapaz garantido, o tolo positivo. O investigador mais útil, porque o observador mais sensível, é sempre aquele cujo interesse ansioso em um lado da questão é equilibrado por um nervosismo igualmente agudo para que não seja enganado.4 A ciência organizou esse nervosismo em uma técnica regular, seu chamado método de verificação; e ela se apaixonou tão profundamente pelo método que se pode até dizer que ela deixou de se importar com a verdade em si mesma. O que lhe interessa é apenas a verdade tecnicamente verificada. A verdade das verdades pode vir em uma forma meramente afirmativa, e ela se recusaria a tocá-la. Uma verdade como essa, ela poderia repetir com Clifford, seria roubada em desafio ao seu dever para com a humanidade. As paixões humanas, entretanto, são mais fortes do que as regras técnicas. “Le coeur a ses raisons“, como diz Pascal, “que la raison ne connaît pas“; e por mais indiferente que o árbitro, o intelecto abstrato, possa ser a todas as regras do jogo, exceto às regras básicas, os jogadores concretos que lhe fornecem os materiais para julgar geralmente estão, cada um deles, apaixonados por alguma “hipótese viva” de estimação. Concordemos, entretanto, que onde quer que não haja uma opção obrigatória, o intelecto judicial desapaixonado, sem nenhuma hipótese de estimação, salvando-nos, como faz, de qualquer engano, deve ser nosso ideal.
Em seguida, surge a pergunta: não há em algum lugar opções obrigatórias em nossas questões especulativas, e podemos (como homens que podem estar interessados pelo menos tanto em obter positivamente a verdade quanto em meramente escapar do engano) sempre esperar impunemente até que a evidência coercitiva chegue? A priori, parece improvável que a verdade seja tão bem ajustada às nossas necessidades e poderes assim. Na grande pensão da natureza, os bolos, a manteiga e a calda raramente saem tão uniformes e deixam os pratos tão limpos. De fato, se isso acontecesse, nós os veríamos com suspeita científica.
IX.
As questões morais se apresentam imediatamente como questões cuja solução não pode esperar por uma prova sensível. Uma questão moral é uma questão não sobre o que existe sensivelmente, mas sobre o que é bom ou seria bom se existisse. A ciência pode nos dizer o que existe; mas para comparar os valores, tanto do que existe quanto do que não existe, devemos consultar não a ciência, mas o que Pascal chama de nosso coração. A própria ciência consulta seu coração quando afirma que a apuração infinita de fatos e a correção de falsas crenças são os bens supremos para o homem. Conteste a afirmação, e a ciência só pode repeti-la oracularmente, ou então prová-la mostrando que tal apuração e correção trazem ao homem todos os tipos de outros bens que o coração do homem, por sua vez, declara. A questão de ter crenças morais ou não tê-las é decidida por nossa vontade. Nossas preferências morais são verdadeiras ou falsas, ou são apenas fenômenos biológicos estranhos, tornando as coisas boas ou ruins para nós, mas em si mesmas indiferentes? Como seu intelecto puro pode decidir? Se o seu coração não quiser um mundo de realidade moral, sua cabeça certamente nunca o fará acreditar em um. O ceticismo mefistofélico, de fato, satisfará os instintos lúdicos da cabeça muito melhor do que qualquer idealismo rigoroso. Alguns homens (mesmo na idade de estudante) têm um coração tão naturalmente frio que a hipótese moralista nunca tem vida pungente para eles e, em sua presença arrogante, o jovem moralista sempre se sente estranhamente pouco à vontade. A aparência de conhecimento está do lado deles, e a de ingenuidade e credulidade encontra-se ao lado dele. No entanto, em seu coração inarticulado, ele se apega ao fato de que não é um ludibriado e que existe um reino no qual (como diz Emerson) toda a inteligência e superioridade intelectual deles não é melhor do que a astúcia de uma raposa. O ceticismo moral não pode ser refutado ou provado pela lógica da mesma forma que o ceticismo intelectual. Quando nos apegamos à verdade (seja ela de qualquer tipo), fazemos isso com toda a nossa natureza e decidimos ficar de pé ou cair pelos resultados. O cético, com toda a sua natureza, adota a atitude de duvidar; mas qual de nós é o mais sábio, só a Onisciência sabe.
Passemos agora dessas amplas questões acerca do bem para uma certa classe de questões de fato, questões relativas a relações pessoais, estados de espírito entre um homem e outro. Você gosta de mim ou não? — por exemplo. O fato de gostar ou não depende, em inúmeros casos, do fato de eu encontrá-lo no meio do caminho, estar disposto a presumir que você deve gostar de mim e demonstrar confiança e expectativa. A fé prévia de minha parte na existência de sua afeição é, nesses casos, o que faz com que sua afeição se concretize. No entanto, se eu me mantiver distante e me recusar a ceder um centímetro até ter provas objetivas, até que você tenha feito algo adequado, como dizem os absolutistas, ad extorquendum assensum meum, o seu agrado nunca virá. Quantos corações de mulheres são vencidos pela mera insistência sanguínea de algum homem de que elas devem amá-lo! O desejo por um certo tipo de verdade aqui traz a existência dessa verdade especial; e assim é em inúmeros casos de outros tipos. Quem ganha promoções, benefícios, nomeações, senão o homem em cuja vida se vê que elas desempenham o papel de hipóteses vivas, que as desconta, sacrifica outras coisas por elas antes que elas apareçam e se arrisca por elas antecipadamente? Sua fé age sobre os poderes acima dele como uma reivindicação e cria sua própria verificação.
Um organismo social de qualquer tipo, grande ou pequeno, é o que é porque cada membro cumpre seu próprio dever com a confiança de que os outros membros cumprirão o deles simultaneamente. Sempre que um resultado desejado é alcançado pela cooperação de muitas pessoas independentes, sua existência como um fato é uma consequência pura da fé precursora de uns nos outros entre as pessoas imediatamente envolvidas. Um governo, um exército, um sistema comercial, um navio, uma faculdade, uma equipe de atletismo, todos existem sob essa condição, sem a qual não apenas nada é alcançado, mas nada é sequer tentado. Um trem inteiro de passageiros (individualmente corajosos o suficiente) será saqueado por alguns bandidos, simplesmente porque estes podem contar uns com os outros, enquanto cada passageiro teme que, se fizer um movimento de resistência, será baleado antes que alguém o apóie. Se acreditássemos que todo o vagão se levantaria de uma vez conosco, cada um de nós se levantaria, e o roubo de trens nunca seria sequer tentado. Há, portanto, casos em que um fato não pode ocorrer a menos que exista uma fé preliminar em sua ocorrência. E nos casos em que a fé em um fato pode ajudar a criar o fato, isso seria uma lógica insana que deveria dizer que a fé que se antecipa à evidência científica é o “tipo mais baixo de imoralidade” no qual um ser pensante pode cair. No entanto, essa é a lógica pela qual nossos absolutistas científicos pretendem regular nossas vidas!
X.
Nas verdades que dependem de nossa ação pessoal, então, a fé baseada no desejo é certamente uma coisa lícita e possivelmente indispensável.
Contudo, dir-se-á, esses são todos casos humanos infantis e não têm nada a ver com grandes questões cósmicas, como a questão da fé religiosa. Passemos então a essa questão. As religiões diferem tanto em seus acidentes que, ao discutir a questão religiosa, devemos torná-la muito genérica e ampla. O que, então, queremos dizer com a hipótese religiosa? A ciência diz que as coisas são; a moralidade diz que algumas coisas são melhores do que outras; e a religião diz essencialmente duas coisas.
Primeiro, ela diz que as melhores coisas são as coisas mais eternas, as coisas que se sobrepõem, as coisas no universo que atiram a última pedra, por assim dizer, e dizem a palavra final. “A perfeição é eterna” — essa frase de Charles Secrétan parece ser uma boa maneira de colocar essa primeira afirmação da religião, uma afirmação que obviamente ainda não pode ser verificada cientificamente.
A segunda afirmação da religião é a de que estamos em uma situação melhor, mesmo agora, se acreditarmos que sua primeira afirmação é verdadeira.
Agora, vamos considerar quais são os elementos lógicos dessa situação no caso de a hipótese religiosa, em ambos os seus ramos, ser realmente verdadeira. (É claro que devemos admitir essa possibilidade desde o início. Se quisermos de fato discutir a questão, ela deve envolver uma opção viva. Se para algum de vocês a religião é uma hipótese que não pode, por qualquer possibilidade viva, ser verdadeira, então não precisam ir mais longe. Falo apenas para o “remanescente salvo”). Assim sendo, vemos, em primeiro lugar, que a religião se oferece como uma opção importante. Supõe-se que ganhemos, mesmo agora, com nossa crença, e percamos com nossa não-crença, um certo bem vital. Em segundo lugar, a religião é uma opção obrigatória, no que diz respeito a esse bem. Não podemos escapar da questão permanecendo céticos e esperando por mais luz, porque, embora evitemos o erro dessa forma se a religião não for verdadeira, perdemos o bem, se for verdadeira, tão certamente quanto se escolhêssemos descrer positivamente. É como se um homem hesitasse indefinidamente em pedir uma determinada mulher em casamento porque não tinha certeza absoluta de que ela seria um anjo depois que ele a levasse para casa. Ele não se afastaria dessa possibilidade específica de anjo de forma tão decisiva quanto se fosse se casar com outra pessoa? O ceticismo, portanto, não é evitar a opção; é a opção por um certo tipo específico de risco. É melhor arriscar a perda da verdade do que a chance de errar — essa é a posição exata do seu veto à fé. Ele está jogando ativamente sua aposta tanto quanto o crente; ele está defendendo seu campo contra a hipótese religiosa, assim como o crente está defendendo a hipótese religiosa oposta ao campo. Pregar o ceticismo para nós como um dever até que sejam encontradas “evidências suficientes” para a religião equivale, portanto, a nos dizer, quando na presença da hipótese religiosa, que ceder ao nosso medo de que ela seja um erro é mais sábio e melhor do que ceder à nossa esperança de que ela possa ser verdadeira. Não é o intelecto contra todas as paixões, então; é apenas o intelecto com uma paixão estabelecendo sua lei. E por que, então, a sabedoria suprema dessa paixão é garantida? Dúvida por dúvida, que prova há de que a dúvida por meio da esperança é muito pior do que a dúvida por meio do medo? Eu, por exemplo, não consigo ver nenhuma prova; e simplesmente recuso a obediência ao comando do cientista para imitar seu tipo de opção, em um caso em que minha própria aposta é importante o suficiente para me dar o direito de escolher minha própria forma de risco. Se a religião for verdadeira e as evidências a seu favor ainda forem insuficientes, não quero, ao colocar o seu extintor sobre a minha natureza (que me parece ter, afinal, algum interesse nesse assunto), perder a minha única chance na vida de ficar do lado vencedor — essa chance depende, é claro, da minha disposição de correr o risco de agir como se a minha necessidade passional de levar o mundo religiosamente pudesse ser profética e correta.
Tudo isso com base na suposição de que ela realmente pode ser profética e correta, e que, mesmo para nós que estamos discutindo o assunto, a religião é uma hipótese viva que pode ser verdadeira. Ora, para a maioria de nós, a religião vem de uma forma ainda mais ampla que torna ainda mais ilógico o veto à nossa fé ativa. O aspecto mais perfeito e mais eterno do universo é representado em nossas religiões como tendo forma pessoal. O universo não é mais um mero Isso para nós, mas um Tu, se formos religiosos; e qualquer relação que possa ser possível de pessoa para pessoa pode ser possível aqui. Por exemplo, embora em um sentido sejamos partes passivas do universo, em outro mostramos uma curiosa autonomia, como se fôssemos pequenos centros ativos por conta própria. Sentimos, também, como se o apelo da religião a nós fosse feito à nossa própria boa vontade ativa, como se as evidências pudessem nos ser negadas para sempre, a menos que atendêssemos à hipótese pela metade. Para usar uma ilustração trivial: assim como um homem que, em uma companhia de cavalheiros, não fizesse avanços, pedisse um mandado para cada concessão e não acreditasse na palavra de ninguém sem provas, se privaria, por essa grosseria, de todas as recompensas sociais que um espírito mais confiante ganharia, também aqui, alguém que se fechasse em uma lógica arrogante e tentasse fazer com que os deuses extorquissem seu reconhecimento a torto e a direito, ou não o obtivessem, poderia se privar para sempre de sua única oportunidade de conhecer os deuses. Esse sentimento, imposto a nós não sabemos de onde, de que, ao acreditar obstinadamente que existem deuses (embora não fazê-lo fosse tão fácil tanto para nossa lógica quanto para nossa vida), estamos prestando ao universo o mais profundo serviço que podemos, parece ser parte da essência viva da hipótese religiosa. Se a hipótese fosse verdadeira em todas as suas partes, incluindo esta, então o intelectualismo puro, com seu veto a nossos avanços voluntários, seria um absurdo; e alguma participação de nossa natureza solidária seria logicamente necessária. Eu, portanto, não posso aceitar as regras agnósticas para a busca da verdade, ou concordar voluntariamente em manter minha natureza volitiva fora do jogo. Não posso fazer isso pela simples razão de que uma regra de pensamento que me impediria absolutamente de reconhecer certos tipos de verdade, se esses tipos de verdade realmente existissem, seria uma regra irracional. Para mim, esse é o ponto principal da lógica formal da situação, independentemente dos tipos de verdade que possam existir materialmente.
Confesso que não vejo como essa lógica pode ser contornada. Mas a triste experiência me faz temer que alguns de vocês ainda possam se esquivar de dizer radicalmente comigo, in abstracto, que temos o direito de acreditar por nossa própria conta e risco em qualquer hipótese que seja viva o suficiente para tentar nossa vontade. Suspeito, no entanto, que se isso for verdade, é porque você se afastou completamente do ponto de vista lógico abstrato e está pensando (talvez sem perceber) em alguma hipótese religiosa específica que, para você, está morta. A liberdade de ‘acreditar no que quisermos’ você aplica ao caso de alguma superstição patente; e a fé em que você pensa é a fé definida pelo estudante quando ele disse: “Fé é quando você acredita em algo que você sabe que não é verdade”. Só posso repetir que isso é um equívoco. In concreto, a liberdade de acreditar só pode abranger opções vivas que o intelecto do indivíduo não pode resolver por si só; e as opções vivas nunca parecem absurdas para aquele que as tem para ponderar. Quando olho para a questão religiosa tal como ela realmente se coloca para os homens concretos, e quando penso em todas as possibilidades que ela envolve, tanto prática quanto teoricamente, então esse mandamento segundo o qual devemos colocar uma trava em nosso coração, instintos e coragem, e esperar — agindo, é claro, enquanto isso, mais ou menos como se a religião não fosse verdadeira5 — até o dia de amanhã, ou até o momento em que nosso intelecto e nossos sentidos, trabalhando juntos, possam ter reunido evidências suficientes, — essa ordem, eu digo, parece-me o ídolo mais estranho já fabricado na caverna filosófica. Se fôssemos absolutistas escolásticos, talvez houvesse mais desculpas. Se tivéssemos um intelecto infalível com suas certezas objetivas, poderíamos nos sentir desleais a esse órgão perfeito do conhecimento ao não confiar exclusivamente nele, ao não esperar por sua palavra libertadora. Mas se somos empiristas, se acreditamos que nenhum sino em nós toca para nos informar com certeza quando a verdade está ao nosso alcance, então parece uma fantasia ociosa pregar tão solenemente nosso dever de esperar pelo sino. De fato, podemos esperar, se quisermos — espero que não pense que estou negando isso —, mas se o fizermos, o faremos por nossa conta e risco, tanto quanto se acreditássemos. Em ambos os casos, agimos, tomando nossa vida em nossas mãos. Nenhum de nós deve vetar o outro, tampouco devemos proferir palavras de abuso. Devemos, ao contrário, respeitar delicada e profundamente a liberdade mental uns dos outros: somente assim conseguiremos criar a república intelectual; somente assim teremos aquele espírito de tolerância interior sem o qual toda a nossa tolerância exterior não tem alma e que é a glória do empirismo; somente assim viveremos e deixaremos viver, tanto nas coisas especulativas quanto nas práticas.
Comecei com uma referência a Fitz James Stephen; deixe-me terminar com uma citação dele:
“O que você pensa de si mesmo? O que você pensa do mundo? Essas são perguntas com as quais todos devem lidar da maneira que lhes parecer melhor. São enigmas da Esfinge e, de uma forma ou de outra, temos de lidar com eles…. Em todas as transações importantes da vida, temos de dar um salto no escuro…. Se decidirmos deixar os enigmas sem resposta, isso é uma escolha; se vacilarmos em nossa resposta, isso também é uma escolha: mas qualquer que seja a escolha que fizermos, nós a faremos por nossa conta e risco. Se um homem decide dar as costas a Deus e ao futuro, ninguém pode impedi-lo; ninguém pode mostrar, sem sombra de dúvida, que ele está enganado. Se um homem pensa de outra forma e age como pensa, não vejo como alguém pode provar que ele está enganado. Cada um deve agir como achar melhor; e se estiver errado, tanto pior para ele. Estamos em um desfiladeiro em uma montanha em meio a um turbilhão de neve e uma névoa ofuscante, através da qual temos vislumbres de vez em quando de caminhos que podem ser enganosos. Se ficarmos parados, morreremos congelados. Se tomarmos o caminho errado, seremos despedaçados. Não sabemos ao certo se existe um caminho certo. O que devemos fazer? ‘Seja forte e corajoso’. Aja pelo melhor, espere pelo melhor e aceite o que vier…. Se a morte acaba com tudo, não podemos enfrentar a morte de forma melhor.”
Notas:
- Discurso aos Clubes Filosóficos das Universidades de Yale e Brown. Publicado no New World, em junho de 1896. ↩︎
- Neste caso, pela nossa educação cristã, estaríamos medindo o bem infinito da promessa cristã com bem infinito da promessa do Mahdi, o que enfraqueceria o apelo deste. (N.T.) ↩︎
- Compare com a admirável página 310 do livro “Time and Space“, de S. H. Hodgson, Londres, 1865. ↩︎
- Compare com o ensaio de Wilfrid Ward, “The Wish to Believe“, em seu Witnesses to the Unseen, Macmillan & Co., 1893. ↩︎
- Uma vez que a crença é medida pela ação, aquele que nos proíbe de acreditar que a religião é verdadeira, necessariamente também nos proíbe de agir como deveríamos se acreditássemos que ela é verdadeira. Toda a defesa da fé religiosa depende da ação. Se a ação exigida ou inspirada pela hipótese religiosa não for de modo algum diferente daquela ditada pela hipótese naturalista, então a fé religiosa é um puro supérfluo, melhor se for eliminada, e a controvérsia sobre sua legitimidade é uma brincadeira ociosa, indigna de mentes sérias. Eu mesmo acredito, é claro, que a hipótese religiosa dá ao mundo uma expressão que determina especificamente nossas reações e as torna, em grande parte, diferentes do que poderiam ser em um esquema puramente naturalista de crença. ↩︎
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com