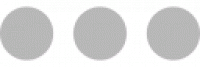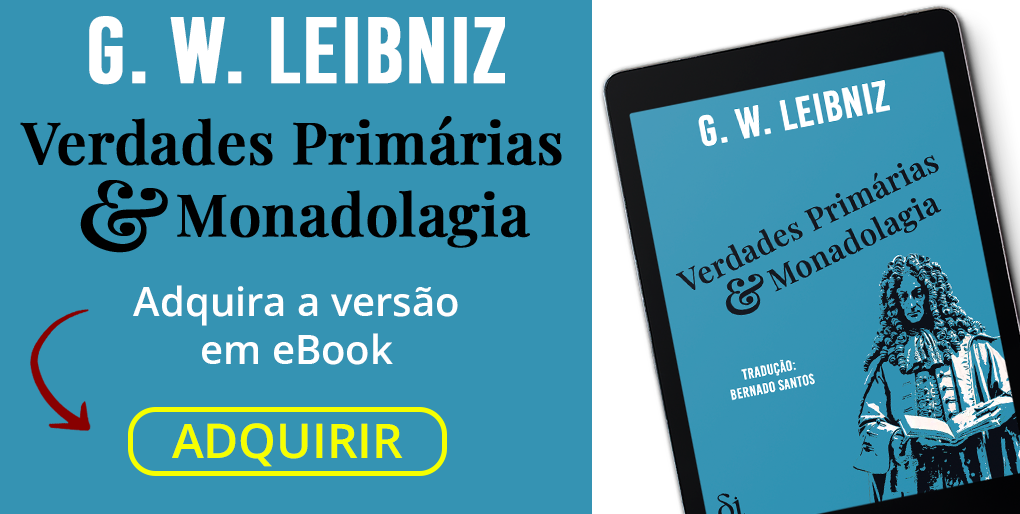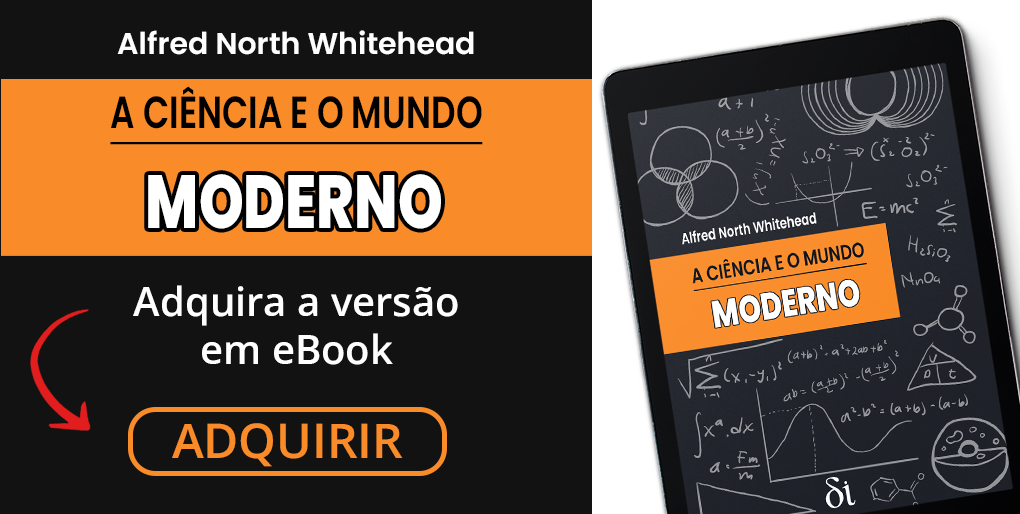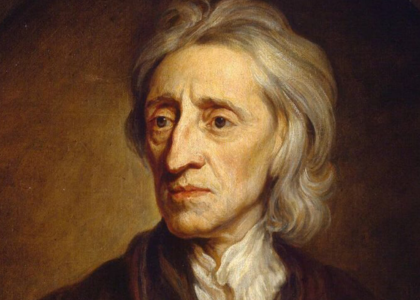Juntamente com J.G. Fichte e, pelo menos em relação a seus primeiros trabalhos, com F.W.J. von Schelling, Hegel (1770-1831) pertence ao período do idealismo alemão nas décadas seguintes a Kant. Sendo o mais sistemático dos idealistas pós-kantianos, Hegel tentou, em todos os seus escritos publicados, bem como em suas palestras, elaborar uma filosofia abrangente e sistemática a partir de um ponto de partida supostamente lógico. Talvez ele seja mais conhecido por seu conceito teleológico sobre a história, um conceito que mais tarde foi assumido por Marx e “invertido” numa teoria materialista sobre o desenvolvimento histórico que culminaria no comunismo. Embora as filosofias idealistas na Alemanha sejam posteriores a Hegel (Beiser 2014), o movimento comumente conhecido como idealismo alemão terminou efetivamente com a morte de Hegel. Certamente, desde as revoluções no pensamento lógico a partir da virada do século XX, o lado lógico do pensamento de Hegel foi amplamente esquecido, embora sua filosofia política e social e suas concepções teológicas tenham continuado a despertar interesse e apoio. No entanto, desde a década de 1970, um grau de interesse filosófico mais geral no pensamento sistemático de Hegel e em sua base lógica foi reavivado.
- 1. Vida, Obra e Influência
- 2. A Filosofia de Hegel
- 3. Obras de Hegel Publicadas
- Bibliography
- Academic Tools
- Other Internet Resources
- Related Entries
- Acknowledgments
1. Vida, Obra e Influência
Nascido em 1770 em Stuttgart, Hegel passou os anos de 1788 a 1793 como estudante na vizinha Tübingen, estudando primeiro filosofia e depois teologia e fazendo amizade com outros estudantes, como o futuro grande poeta romântico Friedrich Hölderlin (1770-1843) e Friedrich von Schelling (1775-1854), que, assim como Hegel, se tornaria uma das principais figuras do cenário filosófico alemão na primeira metade do século XIX. Essas amizades claramente tiveram uma grande influência no desenvolvimento filosófico de Hegel e, por algum tempo, as vidas intelectuais dos três estiveram intimamente ligadas.
Após a graduação, Hegel trabalhou como tutor para famílias em Berna e depois em Frankfurt, onde se reuniu com Hölderlin. Até por volta de 1800, Hegel se dedicou a desenvolver suas idéias sobre temas religiosos e sociais, e parecia ter previsto um futuro para si mesmo como um tipo de educador modernizador e reformador, à imagem de figuras do Iluminismo alemão, como Lessing e Schiller. Por volta da virada do século, no entanto, sob a influência de Hölderlin e Schelling, seus interesses se voltaram mais para questões decorrentes da filosofia crítica iniciada por Immanuel Kant (1724-1804) e desenvolvida por J.G. Fichte (1762-1814). Na década de 1790, a Universidade de Jena havia se tornado um centro para o desenvolvimento da filosofia crítica devido à presença de K.L. Reinhold (1757-1823) e depois de Fichte, que lecionou lá de 1794 até sua demissão por ateísmo no final da década. Naquela época, Schelling, que havia sido atraído a Jena pela presença de Fichte, havia se tornado uma figura estabelecida na universidade. Em 1801, Hegel mudou-se para Jena para se juntar a Schelling e, no mesmo ano, publicou sua primeira obra filosófica, The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy (A Diferença entre o Sistema de Filosofia de Fichte e Schelling), na qual argumentava que Schelling havia sido bem-sucedido onde Fichte havia fracassado no projeto de sistematizar e, assim, completar o idealismo transcendental de Kant. Em 1802 e 1803, Hegel e Schelling trabalharam juntos, editando o Critical Journal of Philosophy (Jornal Crítico de Filosofia) e, com base nessa associação, Hegel passou a ser perseguido por muitos anos pela reputação de ser um “mero” seguidor de Schelling (que era cinco anos mais novo que ele).
No final de 1806, Hegel havia concluído sua primeira obra importante, a Fenomenologia do Espírito (publicada em 1807), que mostrava uma divergência em relação à sua abordagem anterior, aparentemente mais schellingiana. Schelling, que havia deixado Jena em 1803, interpretou uma crítica mordaz no prefácio da Fenomenologia como sendo dirigida a ele, e a amizade entre eles terminou abruptamente. A ocupação de Jena pelas tropas de Napoleão, quando Hegel estava concluindo o manuscrito, restringiu as atividades da universidade e Hegel se retirou. Agora, sem um cargo na universidade, ele trabalhou por um curto período, aparentemente com muito sucesso, como editor de um jornal em Bamberg e, de 1808 a 1815, como diretor e professor de filosofia em um ginásio (escola secundária) em Nuremberg. Durante seu período em Nuremberg, casou-se e constituiu família, além de escrever e publicar sua Ciência da Lógica. Em 1816, conseguiu retornar à sua carreira universitária ao ser nomeado para uma cadeira de filosofia na Universidade de Heidelberg, mas logo depois, em 1818, recebeu uma oferta e assumiu a cadeira de filosofia na Universidade de Berlim, o cargo de maior prestígio no mundo filosófico alemão. Em 1817, enquanto estava em Heidelberg, publicou a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, uma obra sistemática na qual uma versão abreviada da anterior Ciência da Lógica (a Enciclopédia Lógica ou Lógica Menor) foi seguida pela aplicação de seus princípios à filosofia da natureza e à filosofia do espírito. Em 1821, em Berlim, Hegel publicou sua principal obra em filosofia política, Elementos da Filosofia do Direito, baseada em palestras proferidas em Heidelberg, mas fundamentada na seção da Enciclopédia da Filosofia do Espírito que trata do espírito objetivo. Durante os dez anos seguintes, até sua morte em 1831, Hegel desfrutou de celebridade em Berlim e publicou versões subsequentes da Enciclopédia. Após sua morte, foram publicadas versões de suas palestras sobre filosofia da história, filosofia da religião, estética e história da filosofia.
Após a morte de Hegel, Schelling, cuja reputação há muito havia sido eclipsada pela de Hegel, foi convidado a assumir a cadeira em Berlim, supostamente porque o governo da época queria combater a influência que a filosofia hegeliana havia exercido sobre uma geração de estudantes. Desde o período inicial de sua colaboração com Hegel, Schelling tornou-se mais religioso em sua filosofia e criticou o racionalismo da filosofia de Hegel. Durante o período em que Schelling esteve em Berlim, desenvolveram-se formas importantes de reação crítica posterior à filosofia hegeliana. O próprio Hegel apoiava políticas progressistas, mas não revolucionárias, mas seus seguidores se dividiram em facções que podem ser agrupadas em geral como de esquerda, direita e centro (Toews, 1985); pela esquerda, Karl Marx desenvolveria sua própria abordagem supostamente científica da sociedade e da história, que se apropriou de muitas das idéias hegelianas segundo uma perspectiva materialista. (Mais tarde, especialmente em reação às versões soviéticas ortodoxas do marxismo, muitos dos chamados marxistas ocidentais reincorporaram outros elementos hegelianos em suas formas de filosofia marxista). Muitas das críticas de Schelling ao racionalismo de Hegel encontraram seu caminho no pensamento existencialista subsequente, especialmente por meio dos escritos de Kierkegaard, que havia assistido às palestras de Schelling. Além disso, a interpretação que Schelling ofereceu de Hegel durante esses anos ajudou a moldar o entendimento que as gerações seguintes tinham de Hegel, contribuindo para o entendimento ortodoxo ou tradicional de Hegel como um pensador metafísico no sentido dogmático pré-kantiano.
Na filosofia acadêmica, o idealismo hegeliano parecia ter entrado em colapso dramático após 1848 e o fracasso dos movimentos revolucionários daquele ano, mas passou por um renascimento na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XIX. Na Grã-Bretanha, onde filósofos como T.H. Green e F.H. Bradley haviam desenvolvido idéias metafísicas que relacionavam ao pensamento de Hegel, este passou a ser um dos principais alvos de ataque dos fundadores do emergente movimento “analítico”, Bertrand Russell e G.E. Moore. Para Russell, as inovações revolucionárias na lógica, iniciadas nas últimas décadas do século XIX com o trabalho de Frege e Peano, haviam destruído a metafísica de Hegel ao derrubar a lógica aristotélica na qual, segundo Russell, ela se baseava e, de acordo com essa rejeição, Hegel passou a ser visto no movimento analítico como uma figura histórica de pouco interesse filosófico genuíno. Até certo ponto, coisas análogas poderiam ser ditas sobre a recepção de Hegel na tradição fenomenológica do século XX que se desenvolveu na Europa continental, mas, embora marginalizado nessas áreas centrais da filosofia acadêmica dominante, Hegel continuou a ser uma figura de interesse em outros movimentos filosóficos, como o existencialismo e o marxismo. Na França, uma versão do hegelianismo passou a influenciar uma geração de pensadores, incluindo Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre e o psicanalista Jacques Lacan, principalmente por meio das palestras de Alexandre Kojève. No entanto, uma geração posterior de filósofos franceses que ganhou destaque na década de 1960 tendeu a reagir contra Hegel de maneira análoga àquela em que os primeiros filósofos analíticos reagiram contra o Hegel que influenciou seus predecessores. Na Alemanha, depois de um período de declínio na segunda metade do século XIX, o interesse por Hegel foi reavivado na virada do século XX com o trabalho histórico de Wilhelm Dilthey, e importantes elementos hegelianos foram incorporados às abordagens de pensadores da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e, mais tarde, Jürgen Habermas, bem como à abordagem hermenêutica influenciada por Heidegger de Hans-G. Gadamer. Na Hungria, temas hegelianos semelhantes foram desenvolvidos por Georg Lukács e, posteriormente, por pensadores da Escola de Budapeste. Na década de 1960, o filósofo alemão Klaus Hartmann desenvolveu o que foi chamado de interpretação não-metafísica de Hegel que, juntamente com o trabalho de Dieter Henrich e outros, desempenhou um papel importante no renascimento do interesse por Hegel na filosofia acadêmica na segunda metade do século. Na filosofia de língua inglesa, o último quarto do século XX assistiu a uma espécie de renascimento do interesse sério pela filosofia de Hegel, com o surgimento de obras importantes, como as de H.S. Harris, Charles Taylor, Robert Pippin e Terry Pinkard, na América do Norte, e Stephen Houlgate e Robert Stern, na Grã-Bretanha. No final do século XX, mesmo dentro das principais áreas lógico-metafísicas da filosofia analítica, algumas pessoas, como Robert Brandom e John McDowell, começaram a levar Hegel a sério como um filósofo moderno importante, embora, em geral, dentro dos círculos analíticos, uma reavaliação favorável de Hegel ainda tenha um longo caminho a percorrer.
2. A Filosofia de Hegel
A descrição concisa da natureza da filosofia apresentada pelo próprio Hegel no Prefácio de seus Elementos da Filosofia do Direito captura uma tensão que é característica em sua abordagem filosófica e, em particular, em sua abordagem sobre a natureza e os limites da cognição humana. “A filosofia”, diz ele, “é seu próprio tempo compreendido nos pensamentos” (PR: 21).
Por um lado, podemos ver claramente na frase “seu próprio tempo” a sugestão de uma variabilidade e condicionamento histórico ou cultural que se aplica até mesmo à forma mais elevada de cognição humana, a própria filosofia. O conteúdo do conhecimento filosófico, podemos suspeitar, virá do conteúdo historicamente mutável de seu contexto cultural. Por outro lado, há a sugestão de que esses conteúdos sejam elevados a algum nível mais alto, provavelmente mais alto do que outros níveis de funcionamento cognitivo, como aqueles que são baseados na experiência perceptiva cotidiana, por exemplo, ou aqueles característicos de outras áreas da cultura, como arte e religião. Esse nível superior assume a forma de pensamento conceitualmente articulado, um tipo de cognição comumente considerado capaz de ter conteúdos supostamente eternos (pense em Platão e Frege, por exemplo, que têm em mente as verdades da matemática). De acordo com essa concepção, Hegel às vezes se referia à tarefa da filosofia como sendo a de reconhecer o conceito (Der Begriff) nas meras representações (Vorstellungen) da vida cotidiana.
Essa combinação antitética dentro da cognição humana entre aquilo que é temporalmente-condicionado e o que é eterno, uma combinação que reflete uma concepção mais ampla sobre o ser humano como aquilo que Hegel descreve em outro lugar como “finito-infinito” (SL: 114), fez com que Hegel fosse visto de diferentes maneiras por diferentes tipos de leitores filosóficos. Por exemplo, um pragmatista de mentalidade histórica como Richard Rorty, desconfiado de todas as reivindicações ou aspirações à chamada perspectiva do “olho de Deus”, poderia elogiar Hegel como um filósofo que introduziu essa dimensão historicamente reflexiva na filosofia (e a colocou no caminho caracteristicamente romântico que predominou na filosofia continental moderna), mas que, infelizmente, ainda permaneceu atolado nos resquícios da concepção platônica da busca por verdades a-históricas (Rorty, 1982). Aqueles que adotam essa abordagem em relação a Hegel tendem a ter em mente o (relativamente) jovem autor da Fenomenologia do Espírito e tendem a descartar como “metafísicas” obras posteriores e mais sistemáticas, como a Ciência da Lógica. Em contraste, o movimento hegeliano britânico do final do século XIX tendeu a ignorar a Fenomenologia e as dimensões mais historicistas de seu pensamento, e encontrou em Hegel um metafísico sistemático cuja Lógica forneceu a base para uma ontologia filosófica definitiva. Essa última visão metafísica tradicional de Hegel dominou a recepção do autor durante a maior parte do século XX, mas a partir da década de 1980 passou a ser desafiada por estudiosos que ofereceram uma visão alternativa não-metafísica, pós-kantiana. Por “não-metafísica”, esses pensadores tinham em mente a metafísica no sentido que Kant havia criticado, um ponto que às vezes passa despercebido pelos críticos. Porém, por sua vez, essa leitura pós-kantiana foi desafiada por uma visão metafísica revisada, que critica a suposta assimilação excessiva de Hegel a Kant pelos pós-kantianos. Na visão metafísica revisada, apela-se com frequência às características realistas conceituais aristotélicas ou espinosistas do pensamento de Hegel, bem como às características da metafísica analítica recente.
Antes de examinar essas opiniões concorrentes, no entanto, é preciso dizer algo sobre o confuso termo “idealismo” e sobre a variedade de idealismo que é característica de Hegel e de outros idealistas alemães.
2.1 Antecedentes: o Idealismo Conforme Entendido na Tradição Alemã
“Idealismo” é um termo que foi usado esporadicamente por Leibniz e seus seguidores para se referir a um tipo de filosofia que se opunha ao materialismo. Assim, por exemplo, Leibniz comparou Platão como um idealista e Epicuro como um materialista. A oposição ao materialismo aqui, juntamente com o fato de que, no mundo de língua inglesa, o filósofo e clérigo irlandês George Berkeley (1685-1753) é frequentemente considerado o protótipo do idealista, deu origem à suposição de que o idealismo é necessariamente uma doutrina imaterialista. Essa suposição, entretanto, é equivocada. Com a possível exceção de Leibniz, o idealismo dos alemães não estava comprometido com o tipo de doutrina encontrada em Berkeley, segundo a qual as mentes imateriais, tanto infinitas (a de Deus) quanto finitas (as dos seres humanos), eram as entidades reais em última instância, e as coisas aparentemente materiais deveriam ser entendidas como redutíveis aos estados dessas mentes — ou seja, às idéias no sentido dado pelos empiristas britânicos.
Tal como sugere o uso de Platão por feito Leibniz para exemplificar o idealismo, os idealistas da tradição alemã tendiam a sustentar a realidade ou a objetividade das ideias no sentido platônico e, para Platão, ao que parece, essas ideias não eram concebidas como estando em nenhuma mente — nem mesmo na mente do deus de Platão. O tipo de imagem encontrado em Berkeley só podia ser encontrado em alguns platônicos da Antiguidade tardia e, especialmente, nos primeiros platônicos cristãos, como Santo Agostinho, bispo de Hipona. No entanto, especialmente para os idealistas alemães como Hegel, a filosofia de Platão foi compreendida pelas lentes de variedades mais aristotélicas do neoplatonismo, que retratavam os pensamentos de uma mente divina como imanentes à matéria, e não como contidos em alguma mente puramente imaterial ou espiritual. Assim, ele tinha características mais próximas da imagem mais panteísta do pensamento divino encontrada em Espinosa, por exemplo, para quem a matéria e a mente eram atributos de uma única substância.
Mesmo para Leibniz, cuja metafísica monadológica posterior talvez estivesse mais próxima da filosofia imaterialista de Berkeley, a oposição ao materialismo não implicava necessariamente em imaterialismo. Leibniz se opôs à postulação feita por Descartes de substâncias espirituais e materiais distintas, tratando os corpos corpóreos como combinações inseparáveis de forma e matéria, à maneira de Aristóteles. Os materialistas aos quais ele se opunha (corpuscularistas mecanicistas de sua época) concebiam a matéria sem forma como um tipo de substância auto-subsistente, e parece ter sido a essa concepção que ele se opôs, pelo menos em alguns períodos de seu trabalho, e não à realidade da matéria per se. A combinação de noções platônicas e aristotélicas feita por Leibniz desempenhou um papel no pensamento dos idealistas posteriores, dando à sua oposição ao materialismo um caráter distinto. Essas características anti-imaterialistas do idealismo dos alemães tornaram-se mais marcantes no período pós-kantiano, à medida que eles se afastavam progressivamente das características mais subjetivistas do pensamento de Leibniz (Beiser, 2002).
2.2 A Perspectiva Metafísica tradicional da Filosofia de Hegel
Dada a compreensão de Hegel que predominava na época do nascimento da filosofia analítica, juntamente com o fato de que os primeiros filósofos analíticos estavam se rebelando precisamente contra o hegelianismo tal como era entendido, a interpretação de Hegel encontrada nas discussões dentro da filosofia analítica é frequentemente a interpretação do final do século XIX. Nesse quadro, Hegel é visto como oferecendo uma visão metafísico-religiosa sobre Deus qua Espírito Absoluto, como a realidade suprema que podemos conhecer apenas por meio de processos de pensamento puro. Em resumo, a filosofia de Hegel é tratada como um exemplo do tipo de metafísica pré-crítica ou dogmática contra a qual Kant reagiu em sua Crítica da Razão Pura e como um retorno a uma concepção de filosofia mais religiosa à qual Kant se opunha.
É possível encontrar muitas coisas nos escritos de Hegel que parecem apoiar essa perspectiva. Em suas palestras durante o período em Berlim, encontramos afirmações como a de que a filosofia “não tem outro objeto senão Deus e, portanto, é essencialmente teologia racional” (Aes I: 101). De fato, Hegel muitas vezes parece invocar imagens consistentes com os tipos de concepções neoplatônicas do universo que eram comuns no misticismo cristão, especialmente nos estados alemães, no início do período moderno. A peculiaridade da forma de idealismo de Hegel, por essa razão, reside em sua idéia de que a mente de Deus se torna atual somente por meio de sua particularização nas mentes de “suas” criaturas materiais finitas. Assim, em nossa consciência a respeito de Deus, de alguma forma servimos para realizar a sua própria autoconsciência e, portanto, sua própria perfeição. Nas interpretações em língua inglesa, essa imagem é efetivamente encontrada nos trabalhos de Charles Taylor (1975) e Michael Rosen (1984), por exemplo. Com suas raízes místicas obscuras e seu conteúdo abertamente religioso, não é de surpreender que a filosofia de Hegel assim entendida raramente tenha sido considerada uma opção viva dentro das concepções amplamente seculares e científicas da filosofia que têm sido dominantes nos séculos XX e XXI.
Uma consequência importante da metafísica de Hegel, assim entendida, diz respeito à história e à idéia de desenvolvimento ou progresso histórico, e é como um defensor de uma idéia relativa ao curso teleológico logicamente necessário da história que Hegel é mais freqüentemente ridicularizado. Para os críticos, como Karl Popper em seu popular livro do pós-guerra A Sociedade Aberta e seus Inimigos (1945), Hegel não apenas defendeu uma concepção política desastrosa sobre o Estado e a relação de seus cidadãos com ele, uma concepção que prefigurava o totalitarismo do século XX, mas também tentou sustentar essa defesa com especulações teo-lógico-metafísicas duvidosas. Com sua concepção do desenvolvimento do espírito na história, Hegel é visto como a literalização de uma maneira de falar sobre diferentes culturas em termos de seus espíritos, de construir uma sequência de desenvolvimento das épocas que é típica das concepções de progresso histórico linear do século XIX e, em seguida, envolver essa história do progresso humano em termos de uma história sobre o desenvolvimento da auto-consciência do cosmos — o próprio Deus.
Como o ponto principal de tal relato diz respeito à evolução dos estados de uma mente (a de Deus), esse relato é claramente idealista, mas não no sentido, digamos, de Berkeley. O legado panteísta herdado por Hegel significava que ele não tinha problemas em considerar um mundo externo como objetivo para além de qualquer mente subjetiva específica. Mas esse mundo objetivo em si tinha de ser entendido como sendo conceitualmente informado: era o espírito objetualizado. Assim, em contraste com o idealismo subjetivo berkeleyano, tornou-se comum falar de Hegel como se estivesse incorporando o idealismo objetivo das visões, especialmente comum entre os historiadores alemães, em que a vida social e o pensamento eram compreendidos em termos das estruturas conceituais ou espirituais que os informavam. No entanto, em contraste com ambas as formas de idealismo, Hegel, de acordo com essa leitura, postulou uma forma de idealismo absoluto ao incluir tanto a vida subjetiva quanto as práticas culturais objetivas das quais a vida subjetiva dependia na dinâmica do desenvolvimento da auto-consciência e da auto-atualização de Deus, o Espírito Absoluto.
Apesar desse tema teológico aparentemente dominante, Hegel ainda era visto por muitos como um importante precursor de outras vertentes mais caracteristicamente seculares do pensamento moderno, como o existencialismo e o materialismo marxista. Os existencialistas foram considerados como tendo tirado de Hegel a idéia da finitude e da dependência histórica e cultural dos sujeitos individuais, e como tendo deixado de lado todas as pretensões ao Absoluto, enquanto os marxistas foram considerados como tendo tomado a dinâmica histórica do quadro hegeliano, mas reinterpretando-a em categorias materialistas em vez de idealistas. Quanto à compreensão do próprio Hegel, a visão metafísica tradicional continuou sendo a abordagem interpretativa dominante dos estudiosos hegelianos durante grande parte do século XX. No último quarto do século, entretanto, ela passou a ser vigorosamente questionada, com uma variedade de intérpretes apresentando relatos muito diferentes sobre a natureza básica do projeto filosófico de Hegel. Embora várias interpretações tenham surgido durante esse período em um esforço para absolvê-lo de visões metafísico-teológicas implausíveis, uma tendência proeminente tem sido a de enfatizar a continuidade de suas concepções com a “filosofia crítica” de Immanuel Kant.
2.3 A Visão Pós-kantiana (às vezes chamada de não-metafísica) de Hegel
De forma menos controversa, costuma-se afirmar que obras específicas, como a Fenomenologia do Espírito, ou áreas específicas da filosofia de Hegel, especialmente sua filosofia ética e política, podem ser entendidas como independentes do tipo de sistema metafísico intolerável esboçado acima. Assim, é comumente afirmado que, implícito no Hegel metafísico, há um filósofo anti-metafísico lutando para sair — um filósofo potencialmente capaz de vencer o Kant crítico em seu próprio jogo.
De um modo mais controverso, agora é possível argumentar que a imagem tradicional está simplesmente errada em um nível mais geral e que Hegel, mesmo em seu pensamento sistemático, não estava comprometido com o monismo espiritual teleológico e bizarro que lhe foi tradicionalmente atribuído porque ele estava livre do tipo de compromissos metafísicos tradicionais que foram criticados por Kant. Entre essas interpretações, destaca-se a chamada interpretação pós-kantiana apresentada pelos estudiosos norte-americanos de Hegel, Robert Pippin (1989, 2008, 2019) e Terry Pinkard (1994, 2000, 2012). De uma perspectiva explicitamente analítica, visões amplamente semelhantes foram apresentadas por Robert Brandom (2002, 2014, 2019) e John McDowell (2006, 2018). Assim, enquanto a visão tradicional vê Hegel como um exemplo do exato tipo de especulação metafísica que Kant criticou com sucesso, a visão pós-kantiana o considera como alguém que aceita e amplia a crítica de Kant, voltando-a contra os aspectos residuais dogmaticamente metafísicos da própria filosofia de Kant.
Em Hegel, argumentam os não-tradicionalistas, pode-se ver a ambição de reunir as dimensões universalistas do programa transcendental de Kant com as concepções culturalmente contextualistas de seus contemporâneos que tinham uma mentalidade mais histórica e relativista, resultando em sua concepção controversa sobre o espírito, conforme desenvolvida em sua Fenomenologia do Espírito. Com essa noção, afirma-se que Hegel estava essencialmente tentando responder à pergunta kantiana sobre as condições da mentalidade humana racional, em vez de se preocupar em dar conta do desenvolvimento da auto-consciência de Deus. Mas enquanto Kant havia limitado essas condições às estruturas formais da mente concebidas abstratamente, Hegel as ampliou para incluir aspectos das formas histórica e socialmente determinadas da existência humana incorporada.
2.4 A Concepção Revisada da Metafísica de Hegel
Não é de surpreender que a forte interpretação pós-kantiana do pensamento de Hegel tenha sofrido resistência por parte dos defensores da abordagem mais tradicional, que argumentaram contra a plausibilidade da tentativa de reabilitar a filosofia de Hegel, despojando-a de quaisquer alegações metafísicas supostamente inaceitáveis (veja, por exemplo, Beiser 2005 e Horstmann 2006). Os defensores da visão pós-kantiana, como se costuma dizer, são culpados de projetar em Hegel pontos de vista que gostariam de encontrar, e não o que de fato pode ser encontrado. Entretanto, a forte interpretação pós-kantiana também foi desafiada por uma versão um pouco diferente da leitura metafísica feita por intérpretes que, embora reconheçam a influência da filosofia crítica de Kant sobre Hegel, enfatizam a crítica de Hegel a Kant e afirmam o papel irredutível desempenhado por uma forma de metafísica que há na filosofia de Hegel. No entanto, eles compartilham as tentativas dos pós-kantianos de separar os pontos de vista de Hegel dos pontos de vista extravagantes que tradicionalmente lhe são atribuídos e, em geral, defendem a ampla aceitabilidade dos pontos de vista de Hegel a partir da perspectiva do presente. Nesse ponto, é comum encontrar intérpretes que atribuem a Hegel algum tipo de realismo conceitual, às vezes apelando para a metafísica analítica contemporânea para a legitimidade da metafísica concebida como investigação das características ou estruturas fundamentais do próprio mundo. Entre os intérpretes que defendem conceitos semelhantes a essa visão metafísica revisada, podemos citar Stephen Houlgate (2005b), Robert Stern (2002, 2009), Kenneth Westphal (2003), James Kreines (2006, 2008) e Christopher Yeomans (2012).
Em vários pontos, os proponentes da interpretação metafísica realista conceitual e revisada concordarão com os defensores da abordagem não-metafísica pós-kantiana. Em primeiro lugar, eles tendem a concordar em rejeitar grande parte da metafísica extravagante que é tradicionalmente atribuída a Hegel. Em geral, eles não encontram em Hegel o tipo de monismo espiritual teleológico clássico que é central, por exemplo, na interpretação de Taylor. Em seguida, eles enfatizam a importância para Hegel da crítica de Kant à metafísica. Ambos acham que Hegel levou a sério a crítica de Kant e, por sua vez, submeteu a própria crítica a uma meta-crítica reveladora, mostrando que o próprio Kant não estava livre dos tipos de suposições metafísicas sem fundamento que ele criticou em outros. No entanto, enquanto os pós-kantianos interpretam as críticas de Hegel a Kant sugerindo que Hegel, dessa maneira, realizou ou completou a intenção crítica de Kant, criando uma forma de filosofar livre de metafísica, os proponentes da interpretação metafísica revisada normalmente vêem sua crítica a Kant implicando uma rejeição da atitude anti-metafísica de Kant e restabelecendo, em uma nova base, um programa metafísico originalmente derivado de Aristóteles (por exemplo, Stern) ou de Espinosa (por exemplo, Houlgate).
Embora esteja claro, em sua maior parte, o que coloca tanto os pós-kantianos quanto os realistas conceituais contra a visão tradicional, ainda não está claro quais questões que os dividem são substantivas e quais são, em última análise, apenas verbais. Brandom, por exemplo, embora frequentemente classificado entre os pós-kantianos, também interpreta Hegel como um realista conceitual (Brandom 2019), enquanto Redding, apelando para o trabalho anterior de J. N. Findlay, tenta combinar a abordagem pós-kantiana com o que ele chama de interpretação atualista, em vez de realista, de Hegel (Redding 2017). Em trabalhos recentes, tanto Pippin (2019) quanto Pinkard (2014), os principais representantes da posição pós-kantiana, insistiram que suas próprias interpretações são compatíveis com muitas das características aristotélicas de Hegel às quais os realistas conceituais aludem.
Em relação a esses debates, é preciso lembrar que o próprio Kant não criticava a metafísica per se. Sua alegação era a de que a metafísica existente (chamada de dogmática) estava em um estado análogo àquele em que, por exemplo, a física se encontrava antes da revolução científica dos séculos XVI e XVII. Em vez de querer eliminar a metafísica, no estilo, digamos, de Hume ou dos positivistas lógicos modernos, Kant queria colocar a própria metafísica em uma base científica segura, análoga ao que Galileu e Newton haviam conseguido para a física. Assim, a própria noção de uma metafísica hegeliana não é, de modo algum, diretamente incompatível com o projeto de uma conclusão pós-kantiana do programa crítico de Kant.
3. Obras de Hegel Publicadas
Podemos pensar que há cinco tipos diferentes de obras que compõem o corpus de publicações de Hegel. Primeiro, há os dois principais livros autônomos de Hegel que foram escritos para publicação, já mencionados — Fenomenologia do Espírito (1807) e Ciência da Lógica (1812-18). Na categoria seguinte estão as obras que foram publicadas na época como manuais para uso no ensino de estudantes, como a Enciclopédia de Ciências Filosóficas, publicada pela primeira vez em 1817, enquanto ele lecionava em Heidelberg, e posteriormente revisada e republicada em 1827 e novamente em 1830, e Elementos da Filosofia do Direito, que na verdade é uma expansão de uma seção da Enciclopédia e foi publicada em 1820, após sua mudança para Berlim. (As transcrições de suas palestras anteriores sobre esse tópico, proferidas em Heidelberg, também foram publicadas desde então). Juntamente com a Enciclopédia e a Filosofia do Direito, podem ser acrescentados escritos semelhantes relativos ao ensino pertencentes ao período de Jena, preparados como palestras, mas só publicados como tal muito mais tarde. A terceira categoria principal é formada por cursos de palestras publicados postumamente de seu tempo na Universidade de Berlim, que, após a morte de Hegel, foram reunidos por editores a partir de suas anotações e das transcrições dos alunos das palestras conforme proferidas — incluindo suas palestras sobre Filosofia da Natureza, Filosofia do Espírito, Filosofia da História, Estética, Filosofia da Religião e História da Filosofia. Em seguida, podem ser considerados vários ensaios e trabalhos curtos que foram publicados durante sua carreira e, por fim, podemos contar os primeiros trabalhos de Hegel, escritos no período entre seus anos de estudante em Tübingen e sua mudança para Jena, e predominantemente sobre temas religiosos e políticos (ETW). Aqui restringiremos a discussão às três primeiras categorias.
3.1 Livros
3.1.1 Fenomenologia do Espírito
O termo “fenomenologia” foi cunhado pelo matemático suíço (e correspondente de Kant) J.H. Lambert (1728-1777) em seu Novo Organon de 1764, e em uma carta a Lambert, enviada para acompanhar uma cópia de sua Dissertação Inaugural (1770), Kant propôs seu próprio projeto de uma “fenomenologia geral” enquanto uma propedêutica necessária que é pressuposta pela ciência da metafísica. Essa fenomenologia tinha o objetivo de determinar a “validade e as limitações” do que ele chamou de “princípios da sensibilidade”, princípios que ele (segundo pensava) havia demonstrado no trabalho que o acompanhava como sendo significativamente diferentes daqueles [princípios] do pensamento conceitual. O termo era claramente adequado a Kant, pois ele havia distinguido os fenômenos que eram conhecidos por meio da faculdade da sensibilidade dos fenômenos conhecidos de maneira puramente conceitual. Essa fenomenologia imaginada parece coincidir mais ou menos com o que ele viria a descrever como uma crítica da razão pura, embora o pensamento de Kant tivesse passado por mudanças importantes na época em que ele publicou a obra com esse nome (1781, segunda edição, 1787). Talvez por isso ele nunca mais tenha usado o termo “fenomenologia” para esse fim.
Há claramente alguma continuidade entre a noção de Kant e o projeto de Hegel. De certa maneira, a fenomenologia de Hegel é um estudo de phenomena (embora esse não seja um domínio que ele contrastaria com o do noumena) e a Fenomenologia do Espírito de Hegel também deve ser considerada como um tipo de propedêutica à filosofia, em vez de um exercício na ou trabalho da filosofia. O objetivo é que funcione como uma indução ou educação do leitor para o ponto de vista do pensamento puramente conceitual a partir do qual a filosofia pode ser feita. Como tal, sua estrutura foi comparada à de um Bildungsroman (romance educativo), com um protagonista que é abstratamente concebido — o portador de uma série evolutiva das assim chamadas formas de consciência ou o habitante de uma série de mundos fenomenais sucessivos —, cujo progresso e contratempos o leitor acompanha e com os quais aprende. Ou, pelo menos, é assim que a obra se inicia: nas seções posteriores, a série anterior das formas de consciência é substituída pelo que parecem ser mais configurações da vida social humana, e a obra passa a se parecer mais com um relato sobre formas interligadas de existência social e pensamento dentro das quais os participantes dessas formas de vida social concebem a si mesmos e ao mundo. Hegel constrói uma série dessas formas, que mapeia a história da civilização da Europa Ocidental desde os gregos até sua própria época.
O fato de que essa progressão termine na obtenção do que Hegel chama de Conhecimento Absoluto, o ponto de vista a partir do qual a verdadeira filosofia é feita, parece apoiar a leitura tradicionalista na qual uma narrativa triunfalista sobre o crescimento da civilização ocidental é combinada com a interpretação teológica da auto-manifestação e auto-compreensão de Deus. Quando Kant abordou a idéia de uma propedêutica fenomenológica para Lambert, ele mesmo ainda acreditava no projeto de uma metafísica puramente conceitual, alcançável pelo uso do método regressivo ou analítico, mas esse projeto concebido como um exercício de razão teórica era exatamente o que Kant, em sua filosofia crítica posterior, passou a rejeitar. Os leitores tradicionais de Hegel, portanto, vêem o telos da Fenomenologia como sendo um atestado da perspectiva pré-kantiana (ou seja, pré-crítica) de Hegel e de sua adoção do projeto metafísico que Kant veio a rejeitar como ilusório. Os defensores da interpretação pós-kantiana de Hegel obviamente interpretam essa obra e seu telos de maneira diferente. Assim, argumentou-se (por exemplo, Pinkard, 1994) que o que essa história rastreia é o desenvolvimento de um tipo de existência social que permite uma forma única de racionalidade, pois em tal sociedade todas as bases dogmáticas do pensamento foram gradualmente substituídas por um sistema no qual todas as reivindicações se tornam abertas à auto-correção racional, ficando expostas a demandas por justificativas conceitualmente articuladas. Como Pinkard apontou naquele trabalho, essa era uma concepção das práticas normativamente estruturadas da razão humana que encontramos no pragmatista americano Wilfrid Sellars, a inspiração por trás das dimensões hegelianas de filósofos analíticos como Willem deVries (1988), Robert Brandom e John McDowell.
Algo do método fenomenológico de Hegel pode ser transmitido pelos primeiros capítulos, que talvez estejam entre suas partes mais convencionalmente filosóficas (Westphal 2009). Os capítulos 1 a 3 seguem, de fato, uma série de desenvolvimento de formas distintas de consciência — atitudes epistemológicas e ontológicas conjuntas e articuladas por critérios que são, vistos de um lado, critérios para o conhecimento certo e, de outro, critérios para a natureza dos objetos desse conhecimento. No capítulo 1, a atitude da Certeza-dos-Sentidos considera os simples perceptuais imediatamente dados — o tipo de papel desempenhado pelos chamados dados dos sentidos da epistemologia analítica do início do século XX, por exemplo, com os quais um sujeito está supostamente familiarizado como simples istos — como sendo os objetos fundamentais conhecidos. Ao acompanhar as tentativas dessa forma de consciência de explicitar esses critérios implícitos, devemos perceber que todos esses conteúdos, mesmo os aparentemente mais imediatos, são de fato apreendidos conceitualmente e, portanto, na terminologia de Hegel, sua recepção é de fato mediada pelos conceitos com os quais são apreendidos. Hegel deixa claro que esses conteúdos não são meramente simples qualitativos que são imediatamente apreendidos, mas instâncias compreendidas da determinação conceitual da singularidade [Einzelheit] (Phen: §91). Esse simples isto, então, também pode ser entendido como uma instância do que os medievais discutiam como coisidade — uma propriedade geral de uma coisa individual ser idêntica a si mesma. Pode-se comparar o argumento de Hegel aqui com o que Kant expressou em sua conhecida afirmação da Crítica da Razão Pura (A51/B75), de que, sem conceitos gerais, as intuições (representações mentais supostamente imediatas no singular [einzeln]) são cegas. No entanto, Hegel parece querer defender esse ponto sem se basear na distinção formal de Kant entre conceitos e intuições como espécies diferentes de representação. A idéia parece ser que, para Hegel, o mesmo conteúdo pode desempenhar os papéis desempenhados pelos conceitos e intuições em Kant. (As lições desse capítulo foram algumas vezes comparadas às da famosa crítica de Wilfrid Sellars ao mito empirista do dado).
Ao final deste capítulo, nossa consciência como protagonista (e, por implicação, nós, o público desse drama) aprendeu que a natureza da consciência não pode ser tal como pensada originalmente: em vez de ser imediata e singular, seu conteúdo deve ter algum aspecto universal (conceitual) implícito. A verdade geral que foi aprendida sobre os simples qualitativos aparentes na certeza-dos-sentidos (que eles eram instâncias de gerais) é agora explicitamente considerada como a verdade do objeto da Percepção (Wahrnehmung — em alemão, esse termo tem a conotação de tomar (nehmen) como verdadeiro (wahr)). Em contraste com o suposto objeto único da certeza-dos-sentidos, o objeto da percepção é considerado como instanciando propriedades gerais: ele é “uma coisa com muitas propriedades” (Phen: §112). Mas isso pode ser concebido de várias maneiras: primeiro, como um simples feixe de qualidades indiferentes (uma imagem que está associada a Platão), ou como um substrato subjacente no qual essas qualidades de alguma maneira são inerentes (uma imagem que está associada a Aristóteles). Previsivelmente, os problemas serão revelados nessas várias maneiras diferentes de pensar sobre a natureza desses objetos cotidianos de nossa experiência.
Assim como no caso do Certeza-dos-sentidos, aqui no caso da Percepção, ao acompanhar os esforços da consciência protagonista para tornar esse critério implícito em explícito, vemos como o critério gera contradições que acabam por miná-lo enquanto critério de certeza. De fato, esse colapso em um tipo de ceticismo auto-gerado é típico de todas as formas que seguimos na obra, e parece haver algo inerentemente cético em tais processos cognitivos reflexivos. No entanto, esse não é o tipo de ceticismo típico do início da filosofia moderna, como o usado por Descartes em sua tentativa de encontrar algum fundamento de indubitabilidade sobre o qual o conhecimento genuíno possa ser construído (Forster, 1989). Como fica claro em seu tratamento da filosofia antiga nas Conferências sobre a História da Filosofia, Hegel foi atraído pelo tipo de dialética empregada por Sócrates em seus esforços para fazer com que seus interlocutores pensassem em algo que fosse além do que era dado imediatamente na sensação (LHP II: 51), e que estava implícita na forma antiga de ceticismo que havia sido empregada depois de Sócrates (LHP II: 344). Para Hegel, os antigos céticos conseguiram captar o momento cético do pensamento, que é o meio pelo qual o pensamento progride para além das categorias particulares que deram origem às contradições. Da mesma maneira que uma nova forma de pensamento, a Percepção, foi gerada a partir das contradições internas que surgiram dentro da Certeza-dos-sentidos, o colapso de qualquer atitude será acompanhado pelo surgimento de algum novo critério implícito que será a base de uma nova atitude emergente. No caso da Percepção, a nova forma emergente de consciência, a Compreensão, explorada no Capítulo 3, é uma forma identificada com o tipo de cognição científica que, em vez de permanecer no nível do objeto percebido, postula forças subjacentes envolvidas na produção do episódio perceptual.
A transição do Capítulo 3 para o Capítulo 4, A Verdade da Auto-certeza, também marca uma transição mais geral da Consciência para a Auto-consciência. É no decorrer do Capítulo 4 que encontramos o que talvez seja a parte mais conhecida da Fenomenologia, o relato da luta pelo reconhecimento em que Hegel examina as condições intersubjetivas que ele vê como necessárias para qualquer forma de consciência. Esse é um tópico que foi abordado pela primeira vez por Alexandre Kojève (1969) e que, recentemente, tem sido usado de maneiras não-Kojèveanas por vários intérpretes não-tradicionais, a fim de apresentar relatos bastante diferentes da noção de Espírito em Hegel (Honneth 1995; Ikäheimo e Laitinen 2011; Pippin 2008; Williams 1992, 1997).
Assim como Kant, Hegel acredita que a capacidade de alguém estar consciente de algum objeto externo como sendo algo distinto de si próprio requer a reflexividade da auto-consciência, ou seja, requer a consciência de si mesmo como sendo um sujeito para o qual algo distinto, o objeto, é apresentado como conhecido (um resultado que surge no Capítulo 3). No entanto, Hegel vai além de Kant e, expandindo uma noção que se encontra em Fichte, faz com que essa exigência dependa do reconhecimento (ou atenção — Anerkennung) de outros sujeitos com auto-consciência enquanto sujeitos com auto-consciência para os quais qualquer objeto de consciência será pensado como também existente. A auto-consciência de alguém, de fato, dependerá do reconhecimento desses outros como também reconhecendo a si próprios como sujeitos auto-conscientes. Esses padrões complexos de reconhecimento mútuo, que constituem o espírito objetivo, fornecem a matriz social dentro da qual as auto-consciências individuais podem existir como tais. É dessa maneira que a Fenomenologia pode mudar de curso, o rastreamento anterior das formas de consciência individual e auto-consciência sendo efetivamente substituído pelo rastreamento de padrões distintos de reconhecimento mútuo entre sujeitos — formas de espírito — que formam a base para a existência dessas consciências/auto-consciências individuais.
Foi assim que Hegel fez a transição de uma fenomenologia da mente subjetiva do indivíduo para uma fenomenologia do espírito objetivo, considerado como padrões objetivos culturalmente distintos de interação social a serem analisados em termos dos padrões de reconhecimento recíproco que eles incorporam. (“Geist” pode ser traduzido como “mente” ou “espírito”, mas o último, que permite um sentido mais cultural, como na frase “espírito da época” (“Zeitgeist“), parece uma tradução mais adequada para o título). Entretanto, isso só é trabalhado no texto gradualmente. Nós — a leitura ou o chamado “nós fenomenológico” — podemos ver como formas específicas de auto-consciência, como a auto-consciência religiosa do outro mundo (“Consciência infeliz”), com a qual o Capítulo 4 termina, dependem de certas formas institucionalizadas de reconhecimento mútuo, nesse caso envolvendo um padre que faz a mediação entre o sujeito auto-consciente e o Deus desse sujeito. Contudo, estamos vendo isso “de fora”, por assim dizer: ainda temos que aprender como as auto-consciências atuais poderiam aprender isso por si mesmas. Portanto, temos que ver como a auto-consciência do protagonista poderia alcançar esse insight. É com esse objetivo que traçamos o caminho de aprendizado da auto-consciência por meio dos processos da razão (no Capítulo 5) antes que o espírito objetivo possa se tornar o assunto explícito do Capítulo 6 (Espírito).
A discussão de Hegel sobre o espírito começa com o que ele chama de Sittlichkeit (traduzido como “ordem ética” ou “substância ética” — sendo “Sittlichkeit” uma nominalização da forma adjetiva (ou adverbial) “sittlich“, “costumeiro”, do radical “Sitte“, “costume” ou “convenção”). Assim, Hegel pode ser visto como adotando o ponto de vista de que, uma vez que a vida social é ordenada por costumes, podemos abordar a vida daqueles que vivem nela em termos dos padrões desses costumes ou convenções em si — as práticas convencionais, por assim dizer, constituindo formas de vida específicas e compartilháveis, tornadas atuais na vida de indivíduos específicos que, por sua vez, internalizaram esses padrões gerais no processo de aculturação. Não é de surpreender, portanto, que sua descrição do espírito aqui comece com uma discussão sobre a lei religiosa e cívica. Sem dúvida, é uma tendência de Hegel de nominalizar esses conceitos abstratos em sua tentativa de capturar a natureza concreta desses padrões da vida convencional, juntamente com a tendência de personificá-los (como ao falar sobre o espírito se tornar auto-consciente) que dá plausibilidade ao entendimento tradicionalista sobre Hegel. Todavia, para os não-tradicionalistas, não é óbvio que Hegel, ao empregar tais frases, esteja de alguma maneira comprometido com qualquer ser ou seres metafísicos supra-individuais conscientes. Para dar um exemplo, na segunda seção do capítulo sobre o espírito, Hegel discute a cultura humana como o “mundo do espírito auto-alienado”. A concepção parece ser a de que os seres humanos em sociedade não apenas interagem, mas também criam coletivamente produtos culturais relativamente duradouros (histórias que se repetem, dramas que podem ser encenados e assim por diante) nos quais os membros dessa sociedade podem reconhecer os padrões de sua própria vida comunitária refletidos dessa maneira. Podemos considerar inteligível a metáfora de que esses produtos “sustentam um espelho para a sociedade” no qual “a sociedade pode se ver”, sem pensar que estamos comprometidos com uma mente unitária supra-individual que alcança a auto-consciência. Ademais, esses produtos culturais fornecem condições para que os indivíduos adotem atitudes cognitivas específicas ao se apropriarem de seus recursos. Assim, por exemplo, a capacidade de adotar o tipo de ponto de vista objetivo exigido pela moralidade kantiana (discutida na seção final do Espírito) — a capacidade de ver as coisas, por assim dizer, de um ponto de vista distanciado ou universal — pode ser possibilitada pelo envolvimento com as “alienações” do espírito, como os mitos e rituais de uma religião que professa um escopo universal.
Poderíamos pensar que, se Kant tivesse escrito a Fenomenologia de Hegel, ele a teria terminado no Capítulo 6 com o sujeito moral moderno como sendo o telos da história. Para Kant, o conhecimento prático da moralidade, que orienta a pessoa dentro do mundo noumenal, excede o escopo do conhecimento teórico, que se limitava aos fenômenos. Hegel, no entanto, achava que a filosofia tinha de unificar o conhecimento teórico e prático e, por isso, a Fenomenologia tem mais a avançar. Novamente, isso é visto de forma diferente por tradicionalistas e revisionistas. Para os tradicionalistas, os capítulos 7, Religião, e 8, Conhecimento Absoluto, atestam a desconsideração de Hegel pela limitação crítica de Kant do conhecimento teórico à experiência empírica. Os revisionistas, por outro lado, tendem a ver Hegel como promovendo a crítica kantiana dentro da própria coerência de uma concepção de uma realidade em si mesma que está para além dos limites de nossa cognição teórica (mas não prática). Em vez de entender o conhecimento absoluto como a conquista de uma visão divina definitiva sobre tudo, o análogo filosófico da conexão com Deus buscada na religião, os revisionistas pós-kantianos o vêem como a adesão a um modo de pensamento auto-crítico que finalmente abandonou todos os dados míticos não-questionáveis e que só aceitará o argumento da razão como justificativa. Independentemente de como entendemos isso, o conhecimento absoluto é o ponto de vista ao qual Hegel esperava levar o leitor nessa obra complexa. Esse é o ponto de vista da ciência, o ponto de vista a partir do qual a filosofia propriamente dita começa, e ela começa no próximo livro de Hegel, a Ciência da Lógica.
3.1.2 Ciência da Lógica
A Ciência da Lógica de Hegel é dividida em três livros, que tratam dos tópicos do ser, da essência e do conceito, publicados em 1812, 1813 e 1816, respectivamente. Durante a maior parte do século XX, essa obra não foi recebida com o entusiasmo que geralmente marcou a recepção da Fenomenologia do Espírito. Primeiro, como obra de lógica, a maioria a considerou radicalmente ultrapassada e baseada em uma abordagem aristotélica que foi definitivamente superada no final do século XIX — uma visão promovida especialmente por Bertrand Russell nos primeiros anos do século XX. Assim, muitos leitores que simpatizam com determinadas doutrinas de Hegel tentaram, ao contrário da insistência de Hegel, colocar em quarentena sua abordagem filosófica em áreas específicas. Recentemente, esse ceticismo começou a mudar.
Alguns defendem que a Ciência da Lógica seja lida como uma doutrina ontológica de primeira ordem (Doz 1987) ou como uma teoria das categorias que representa simultaneamente as estruturas do ser e do pensamento (Houlgate 2005b) e, portanto, tem muito pouco a ver com o que tradicionalmente é conhecido como lógica. Outros argumentam que, em contraste com o projeto da lógica formal (ou geral), ela é melhor entendida como uma versão do que Kant chamou de “lógica transcendental” (di Giovanni 2010). Nesse sentido, ela deve ser pensada como uma sucessora da “dedução transcendental das categorias” de Kant na Crítica da Razão Pura, na qual Kant tentou derivar uma lista desses conceitos não empíricos, as categorias, que ele acreditava serem pressupostas por todos os julgamentos empíricos feitos por conhecedores finitos e discursivos como nós. Em suma, considerar a lógica como uma teoria das categorias abre duas linhas gerais de interpretação: as categorias devem ser entendidas como categorias primordialmente ontológicas, tal como encontradas em Aristóteles, ou como categorias primordiais que revelam a estrutura necessária do pensamento, como em Kant? Aqueles, como os defensores da interpretação metafísica revisada, que interpretam Hegel como sendo basicamente um metafísico, geralmente enfatizam a primeira, enquanto os intérpretes pós-kantianos geralmente enfatizam a segunda.
Um olhar sobre o índice da Ciência da Lógica revela a mesma estruturação triádica entre as categorias ou determinações do pensamento tratadas que se observou entre as formas da consciência na Fenomenologia. No nível mais alto de sua estrutura ramificada estão os três livros dedicados às doutrinas do ser, da essência e do conceito, enquanto, por sua vez, cada livro tem três seções, cada seção contendo três capítulos, e assim por diante. Em geral, cada um desses nódulos individuais trata de alguma categoria específica. De fato, as tríades categoriais de Hegel parecem repetir a maneira triádica própria de Kant de articular as categorias na Tabela de Categorias (Crítica da Razão Pura A80/B106), na qual o terceiro termo da tríade integra de alguma maneira os dois primeiros. (Na terminologia de Hegel, ele diria que os dois primeiros foram sublimados [aufgehoben] no terceiro — enquanto os dois primeiros são negados pelo terceiro, eles continuam a funcionar dentro do contexto definido por ele). O tratamento posterior que Hegel dá ao silogismo no Livro 3, no qual ele segue o próprio esquema de três termos de Aristóteles da estrutura silogística, repete essa estrutura triádica, assim como sua análise final de seus conceitos componentes como os momentos de universalidade, particularidade e singularidade.
Ao ler o primeiro capítulo do Livro 1, Ser, percebe-se rapidamente que as transições da Lógica repetem, em linhas gerais, as dos primeiros capítulos da Fenomenologia, agora, porém, entre as próprias categorias e não entre as concepções dos respectivos objetos da experiência consciente. Assim, o ser é a determinação do pensamento com a qual a obra começa porque, a princípio, ele parece ser a determinação mais imediata e fundamental que caracteriza qualquer conteúdo de pensamento possível. (Em contraste, o ser no capítulo da Fenomenologia sobre a certeza-dos-sentidos foi descrito como a verdade conhecida do suposto dado sensorial imediato — a categoria que se descobriu instanciar). Qualquer que seja o tema do pensamento, esse tema deve, em algum sentido, existir. Assim como os supostos dados sensoriais simples com os quais a Fenomenologia começa, a categoria ser parece não ter estrutura interna ou constituintes, mas, mais uma vez, em um paralelo com a Fenomenologia, trata-se do esforço do pensamento para tornar essa categoria explícita, o que tanto a enfraquece quanto cria novas categorias. O ser parece ser tanto imediato como simples, mas ele se mostrará, de fato, apenas algo que se opõe a outra coisa, o nada. A questão parece ser o fato de que, embora as categorias ser e nada pareçam absolutamente distintas e opostas, na reflexão (e seguindo o princípio de Leibniz da identidade dos indiscerníveis) elas parecem idênticas, pois nenhum critério pode ser invocado para diferenciá-las. A única maneira de sair desse paradoxo é postular uma terceira categoria dentro da qual eles possam coexistir como momentos negados (Aufgehoben). Essa categoria é o devir, que salva o pensamento da paralisia porque acomoda ambos os conceitos. O devir contém o ser e o nada, no sentido de que, quando algo se torna, passa, por assim dizer, do nada para o ser. Porém, esses conteúdos não podem ser compreendidos separadamente de suas contribuições para a categoria abrangente: isso é o que significa ser negado (aufgehoben) dentro da nova categoria.
Em geral, é assim que a Lógica procede: buscando sua determinação mais básica e universal, o pensamento postula uma categoria sobre a qual refletir, descobre que ela entra em colapso devido a uma contradição gerada, tal como a que foi gerada pela categoria ser, e então busca uma outra categoria com a qual possa dar sentidos retrospectivos a essas categorias contraditórias. No entanto, por sua vez, a nova categoria gerará alguma outra negação contraditória e, novamente, surgirá a demanda por um outro conceito que possa reconciliar esses conceitos opostos, incorporando-os como momentos.
O método que Hegel emprega aqui, a negação determinada, é frequentemente comparado ao princípio de Espinosa de que “toda determinação é negação”, mas, embora o método de Hegel esteja relacionado ao pensamento de Espinosa, ele não pode ser identificado ou reduzido a ele. A determinação de cima para baixo feita por Espinosa começa com uma única categoria (no caso dele, a substância divina) que é então progressivamente dividida pela aplicação de conceitos — o modelo é o método de divisão de Platão, no qual um conceito de genus é dividido em espécies particulares pela presença ou ausência de alguma propriedade diferenciadora. Do ponto de vista de Hegel, no entanto, isso não pode compreender os indivíduos como sendo apenas partes de um todo maior — um quadro metafísico em relação a Espinosa que ele chama de acosmismo. Assim, Hegel equilibrará esse tipo de determinação por negação com um tipo diferente de negação modelada sobre aquela que se mantém entre propriedades incompatíveis de algum objeto (por exemplo, vermelho e azul como cores incompatíveis) e que se reflete no termo negação da lógica de Aristóteles. Isso permite que Hegel vá para além da determinação de algo como particular (sugerindo a relação parte-todo) para um sentido mais robusto de singularidade [Einzelheit] — o sentido da pura coisidade visto inicialmente no capítulo da Certeza-dos-sentidos da Fenomenologia, cuja verdade foi então demonstrada como a idéia de Aristóteles da forma substancial de uma coisa individual no capítulo da Percepção. É em termos dessa categoria que podemos pensar, juntamente com Aristóteles, que uma coisa tem um substrato subjacente dentro do qual as propriedades são inerentes e que, diferentemente das próprias propriedades, não pode ser pensado em termos gerais, mas apenas em termos da categoria de singularidade. E, no entanto, isso encontrará um problema para a determinação desse substrato subjacente — isso terá que encontrar contrastes determinantes que permitam que isso seja concebido de forma determinada. (No Livro 2 da Lógica, aprenderemos que a categoria de singularidade dependerá da particularidade, assim como foi demonstrado que a particularidade depende da singularidade. Os substratos singulares ou “essências” só podem ser conhecidos em relação às propriedades gerais que constituem suas aparências).
A tentativa de desvendar os meandros dos padrões de dependência entre essas categorias será tarefa desse trabalho gigantesco, mas aqui é possível fazer uma observação geral. Se o pensamento de Hegel for considerado holístico, como o de Espinosa, ele o é apenas em um nível mais alto de abstração, de modo que essas determinações de singularidade, particularidade e universalidade não podem ser compreendidas isoladamente umas das outras, mas apenas por meio de suas complexas interações. Hegel só explora explicitamente os detalhes das interações dessas determinações de conceitualidade em sua discussão sobre julgamentos e silogismos no Livro 3, A Doutrina do Conceito, sugerindo que as preocupações com a lógica, tal como tradicionalmente concebidas, não são tão irrelevantes para a Ciência da Lógica como se pensa. Entretanto, o ponto geral que separa sua abordagem da de Espinosa emerge claramente no início. A negação determinada não é o princípio de Espinosa, pois o princípio de Espinosa pressupõe um todo que precede suas partes e que todas as negações são negações de algo que é primitivamente positivo. Em contraste, as negações de Hegel serão negações de determinações que já devem ser concebidas como negações em si mesmas.
O outro princípio metodológico básico da Lógica será o de que essa infraestrutura categórica do pensamento pode ser descompactada usando apenas os recursos disponíveis ao próprio pensamento: a capacidade do pensamento de tornar seu conteúdo determinado (de uma maneira parecida com o que Leibniz pensou ao tornar claras, embora confusas, as idéias nítidas e distintas) e sua capacidade de ser consistente e evitar a contradição. Alguns leitores acham que isso torna a lógica de Hegel semelhante à lógica transcendental de Kant que, em vez de tratar a forma pura do pensamento abstraída de todo conteúdo, trata o pensamento como já possuidor de um certo tipo de conteúdo auto-gerado (na terminologia de Kant, “conteúdo transcendental”) que é pressuposto pela aquisição subsequente de todo conteúdo empírico. No entanto, se a lógica de Hegel é semelhante à lógica transcendental de Kant, ela também tem diferenças claras. Para Kant, a lógica transcendental era a lógica que governava o pensamento de pensadores finitos como nós, cuja cognição era restringida pela necessidade de aplicar conceitos discursivos gerais aos conteúdos singulares dados em intuições sensoriais, e ele contrastava isso com o pensamento de um tipo de pensador não tão restringido — Deus —, um pensador cujo pensamento podia apreender diretamente o mundo em um tipo de intuição intelectual. Embora as opiniões se dividam sobre como a abordagem de Hegel à lógica se relaciona com a de Kant, é importante entender que, para Hegel, a lógica não é simplesmente uma ciência da forma de nossos pensamentos. Ela também é uma ciência do conteúdo atual e, como tal, tem uma dimensão ontológica.
As determinações do pensamento do Livro 1 acabam levando às do Livro 2, A Doutrina da Essência. Naturalmente, as estruturas e os processos lógicos implícitos no pensamento-essência são mais desenvolvidos do que os do pensamento-ser. Crucialmente, o par contrastante entre essência e aparência da essência-lógica permite o pensamento de alguma realidade subjacente que se manifesta por meio de uma aparência sobreposta diferente, da mesma maneira que as forças postuladas pelas operações do Entendimento (exploradas no Capítulo 3 da Fenomenologia) são apreendidas por meio das aparências que elas explicam. Em contraste, as categorias do Ser-lógico parecem governar processos de pensamento que se restringem a fenômenos qualitativos e suas coordenações. Contudo, a distinção entre essência e aparência deve instanciar a relação de negação determinada, e a tendência metafísica de pensar na realidade como composta de alguns substratos subjacentes, em contraste com as aparências superficiais, acabará por se deparar com a descoberta de que a noção de uma essência só é significativa em virtude da aparência que ela pretende explicar. (Em termos das categorias conceituais últimas de singularidade, particularidade e universalidade, essa descoberta seria equivalente a compreender a noção de que a singularidade do substrato subjacente e não perceptível ou da forma substancial é significativa apenas em relação a algo que pode suportar as qualidades particulares que constituem sua aparência mundana). Para Hegel, são as complexas versões modernas, mas pré-kantianas, da metafísica da substância, como as de Espinosa e Leibniz, que trazem à tona, da maneira mais desenvolvida, a natureza inerentemente contraditória dessa forma de pensamento.
O Livro 3, A Doutrina do Conceito, efetua uma mudança da Lógica Objetiva dos Livros 1 e 2 para a Lógica Subjetiva e, metafisicamente, coincide com uma mudança para a moderna teoria de Kant da categoria baseada no sujeito. Assim como a filosofia kantiana é fundada em uma concepção de objetividade assegurada pela coerência conceitual, o conceito-lógica começa com o próprio conceito do próprio conceito, com seus momentos de singularidade, particularidade e universalidade. Enquanto nos dois livros de lógica objetiva, o movimento foi entre conceitos particulares, ser, nada, tornar-se etc., na lógica subjetiva, as relações conceituais são apreendidas em um meta-nível, de modo que o conceito de conceito tratado no Capítulo 1 da seção 1 (Subjetividade) passa para o de julgamento no Capítulo 2. É importante compreender os contornos básicos do tratamento dado por Hegel ao julgamento, pois ele informa seu tratamento subsequente da inferência.
Reprisando um ponto etimológico feito por Hölderlin, Hegel observa que um julgamento (Urteil) envolve uma separação (Teilung) de partes: em termos básicos, um predicado é dito de algum sujeito, dando ao julgamento a forma gramatical “S é P”, mas ao dizer “S é P”, o sujeito julgador afirma a unidade existente entre as partes. S e P são, portanto, (1) diversos, mas (2) formam uma unidade — uma situação com a qual estamos familiarizados agora em termos da Aufhebung das partes em um todo. Hegel considera que isso sinaliza duas maneiras de pensar a relação do sujeito e do predicado no julgamento. Pode-se considerar os termos sujeito e predicado como entidades auto-subsistentes que são unidas no julgamento, ou pode-se considerar o próprio julgamento como a unidade primária que se divide em termos de sujeito e predicado. Isso, de fato, coincide com as duas maneiras diferentes pelas quais as relações lógicas foram concebidas na história da filosofia: a primeira representa a abordagem termo-lógica característica de Aristóteles, enquanto a segunda representa a abordagem proposicional característica dos estóicos e de grande parte da filosofia recente. Do primeiro ponto de vista, pensa-se no termo sujeito como designando uma substância, tipicamente entendida como uma instância de um tipo, na qual propriedades, designadas por termos predicados, são inerentes. Do último ponto de vista, pensa-se nos termos predicados como universais abstratos que subsumem ou são satisfeitos por entidades às quais os termos sujeitos se referem, uma abordagem que concebe o conteúdo proposicional, na terminologia dos estóicos — o lecton, o-que-é-dito — como tendo uma primazia sobre as partes. Usando uma distinção dos medievais, podemos descrever o primeiro tipo de julgamentos como de re (sobre coisas) e o segundo como de dicto (sobre palavras). Essas abordagens alternativas de união e divisão podem, por sua vez, ser aplicadas à relação de julgamentos dentro de inferências ou silogismos. Embora seja mais comum que as inferências sejam consideradas como compostas de julgamentos que têm seus próprios valores de verdade, os próprios julgamentos podem ser considerados como ganhando seu significado por meio do papel que desempenham nas inferências, paralelamente à maneira como as partes do julgamento podem ser consideradas como resultantes da divisão do julgamento. Na teoria semântica recente, Robert Brandom defendeu essa análise inferencialista e sugeriu essa maneira de entender a lógica de Hegel (Brandom 2014), uma visão que se encaixa na concepção de Hegel de que o silogismo é a “verdade do julgamento” (SL: 593). Pensada em termos da estrutura da lógica transcendental de Kant, a posição de Hegel seria semelhante a permitir que as inferências — silogismos — desempenhem um papel na determinação do conteúdo transcendental dos juízos, um papel que não é admitido em Kant.
Como dissemos, a lógica de Hegel tem a intenção de gerar um conteúdo — produzir um tipo de ontologia — e isso entra em foco explícito com a afirmação intrigante de Hegel no Livro 3 a respeito de um silogismo que se tornou “concreto” e “cheio de conteúdo” e que, portanto, tem existência necessária (SL: 616-7). Em contraste com Kant, Hegel parece ir além de uma dedução transcendental das condições formais da experiência e do pensamento e de uma dedução de suas condições materiais. Os tradicionalistas apontarão aqui para as alusões de Hegel à prova ontológica (SL: 625) da teologia medieval, na qual a existência de Deus é vista como necessária por seu conceito — um argumento minado pela crítica de Kant ao tratamento da existência como um predicado. Na versão de Hegel, diz-se, a existência objetiva que Deus alcança no mundo é vista como necessária por sua auto-consciência essencial. Leituras não tradicionais, em contraste, teriam que interpretar esse aspecto da lógica de Hegel de forma muito diferente. A interpretação inferencialista de Brandom sobre Hegel, quando associada a idéias extraídas do tratamento de Hegel da auto-consciência na Fenomenologia, sugere um caminho a seguir.
A primeira coisa a ser enfatizada aqui é que não devemos pensar nos julgamentos e em seus conteúdos como algo semelhante a conteúdos mentais — estados subjetivos ou psicológicos da mente de um pensador. Essa atitude psicológica foi combatida por Hegel, assim como foi combatida por uma figura tão importante para a lógica moderna como Gottlob Frege. Para Frege, os pensamentos não são mentais, mas sim entidades abstratas, como os números. Portanto, o problema que enfrentamos não é o de passar dos conteúdos mentais para o mundo concreto, mas sim o de passar dos abstratos para os concretos. Entretanto, aqui devemos ter em mente a dupla maneira de Hegel pensar sobre os julgamentos, de dicto e de re, e embora seja comum pensar no conteúdo dos julgamentos de dicto como abstrato (aqui é comum pensar no conteúdo como proposicional), alguns pensaram no conteúdo dos julgamentos de re como incluindo a própria coisa (o “re“) sobre a qual o julgamento é feito. (De fato, Bertrand Russell, em alguns momentos de sua carreira, alimentou essa noção do próprio conteúdo proposicional). Assim, quando Hegel caracteriza algumas estruturas de julgamento (tipicamente julgamentos baseados na percepção) como julgamentos de existência, pode-se considerar a própria coisa percebida como parte direta do conteúdo do julgamento. Trata-se de um objeto concreto, mas não apreendido como um simples concreto, e sim apreendido em relação ao que é julgado sobre ele no predicado. E, na medida em que os julgamentos podem ser considerados componentes de silogismos, podemos entender como os silogismos podem ter se tornado contantes em um processo que culminou no concreto silogismo da necessidade.
Se o objeto concreto de um juízo de re é efetivamente o que foi considerado no Capítulo 2, Percepção, da Fenomenologia (a coisa com propriedades), podemos agora imaginar para onde se dirige o pensamento de Hegel nessas seções da lógica subjetiva. Na Fenomenologia, verificou-se que a capacidade de um sujeito entreter objetos de consciência, tais como os perceptuais, era o fato de esse sujeito ser capaz de auto-consciência. Em seguida, verificou-se que, para ser capaz de auto-consciência, o sujeito tinha que existir em um mundo com outros sujeitos corporificados cujas intenções ele pudesse reconhecer. É aqui que podemos pegar a sugestão de Robert Brandom, seguindo Sellars, de que deveríamos pensar na existência de processos inferenciais ou processos de raciocínio como pressupondo a participação em interações sociais comunicativas nas quais a realização de uma afirmação é considerada como um movimento em um jogo de linguagem de “dar e pedir razões”. Em suma, podemos pensar no silogismo da necessidade de Hegel, que constitui o fundamento ou a “verdade” da anterior concepção formal de silogismos, como um tipo de prática intersubjetiva que incorpora o pensamento — um tipo de prática silogística que é necessariamente intersubjetiva e reconhecedora. Formalmente considerado, poderíamos pensar nesse silogismo como a esquematização lógica da forma mais desenvolvida de reconhecimento, na qual os pensadores reconhecem os outros como pensadores livres.
Sugeri que, no silogismo da necessidade, com o qual o tratamento de Hegel da inferência termina, temos um vislumbre de um tipo de processo racional dinâmico e de conteúdo que se desdobra em meio às interações de reconhecimento e comunicação entre seres vivos finitos e intencionais. O que vemos aqui é uma retomada da concepção do logos como um processo objetivo que percorre o mundo, tal como foi concebido pelos antigos estóicos e neoplatônicos. Mas agora ele está incorporado não apenas no mundo como tal — na natureza — mas no espírito objetivado, nas comunidades humanas de pensadores. Voltamos agora ao domínio da objetividade que caracterizou os Livros 1 e 2 da Ciência da Lógica, mas podemos esperar que esse retorno a partir da subjetividade tenha efetuado uma mudança na objetividade, conforme entendida anteriormente.
Passar diretamente para a consideração da objetividade do mundo humano de ação e pensamento — o espírito — seria quebrar o padrão de desenvolvimento da lógica, pois o pensamento sobre uma forma tão complexa de existência objetiva pressuporá o pensamento sobre formas mais simples. E assim, o ponto de partida para a consideração da objetividade será novamente o do objeto simples como algo imediatamente apreendido pelo pensamento. Porém, esse objeto agora pode ser desenvolvido com o elaborado aparato conceitual que surgiu na seção anterior. A progressão aqui será de um conceito ingênuo e imediato de um objeto como uma coisa simples e autônoma, uma coisa com sua identidade centrada em si mesma, por meio da noção mais complexa de um objeto como apreendido nos interstícios do pensamento físico e químico, até os modelos de sistemas teleológicos e vivos. A Lógica, então, passa a considerar o “conceito adequado, o objetivamente verdadeiro, ou o verdadeiro como tal” (SL: 670). Esse conceito adequado é a Idéia, que, após passar por considerações sobre o indivíduo vivo e a cognição teórica e prática, emerge como a Idéia Absoluta.
3.2 O Sistema da Enciclopédia de Hegel e Suas Expansões
Como já mencionamos, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel foi escrita como um manual de ensino, cujas várias partes foram posteriormente ampliadas em cursos de palestras dedicados a partes específicas do sistema. A primeira parte da Enciclopédia é essencialmente uma versão condensada de sua anterior Ciência da Lógica, considerada acima. Passaremos a análise dessa obra ao próximo componente da Enciclopédia, a Filosofia da Natureza de Hegel.
3.2.1. Filosofia da natureza
A Filosofia da Natureza de Hegel (publicada pela primeira vez como tal em 1842 e baseada nos §§245-376 da Enciclopédia de 1830, complementada por material e transcrições de alunos das palestras de Hegel em Berlim) tem sido frequentemente condenada pela alegação de que Hegel simplesmente descartou a atividade das ciências naturais, especialmente a ciência newtoniana, por basear-se nas inadequações por parte do Entendimento e, em seu lugar, tentou de alguma forma deduzir o mundo natural a partir de primeiros princípios filosóficos. Recentemente, no entanto, começaram a surgir defesas da filosofia da ciência de Hegel, especialmente do lado dos intérpretes da metafísica reformada de Hegel. Assim, Westphal (2008), por exemplo, argumentou que a filosofia da natureza de Hegel representa, na verdade, uma tentativa sofisticada de pensar por meio de suposições epistemológicas que são pressupostas pelo desenvolvimento da teoria de Newton. Defendendo a filosofia da ciência de Hegel a partir de um ponto de vista semelhante, James Kreines (2008) argumentou sobre a relevância das categorias lógicas de Hegel para as ciências biológicas de sua época. Não tentaremos aqui apresentar tais argumentos, mas antes que qualquer reavaliação do trabalho de Hegel possa ser feita, é preciso abordar a crítica fundamental levantada acima sobre um projeto que tenta basear uma filosofia da natureza em sua lógica e não nas ciências empíricas. Não estaria Hegel simplesmente tentando se antecipar ao trabalho dos cientistas empíricos, buscando, de alguma maneira, antecipar o próprio conteúdo de suas descobertas apenas com base em considerações lógicas?
Essa objeção é frequentemente resumida sob o slogan “deduzindo a caneta de Krug”, já que em 1801 o filósofo W.T. Krug acusou a filosofia idealista da natureza de Schelling de tentar deduzir a natureza de todos os fenômenos contingentes, até mesmo a da caneta com a qual ele, Krug, estava escrevendo sua crítica. Hegel respondeu à acusação de Krug no ano seguinte, afirmando que Krug havia cometido o erro comum de confundir o entendimento com a razão e tratar o Absoluto como algo que está no mesmo nível das coisas finitas.
Naquela época, Hegel estava estreitamente alinhado com as opiniões de Schelling e separaria suas próprias opiniões das de Schelling nos anos seguintes, até escrever a Fenomenologia do Espírito. No entanto, Hegel claramente achava que seu ponto de vista era válido independentemente da relação de seus pontos de vista com os de Schelling, pois ele faria observações semelhantes contra Krug em um comentário adicionado à Filosofia da Natureza dos períodos de Heidelberg e Berlim. Embora a lógica não deva se restringir à “forma” de uma “matéria” dada externamente, ainda assim,
é o cúmulo da inutilidade exigir do conceito que ele explique… interprete ou deduza esses produtos contingentes da natureza. (PN: §250, observação. Krug é mencionado explicitamente em uma nota de rodapé nesse ponto).
O ponto é ampliado ainda mais quando se diz que
um erro por parte da filosofia da natureza é a tentativa de enfrentar todos os fenômenos; isso é feito nas ciências finitas, onde tudo deve ser reduzido a concepções gerais (hipóteses). Nessas ciências, o elemento empírico é a única confirmação da hipótese, de modo que tudo tem de ser explicado. (PN: §270, acréscimo)
De acordo com a concepção mais geral de que a filosofia tenta discernir ou reconhecer conceitos em representações (Vorstellungen) ou aparências empíricas, a filosofia da natureza investiga as estruturas conceituais que se manifestam nos produtos do trabalho científico realizado com base nessas aparências.
Os traços de determinação conceitual certamente sobreviverão no produto mais particularizado, embora não esgotem sua natureza. (PN: observação §250)
Claramente, a filosofia da natureza não está competindo com as ciências naturais empíricas; ela toma como seu objeto de estudo os resultados dessas ciências a fim de descobrir nelas as formas particulares em que as estruturas categoriais necessárias deduzidas na lógica são expressas.
Em termos de tópicos tratados, a Filosofia da Natureza coincide amplamente com aqueles que são tratados no terceiro livro da Ciência da Lógica, quando os processos e as relações lógicas em questão retornaram à objetividade após a excursão à subjetividade da lógica formal no início do Livro 3. Em Mecanismo, Hegel reconstruiu um movimento no pensamento a partir de uma cosmologia primitiva na qual todos os objetos são concebidos em relação a um objeto central (o sol) que exemplifica a objetividade per se, para um sistema de objetos no qual qualquer centro auto-suficiente foi eliminado. Nesse mundo newtoniano, aquilo que dá ordem ao todo agora tem a idealidade da lei, mas ela própria é considerada externa ao sistema de objetos.
Após uma Introdução, a Seção Um da Filosofia da Natureza, Mecânica, expande essa progressão por meio de considerações sobre espaço e tempo, matéria considerada como a diversidade de corpos individuais distribuídos no espaço e no tempo e, finalmente, a noção de gravitação universal como o conceito determinado de tal matéria corpórea realizada como idéia (PN: §270). Nas leis da mecânica newtoniana, entretanto, a unidade da matéria ainda é apenas formal e, na Seção Dois, Física, a determinação da forma é agora considerada imanente interna a essa matéria corpórea.
A matéria tem individualidade na medida em que é determinada dentro de si mesma por ter o ser-para-si desenvolvido dentro dela. É por meio dessa determinação que a matéria se liberta da gravidade e se manifesta como implicitamente auto-determinante. (PN: §273)
Enquanto a Mecânica reflete claramente a concepção do preenchimento do espaço da matéria dominante no pensamento britânico, a Física é consistente com a concepção da matéria mais dinâmica, da Europa continental, originada em Leibniz com sua idéia de forças vivas. Dentro dessa estrutura, Hegel tenta organizar uma vasta gama de áreas de investigação física contemporânea, incluindo meteorologia, teorias do som e do calor, luz e eletricidade, até processos químicos que estão no limiar da Física Orgânica, abordados na Seção Três. O estudo dos orgânicos representa um retorno à consideração do corpo individual com o qual a Mecânica havia começado, mas agora considerado como “processo infinito no qual a individualidade determina a si mesma como a particularidade ou finitude que ela também nega, e retorna a si mesma restabelecendo-se no final do processo como o início”. O corpo é agora “uma unidade impregnada e negativa, que, ao se relacionar consigo mesma, tornou-se essencialmente auto-centrada e subjetiva” (PN: §337). A partir dessa concepção, o primeiro corpo a ser considerado é o da própria terra, juntamente com sua história. O Capítulo Dois passa a considerar as plantas e o Capítulo Três, o organismo animal.
Do ponto de vista do conteúdo atual das teorias e abordagens científicas que Hegel resume e localiza em seu sistema, sua Filosofia da Natureza é claramente um produto de seu tempo. No entanto, muitas das questões filosóficas subjacentes tratadas ainda estão longe de serem resolvidas. Assim, embora a física newtoniana tenha se estabelecido de forma clara, fazendo com que a física dinâmica de Leibniz parecesse obsoleta como teoria empírica, ainda se discute se as concepções de espaço-tempo na física pós-newtoniana devem ser concebidas de forma newtoniana ou leibniziana.
3.2.2 Filosofia do espírito subjetivo e objetivo
Na Enciclopédia, a Filosofia da Natureza é seguida pela Filosofia do Espírito (Geist). O padrão triádico usual de Hegel, quando aplicado aqui, resulta em seções dedicadas às filosofias do espírito subjetivo, do espírito objetivo e do espírito absoluto. A filosofia do espírito subjetivo constitui o que mais se aproxima, na filosofia de Hegel, de uma filosofia da mente no sentido contemporâneo, enquanto a filosofia do espírito objetivo diz respeito aos padrões objetivos de interação social e às instituições culturais nas quais o espírito é objetivado nos padrões da vida humana que vimos em ação na Fenomenologia do Espírito. No âmbito do espírito subjetivo, podemos prever que a primeira divisão, a Antropologia, dará continuidade aos tópicos com os quais a Filosofia da Natureza termina — o organismo animal — e assim o faz. Assim, aqui Hegel está preocupado com o que ele chama de “Seele“, “alma” — que parece traduzir mais o termo grego antigo, “psique” — e, portanto, com a relação mente-corpo:
Se a alma e o corpo são absolutamente opostos um ao outro, como sustenta a consciência intelectual abstrativa,
comenta Hegel,
então não há possibilidade de qualquer comunidade entre eles. A comunidade era, no entanto, reconhecida pela metafísica antiga como um fato inegável. (PN: § 389 add)
A Seele da Antropologia não deve, portanto, ser confundida com a concepção subjetiva moderna sobre a mente, tal como exemplificada por Descartes e outros filósofos do início da modernidade. Aristóteles concebeu a alma como a forma do corpo, não como uma substância separada do corpo, e atribuiu almas menores aos animais e até mesmo às plantas. (Mais uma vez, a noção de forma substancial de Aristóteles aparece.) Concomitantemente, nessa seção, Hegel descreve o espírito como afundado na natureza e trata a consciência como amplamente limitada ao que hoje pode ser descrito apenas como consciência senciente ou fenomenal — a alma sensitiva. A consciência no sentido da moderna oposição sujeito-objeto só aparece na segunda seção seguinte, Fenomenologia do Espírito, que, reprisando momentos importantes do livro anterior com esse nome, levanta um problema sobre como devemos entender a relação entre a fenomenologia e a filosofia sistemática: é um caminho para ela ou parte dela? Dado que a abordagem recognitiva à auto-consciência pressupõe que as auto-consciências potenciais são de fato incorporadas e localizadas no mundo, esperaríamos que a mente, conforme tratada na psicologia, não fosse menos incorporada do que a maneira pela qual é concebida na antropologia. O que de fato distingue a mente da psicologia da mente da antropologia são suas capacidades racionais, consideradas em termos que hoje seriam descritos como normativos em vez de simplesmente naturalistas, e isso, para Hegel, sinaliza claramente uma diferença no modo como um sujeito psicológico atual se relaciona com seu próprio corpo. O tipo de pensamento abstrativo encontrado na psicologia não envolve, é claro, tal como nas imagens míticas da metempsicose — um tropo favorito dos platonistas —, que a mente deixe o corpo. Para Hegel, isso seria considerado um pensamento de imagem mítica — uma Vorstellung. Em vez disso, envolve uma certa capacidade do sujeito psicológico de suspender o endosso irrefletido das afirmações feitas em nome de seu corpo, por exemplo, para submeter as evidências fornecidas pelos sentidos a um exame racional.
Dado o modo dialético no qual os textos de Hegel progridem, como já visto na Fenomenologia do Espírito e na Ciência da Lógica, esperamos que as capacidades examinadas na Psicologia dependam, em última instância, daquelas que são consideradas no contexto do espírito objetivo. Nesse sentido, estamos testemunhando, dentro de outro modo, o tipo de progressão visto no movimento da Fenomenologia das formas de consciência para as formas de espírito. A Fenomenologia interna do Espírito parece desempenhar um papel importante no estabelecimento dessa transição da Psicologia para o Espírito Objetivo (Williams 2007), mas também pode ser vista como crucial na relação das dimensões mais cognitivas da Psicologia com o tema da incorporação proeminente na Antropologia (Nuzzo 2013a). Assim, qualquer análise naturalista é, em última análise, ultrapassada por uma análise social e histórica, que não pode ser entendida como anti-naturalista.
A filosofia do espírito subjetivo passa para a do espírito objetivo, que diz respeito aos padrões objetivos de interação social e às instituições culturais nas quais o espírito é objetivado. O livro intitulado Elementos da Filosofia do Direito, publicado em 1821 como um livro didático para acompanhar as palestras de Hegel na Universidade de Berlim, corresponde essencialmente a uma versão mais desenvolvida da filosofia do espírito objetivo e será considerado aqui.
Elementos da Filosofia do Direito
A Filosofia do Direito (como é mais comumente chamada) pode ser lida como uma filosofia política que se mantém independente do sistema (Tunick 1992), apesar do fato de que Hegel pretendia que ela fosse lida contra o pano de fundo do desenvolvimento das determinações conceituais da Lógica. O texto propriamente dito começa com a concepção de um sujeito voluntário singular (compreendido do ponto de vista de sua auto-consciência individual) como portador do direito abstrato. Embora essa concepção do sujeito individual disposto a possuir algum tipo de direito fundamental tenha sido, na verdade, o ponto de partida de muitas filosofias políticas modernas (como a de Locke, por exemplo), o fato de Hegel começar por aqui não atesta nenhuma suposição ontológica de que o indivíduo conscientemente disposto e portador de direitos seja o átomo básico a partir do qual toda a sociedade pode ser entendida enquanto construção — uma noção que está no cerne das teorias padrão do contrato social. Em vez disso, esse é simplesmente o ponto de partida mais imediato da apresentação de Hegel e corresponde a pontos de partida análogos da Fenomenologia e da Lógica. Assim como as categorias da Lógica se desenvolvem de forma a demonstrar que aquilo que, no início, havia sido concebido como simples, na verdade, só se torna determinado em virtude de ser uma parte funcional de alguma estrutura ou processo maior, aqui também se pretende demonstrar que qualquer sujeito simples, disposto e portador de direitos, só ganha sua determinação em virtude de um lugar que encontra para si em uma estrutura ou processo social maior e, em última análise, histórico. Assim, mesmo uma troca contratual (a interação social mínima para os teóricos do contrato) não deve ser pensada simplesmente como uma ocorrência consequente da existência de dois seres com desejos animais naturais e alguma racionalidade calculadora natural, como em Hobbes, por exemplo; em vez disso, o sistema de interação no qual ocorrem as trocas individuais (a economia) será tratado holisticamente como uma forma de vida social culturalmente moldada, na qual os desejos atuais dos indivíduos, bem como seus poderes de raciocínio, recebem formas determinadas. Hegel está bem ciente da modernidade característica dessa forma de vida social.
Aqui também se torna evidente que Hegel, retomando temas da Fenomenologia, segue Fichte ao tratar a propriedade em termos de uma análise de reconhecimento da natureza de tal direito. Uma troca contratual de mercadorias entre dois indivíduos envolve, por si só, um ato implícito de reconhecimento, na medida em que cada um, ao dar algo ao outro em troca do que deseja, está reconhecendo o outro como proprietário dessa coisa, ou, mais propriamente, do valor inalienável a ela associado (PR: §§72-81). Em contraste, essa propriedade seria negada em vez de reconhecida no caso de fraude ou roubo — formas de injustiça (Unrecht) nas quais o direito é negado em vez de reconhecido ou afirmado (§§82-93). Assim, o que diferencia a propriedade da mera posse é o fato de ela estar fundamentada em uma relação de reconhecimento recíproco entre dois sujeitos dispostos (§71 e observação). Ademais, é na relação de troca que podemos ver o que significa para Hegel o fato de os sujeitos individuais compartilharem uma vontade comum — uma noção que terá implicações importantes no que diz respeito à diferença entre a concepção de Estado de Hegel e a de Rousseau. Essa constituição interativa da vontade comum significa que, para Hegel, a identidade entre as vontades é alcançada por causa e não apesar das diferenças coexistentes entre as vontades particulares dos sujeitos envolvidos: embora os indivíduos contratantes desejem a mesma troca, em um nível mais concreto, eles o fazem com objetivos diferentes em mente. Cada um quer algo diferente com a troca. Sem essa diferença, ocorreria o tipo de absorção de sujeitos individuais em uma substância coletiva do tipo com que Hegel se preocupa em relação a Espinosa (observação no §258).
Hegel passa do quadro abstratamente individualista do Direito Abstrato para as determinações sociais da Sittlichkeit ou Vida Ética (PR: §142) por meio de considerações, primeiro, sobre o errado, a negação do certo (§§82-96) e a punição que esse errado implica na negação do errado e, portanto, na “negação da negação” do direito original (§§97-104) e, depois, sobre a moralidade, concebida mais ou menos como uma internalização das relações jurídicas externas pressupostas pela punição. A consideração da versão de Hegel sobre a abordagem retributivista da punição oferece um bom exemplo de seu uso da lógica da negação. Ao punir o criminoso, o Estado deixa claro para seus membros que é o reconhecimento do direito per se que é essencial para a vida social desenvolvida: o significado do reconhecimento do direito de outra pessoa na troca contratual não pode ser, tal como inicialmente poderia parecer aos participantes, simplesmente um meio instrumental pelo qual cada um obtém o que deseja do outro.
O tratamento dado por Hegel à punição também evidencia a continuidade de sua forma de conceber a estrutura e a dinâmica do mundo social com a de Kant, já que Kant também, em sua Metafísica da Moral, empregou a idéia da ação punitiva do Estado como uma negação do ato criminoso original. A concepção de Kant, baseada no modelo do princípio físico de ação e reação, foi estruturada pela categoria de comunidade ou interação recíproca, e foi concebida como envolvendo o que ele chamou de oposição real. Essa idéia de forças dinâmicas opostas parece formar uma espécie de modelo para a idéia de Hegel de contradição e o ponto de partida para sua concepção de reconhecimento recíproco. No entanto, é evidente que Hegel articula as estruturas de reconhecimento de maneiras mais complexas do que aquelas derivadas da categoria de comunidade proposta por Kant.
Em primeiro lugar, na análise de Hegel da Sittlichkeit, o tipo de socialidade encontrado na sociedade civil baseada no mercado deve ser entendido como dependente e em oposição contrastiva com a forma mais imediata encontrada na instituição da família: uma forma de socialidade mediada por um reconhecimento intersubjetivo quase natural enraizado no sentimento e na emoção — o amor (PR: §§ 158-60). (Essa dependência mostra como as determinações antropológicas não desaparecem simplesmente com o desenvolvimento de determinações mais psicológicas — elas são preservadas, bem como negadas, como no padrão do que é aufgehoben. Ela também mostra a dependência mútua das determinações da singularidade dos sujeitos atomísticos da sociedade civil e sua particularidade como membros (partes) de famílias concebidas holisticamente). Aqui Hegel parece ter estendido a noção de Fichte de reconhecimento legalmente caracterizado para os tipos de intersubjetividade humana abordados anteriormente por Hölderlin e pelos românticos. Na família, a particularidade de cada indivíduo tende a ser absorvida pela unidade social (cada um é parte de sua família), dando a essa manifestação de Sittlichkeit uma unilateralidade que é o inverso daquela encontrada nas relações de mercado, nas quais os participantes se percebem, em primeira instância, como indivíduos singulares [einzeln] auto-idênticos que, em seguida, entram em relacionamentos que lhes são externos.
Esses dois princípios opostos, mas interligados, da existência social fornecem as estruturas básicas em termos das quais as partes componentes do Estado moderno são articuladas e compreendidas. Como ambos contribuem com características particulares para os sujeitos envolvidos neles, parte do problema para o Estado racional será garantir que cada um desses dois princípios seja o mediador do outro, mitigando assim a unilateralidade de cada um. Assim, os indivíduos que se encontram nas relações externas do mercado e que têm sua subjetividade moldada por essas relações também pertencem a famílias nas quais estão sujeitos a influências opostas. Ademais, mesmo dentro do conjunto de mecanismos de produção e troca da sociedade civil, os indivíduos pertencerão a particulares estamentos (o estamento agrícola, o do comércio e da indústria e o estamento universal dos servidores públicos (PR: §§199-208)), cujas formas internas de socialidade mostrarão características semelhantes às da família.
Embora os detalhes reais do mapeamento de Hegel das estruturas categóricas da Lógica para a Filosofia do Direito estejam longe de ser claros, a motivação geral é aparente. As categorias lógicas de Hegel podem ser lidas como uma tentativa de fornecer uma descrição esquemática das condições materiais (e não formais) necessárias para o desenvolvimento da auto-consciência, para a qual a racionalidade e a liberdade são maximizadas. Assim, podemos considerar os vários silogismos da Lógica Subjetiva de Hegel como tentativas de mapear as estruturas básicas dos diferentes tipos de intersubjetividade de reconhecimento necessários para sustentar vários aspectos do funcionamento cognitivo e conativo racional (auto-consciência). A partir dessa perspectiva, podemos ver sua esquematização lógica do estado racional moderno como uma forma de mostrar exatamente esses tipos de instituições mediadoras que um estado deve fornecer para responder à pergunta de Rousseau sobre a forma de associação necessária para a formação e expressão da vontade geral.
Concretamente, para Hegel, é a representação dos estados dentro dos órgãos legislativos que deve alcançar esse objetivo (PR: §§301-14). Como os estados da sociedade civil agrupam seus membros de acordo com seus interesses comuns, e como os deputados eleitos pelos estados para os órgãos legislativos dão voz a esses interesses nos processos deliberativos da legislação, o resultado desse processo pode dar expressão ao interesse geral. Porém, o republicanismo de Hegel é aqui equilibrado por sua invocação do princípio familiar: esses órgãos representativos só podem fornecer o conteúdo da legislação a um monarca constitucional que deve acrescentar a ele a forma do decreto real — um “eu quero…” individual (§§275-81). Declarar que, para Hegel, o monarca desempenha apenas um papel simbólico aqui é deixar de perceber a compleição fundamentalmente idealista de sua filosofia política. A expressão da vontade geral na legislação não pode ser pensada como um resultado de algum processo quase mecânico: ela deve ser desejada. Se a legislação deve expressar a vontade geral, os cidadãos devem reconhecê-la como expressão de suas vontades; e isso significa reconhecê-la como desejada. O “eu quero” explícito do monarca é, portanto, necessário para fechar esse círculo de reconhecimento, para que a legislação não pareça um compromisso mecânico resultante de um choque de interesses contingentes e, portanto, não seja ativamente desejada por ninguém. Assim, embora Hegel critique as teorias padrão do contrato social, sua própria concepção do Estado ainda é claramente uma transformação complicada das de Rousseau e Kant.
Talvez uma das partes mais influentes da Filosofia do Direito de Hegel diga respeito à sua análise das contradições da economia capitalista irrestrita. Por um lado, Hegel concordava com Adam Smith que a interligação das atividades produtivas permitida pelo mercado moderno significava que o “egoísmo subjetivo” se transformava em uma “contribuição para a satisfação das necessidades de todos os outros” (PR: §199). Mas isso não significa que ele aceitou a concepção de Smith de que essa “abundância geral” produzida se difundiu (ou “gotejou”) pelo resto da sociedade. A partir do tipo de consciência gerada na sociedade civil, na qual os indivíduos são compreendidos como portadores de direitos abstraídos das relações concretas específicas às quais pertencem, o otimismo smithiano pode parecer justificado. Mas isso simplesmente atesta a unilateralidade desse tipo de pensamento abstrato e a necessidade de ele ser mediado pelo tipo de consciência baseada na família, na qual os indivíduos são compreendidos em termos da maneira como pertencem ao corpo social. De fato, a operação irrestrita do mercado produz uma classe presa em uma espiral de pobreza. Partindo dessa análise, Marx mais tarde a utilizou como evidência da necessidade de abolir os direitos de propriedade individual no centro da sociedade civil de Hegel e socializar os meios de produção. Hegel, entretanto, não chegou a essa conclusão. Sua concepção do contrato de troca como uma forma de reconhecimento que desempenhava um papel essencial na capacidade do Estado de fornecer as condições para a existência de sujeitos racionais e de livre vontade certamente impediria tal ação. Em vez disso, a economia deveria estar contida em uma estrutura institucional abrangente do Estado, e seus efeitos sociais seriam compensados pela intervenção assistencialista. Algumas das críticas mais reveladoras de Hegel aos efeitos não mediados da sociedade civil moderna dizem respeito aos efeitos sobre a vida psicológica dos indivíduos. Recentemente, Axel Honneth (2010) desenvolveu uma abordagem da realidade social com origem hegeliana que usa a noção de reconhecimento para articular essas patologias, atestando a relevância contínua das análises de Hegel.
Filosofia da História
Os 20 parágrafos finais da Filosofia do Direito (e os 5 parágrafos finais da seção do espírito objetivo da Enciclopédia) são dedicados à história mundial (die Weltgeschichte) e também coincidem com o ponto de transição do espírito objetivo para o absoluto. Já vimos a relevância das questões históricas para Hegel no contexto da Fenomenologia do Espírito, de modo que uma série de diferentes formas de espírito objetivo pode ser compreendida em termos do grau em que elas permitem o desenvolvimento de uma auto-consciência universalizável capaz de racionalidade e liberdade. Hegel ampliaria essas idéias em uma série de palestras dadas cinco vezes durante seu período em Berlim, e foi por meio do texto montado com base nessas palestras por seu filho Karl que muitos leitores seriam apresentados às idéias de Hegel após sua morte.
A história mundial é composta pelas histórias de povos particulares, dentro dos quais o espírito assume algum “princípio particular, de acordo com o qual ele deve passar por um desenvolvimento de sua consciência e de sua realidade” (PM: §548). A mesma dialética que vimos operando entre as formas de consciência na Fenomenologia e entre as categorias ou determinações de pensamento na Lógica pode ser observada aqui. Uma comunidade histórica age de acordo com o princípio que informa sua vida social, a experiência e a memória dessa ação e as consequências que ela traz — uma memória codificada nas histórias que circulam na comunidade — faz com que esse princípio se torne disponível para a auto-consciência da comunidade, quebrando assim o imediatismo de sua operação. Essa perda de imediatismo provoca o declínio da comunidade, mas dá origem ao princípio de uma nova comunidade:
Ao se tornar objetivo e fazer desse seu ser um objeto de pensamento, [o espírito], por um lado, destrói a forma determinada de seu ser e, por outro lado, adquire uma compreensão do elemento universal que ele envolve e, assim, dá uma nova forma ao seu princípio inerente… [que] se transformou em outro e, de fato, em um princípio mais elevado. (PWH: 81)
Essa dialética que liga comunidades concretas em uma narrativa de desenvolvimento que mostra
o caminho da liberação para a substância espiritual, a ação pela qual o objetivo final absoluto do mundo é realizado nela, e a mente meramente implícita alcança a consciência e a auto-consciência. (PM: §549)
É uma dialética, entretanto, que só atravessa algumas comunidades. O relato de Hegel é claramente um relato eurocêntrico da história.
Assim, “a análise dos graus sucessivos [da história universal] em sua forma abstrata pertence à lógica” (PWH: 56), mas, mais uma vez, é preciso enfatizar que, assim como a filosofia da natureza, a filosofia da história não pretende, de algum modo, deduzir magicamente os fenômenos históricos empíricos reais, como a caneta de Krug; em vez disso, ela toma os resultados da história empírica real como seu material e tenta encontrar exemplificados nesse material os tipos de progressões categoriais da lógica. Assim, a atividade do historiador filosófico pressupõe a dos historiadores “originais” e “reflexivos” (WHP: 1-8). O mundo real está repleto de contingências das quais os historiadores empíricos já se abstraíram ao construir suas narrativas, por exemplo, ao escrever a partir de perspectivas nacionais específicas. Compreender a história filosoficamente, no entanto, será compreendê-la a partir da perspectiva da própria história-mundo, e isso proporciona a transição para o espírito absoluto, já que a história mundial será compreendida em termos da manifestação do que, em uma perspectiva religiosa, é chamado de “Deus” ou, em uma perspectiva filosófica, de “razão”. Hegel pensa claramente que há uma maneira de se relacionar cognitivamente com a história de uma forma que vai além do ponto de vista da consciência e do entendimento — o ponto de vista do que hoje pensamos como informação da história científica. Do ponto de vista da consciência, a história é algo que se sobrepõe a mim qua algo conhecido, mas, do ponto de vista da auto-consciência, compreendo essa história como a história daquilo que contribui para mim, como ser racional e livre.
3.2.3 Filosofia do Espírito Absoluto
O assunto dos 25 parágrafos finais da Enciclopédia Filosofia do Espírito, Espírito Absoluto, veio a ser expandido maciçamente no conteúdo de três séries diferentes de palestras sobre filosofia da arte, religião e história da filosofia, proferidas várias vezes durante a década de Hegel em Berlim. Reunidas e publicadas nos anos imediatamente após sua morte, essas foram as obras por meio das quais Hegel se tornaria conhecido como talvez o teórico sinóptico mais significativo desses fenômenos culturais. Em vez de tentar capturar a riqueza de seu pensamento em poucos parágrafos, o que seria inútil, tentarei apenas aludir à forma como esse material deve se basear nos recursos conceituais observados até agora.
A arte
Hegel estava escrevendo em uma época de intenso desenvolvimento de idéias sobre as artes. Kant havia tratado a experiência estética em grande parte em relação à experiência da beleza da natureza, mas para Hegel a estética se torna primordialmente sobre a arte. A razão para isso é simples: a arte é um meio objetivo pelo qual uma comunidade reflete coletivamente sobre si mesma, e a arte dos povos históricos deve ser entendida como a tentativa de trazer à consciência de seus membros a totalidade do que é. É como arte que “a consciência do Absoluto toma forma pela primeira vez” (PM: §556). A peculiaridade da arte está na sensorialidade do meio em que seu conteúdo é objetivado.
Na década de 1790, Friedrich Schiller e Friedrich Schlegel deram à estética uma dimensão histórica, distinguindo as formas de arte antiga e moderna em termos dos contrastes ingênuo-sentimental e clássico-romântico, respectivamente. Hegel adota a terminologia de Schlegel para distinguir como clássica a arte que prosperou nos mundos grego e romano da arte romântica dos tempos pós-clássicos. Também aqui, o romântico ou moderno será caracterizado pela profundidade de uma forma de consciência subjetiva individual que está ausente em grande parte na antiguidade. Mas os gregos da antiguidade, onde as determinações psicológicas estavam mais próximas das antropológicas, viviam com uma confortável sensação de unidade entre o espírito e o corpo e entre o indivíduo e a sociedade. Uma característica dos gregos era sua Heimatlichkeit — seu sentimento coletivo de estar em casa no mundo, pois cada um deles estava em casa em seu corpo. A subjetividade moderna é, portanto, adquirida às custas de um senso de abstração e alienação do mundo real e de si mesmo — uma consequência do modo como o sujeito moderno se relacionou com seu corpo de uma maneira diferente.
Hegel, influenciado pelo trabalho de um antigo colega, o filólogo de Heidelberg Friedrich Creuzer, acrescenta à categorização de formas de arte de Schlegel uma categoria adicional de arte simbólica, caracterizando as culturas materiais das antigas civilizações orientais, como a Pérsia, a Índia e o Egito. A arte simbólica das religiões panteístas do Oriente usava elementos naturais para simbolizar os deuses de suas culturas: O zoroastrismo utilizou a luz, por exemplo, para simbolizar o divino (Aes I: 325), e a adoração de animais foi encontrada nos egípcios (Aes I: 357). Porém, essas coisas atuais precisavam ser distinguidas do que se pretendia simbolizar com elas, de modo que era necessário violentar essas formas naturais na tentativa de representar o absoluto — esses produtos culturais tornavam-se, assim, “bizarros, grotescos e de mau gosto” (Aes I: 77). Isso, no entanto, prejudicou sua função inicial, e os gregos conseguiram oferecer uma solução dialética para essa contradição. Eles deram expressão ao Absoluto ou à Idéia tomando como material a forma especificamente humana, mas somente sob a condição de que ela fosse tornada “isenta de toda a deficiência do puramente sensível da finitude contingente do mundo fenomenal”. No entanto, mesmo quando idealizado na escultura grega, por exemplo, o deus grego representado ainda é um objeto de “intuição ingênua e imaginação sensível” (Aes I: 77-8) e, como tal, os deuses clássicos continham o germe de seu próprio declínio, pois não podiam evitar
as finitudes inerentes ao antropomorfismo [que] pervertem os deuses no inverso do que constitui a essência do substancial e divino (Aes I: 502-4)
Será necessária uma nova forma de arte para resolver essas contradições, e isso é proporcionado pela arte romântica. Contudo, o material para essa forma não virá de dentro da própria arte. Enquanto a arte grega pode ser entendida como pertencente simultaneamente aos domínios estético e religioso, a arte romântica resulta de uma cisão dentro do domínio simbólico do que, na Fenomenologia, Hegel tratou como uma única categoria, Arte-Religião. A transição da arte clássica para a arte romântica representa tanto uma liberação da arte em relação à religião quanto da religião em relação à arte e ao sensorial. Assim, o cristianismo, cujos rituais giravam em torno do mito de Deus se tornando homem na pessoa de Jesus, evitou o tipo de dependência das belas produções da arte que caracterizava as religiões gregas. A mudança da arte clássica para a romântica, portanto, representa uma mudança mais ampla entre uma cultura cuja autoridade final era estética e uma cultura na qual essa autoridade foi transferida para a religião e, portanto, representa uma mudança na autoridade de diferentes formas cognitivas. Essa perda de autoridade final é o significado da tese de Hegel, muitas vezes mal compreendida, da morte da arte.
Para uma discussão mais aprofundada, consulte o verbete sobre a estética de Hegel.
Religião
É bem sabido que, após a morte de Hegel em 1831, seus seguidores logo se dividiram em facções de esquerda, centro e direita sobre a questão da religião. Uma disputa sobre uma atitude filosófica hegeliana adequada em relação à religião foi desencadeada pela publicação, em 1835-1866, de A Vida de Jesus Criticamente Examinada, de David Strauss — a direita conservadora alegando que o hegelianismo refletia a ortodoxia cristã, enquanto a esquerda o via como uma doutrina humanista relativa à emancipação histórica da humanidade. De fato, as implicações da filosofia de Hegel para a crença religiosa foram controversas desde sua ascensão à proeminência na década de 1820. Embora declarasse oficialmente que a filosofia e a religião tinham o mesmo conteúdo — Deus —, Hegel afirmava que a forma conceitual da filosofia lidava com esse conceito de maneira mais desenvolvida do que a forma representacional imagística da religião. Muitos oponentes suspeitavam que o conceito de Deus havia sido esvaziado de seu significado apropriado no processo das traduções filosóficas de Hegel, e alguns suspeitavam que Hegel fosse panteísta ou ateu. Em última análise, então, a fonte dos efeitos corrosivos da filosofia de Hegel sobre a religião poderia de fato parecer ser a insistência de que o conteúdo da crença religiosa, como tudo o mais, fosse fundamentado em considerações racionais, de fato lógicas — a coerência lógica do próprio sistema filosófico — e não em algo como a revelação.
Nos escritos que produziu na década de 1790, Hegel demonstrou uma clara atração pelo tipo de arte-religião popular da Grécia antiga, em contraste com o cristianismo, cujas doutrinas relacionadas ao outro mundo não refletiam o tipo de Heimatlichkeit que ele valorizava no mundo antigo, e é comum ver a adoção posterior do cristianismo que Hegel descreveu como “a religião consumada” como uma expressão do conservadorismo cultural e político de seus últimos anos. No entanto, isso subestima a complexidade das visões em evolução de Hegel sobre filosofia e religião. As limitações do sentimento grego de estar em casa no mundo tinham a ver com a incapacidade da vida e do pensamento gregos de sustentar a dimensão da existência humana que se reflete na categoria de singularidade do sujeito. O destino de Sócrates representou, portanto, a incompatibilidade última com a própria forma de vida grega do tipo individual, o indivíduo reflexivo que poderia questionar qualquer crença e se posicionar contra as convenções. Incompatibilidades semelhantes podem ser vistas refletidas nas tragédias gregas, como Antígona.
Com o declínio do mundo grego e a ascensão do mundo romano, movimentos como o estoicismo e o cristianismo viriam a dar expressão a um ponto de vista individual, mas sob as condições sociais de Roma ou da Idade Média, esse ponto de vista subjetivo só poderia ser alienado e atraído pelo que, em contraste com a concretude grega, seria visto como abstrações. Antes do mundo moderno, não havia lugar real na vida cotidiana ou na cultura filosófica para qualquer versão não-alienada da posição reflexiva ou subjetiva que havia surgido com Sócrates — nenhuma forma de vida em que essa dimensão individual da subjetividade humana pudesse se sentir em casa. No entanto, o cristianismo marcou um tipo de avanço em relação ao estoicismo, pois suas doutrinas sobre a natureza de uma vida boa tinham um exemplo deste mundo. Assim, ao descrever a doutrina do sábio estóico, Hegel parecia gostar de citar a máxima de Cícero de que ninguém pode dizer quem é esse sábio (LHP II: 250-1, 256). Foi a abstração da concepção dos estóicos sobre o homem bom que foi respondida pelo novo culto religioso centrado na vida do Cristo histórico.
Nesse sentido, o cristianismo marcou um avanço definitivo em relação aos cultos religiosos de base mais intuitiva pelos quais Hegel fora atraído em sua juventude, mas seria somente no mundo moderno que o conteúdo das idéias centrais do cristianismo poderia receber a expressão adequada. Assim, Hegel trata o catolicismo medieval como algo ainda preso às abstrações de um reino transcendente e como preso a um tipo de leitura literal das Vorstellungen dessa religião — suas imagens. Cristo deve, de alguma forma, se tornar um exemplo do gênero humano em geral, que é o portador último do status de ser o filho de Deus. Com efeito, é a suposta singularidade da categoria filho de Deus que deve ser trazida de volta à relação com a universalidade do gênero humano. É a natureza desse resultado que dividiu os seguidores de Hegel em seus campos de direita e esquerda. A compreensão do que Hegel quer dizer com o conceito de religião, por sua vez, está ligada à compreensão do que ele quer dizer com filosofia. Apropriadamente, a Filosofia da Religião passa assim para a forma final do Espírito Absoluto, a Filosofia — uma ciência que é a “unidade da Arte e da Religião” (PM: §572). Os meros seis parágrafos dedicados a essa ciência na Enciclopédia e que tratam quase que exclusivamente da relação da filosofia com a religião seriam expandidos para os três volumes maciços publicados postumamente sobre a história (filosófica) da filosofia, com base em várias fontes, incluindo transcrições de alunos de sua série de palestras em Berlim.
História da Filosofia
Na época de Hegel, só recentemente a concepção de que a filosofia tinha um desenvolvimento histórico havia entrado em foco. Fichte e Schelling haviam discutido a idéia de uma história da razão após a alusão de Kant a essa noção nas páginas finais da Crítica da Razão Pura, e abordagens sistemáticas da história da filosofia haviam surgido, como a de W.G. Tennemann, que pressupunha um tipo de estrutura kantiana. Claramente, a história da filosofia de Hegel seria centrada no presente, na qual a narrativa filosófica revelaria um desenvolvimento que chegaria ao seu ponto culminante representado por sua própria filosofia. É, portanto, previsivelmente eurocêntrica: a filosofia “começa no Ocidente” porque é no Ocidente que “essa liberdade de auto-consciência surge pela primeira vez” (LHP I: 99). Entretanto, há uma ressalva importante a ser acrescentada aqui. A filosofia é frequentemente identificada com a capacidade de pensamento abstrato, e isso não se limita à Europa e à sua história. Pelo contrário, é típico das culturas orientais, como as da Índia e da China. Como vimos no contexto da arte, Hegel identifica a cultura grega com um tipo de bem-estar no mundo — o que poderíamos pensar como o oposto de uma tendência à abstração e sua típica atração pelo transcendente ou pelo outro mundo.
A filosofia grega, e portanto a própria filosofia, começa com Tales e a filosofia natural jônica. Quando Tales escolheu a água como “o princípio e a substância de tudo o que existe” (LHP I: 175), ele abstraiu o conceito de água do material imediatamente encontrado em poças e assim por diante. Tentativas posteriores de especificar o que está por trás de todas as coisas mostram influências da abstração oriental, como no numericismo de Pitágoras, que é estático e “destituído de processo ou dialética” (LHP I: 212), mas pensadores posteriores, como Zenão e Heráclito, compreendem o que está no centro das coisas de maneiras mais dinâmicas. Esse tipo de pensamento dialético que capta a unidade dos opostos, conhecido da Fenomenologia e da Lógica, é concretizado no diálogo Parmênides de Platão (LHP I: 261). O que estamos testemunhando aqui, é claro, pretende ser uma progressão que, em certo sentido, espelha a progressão das categorias na própria Lógica de Hegel, mas essa progressão do conteúdo objetivo se une a outra dinâmica com o surgimento de Sócrates.
Sócrates era mais do que um filósofo: ele era uma “pessoa histórica mundial” — um “ponto de inflexão principal [Hauptwendepunkt] do espírito sobre si mesmo” que se exibia em seu pensamento filosófico (LHP I: 384). Em suma, Sócrates acrescentou uma dimensão subjetiva à vida moral natural dos cidadãos atenienses, pois os desafiou a encontrar os princípios não das coisas do mundo, mas de suas próprias ações, e os desafiou a encontrá-los dentro dos recursos de suas próprias consciências individuais.
Nele, vemos de forma preeminente a interioridade da consciência que, de forma antropológica, existia primeiramente nele e que mais tarde se tornou algo comum. (LHP I: 391)
Com isso, vemos “a substância moral [Sittlichkeit] transformar-se em moralidade reflexiva [Moralität]” e “o reflexo da consciência em si mesma”. “O espírito do mundo aqui começa a se transformar, uma transformação que mais tarde foi levada à sua conclusão” (LHP I: 407). Essa conclusão só seria alcançada na modernidade porque, como vimos, o desafio de Sócrates à convenção em termos de recursos retirados da própria consciência individual era incompatível com o imediatismo da Sittlichkeit grega.
Platão e, especialmente, Aristóteles representam o auge da filosofia antiga, mas essa filosofia, por maior que seja, representa seu tempo, ou seja, o tempo da forma grega de espírito, elevada ao nível do pensamento. Nem Platão nem Aristóteles podem se libertar em pensamento da contradição entre a concepção de subjetividade autônoma representada por Sócrates e a coletividade essencial da cultura grega. A filosofia grega clássica sucumbirá da mesma forma que a polis grega sucumbe às suas próprias contradições internas, e o que acabará por substituí-la será um tipo de filosofar limitado pelas restrições doutrinárias da nova religião, o cristianismo. Mas o cristianismo, como vimos, representa uma solução para o problema da subjetividade encontrada na forma de Sócrates.
A filosofia propriamente dita só prospera sob condições de presença no mundo, e essas condições não existiam nem no mundo romano nem no medieval. Hegel, então, vê ambos os períodos da filosofia como efetivamente marcando o tempo, e é somente no mundo moderno que ela volta a se desenvolver. O que a filosofia moderna refletirá é a universalização do tipo de subjetividade que vimos representada por Sócrates na polis grega e por Jesus na comunidade religiosa cristã. Estranhamente, Hegel nomeia duas figuras muito antitéticas para marcar o início da filosofia moderna, Francis Bacon e o místico cristão alemão Jacob Böhme (LHP III: 170-216). Nas palestras de 1825-1866, a partir daí Hegel traça o caminho da filosofia moderna por meio de três fases: um primeiro período de metafísica compreendendo Descartes, Espinosa e Malebranche; um segundo tratando de Locke, Leibniz e outros; e as filosofias recentes de Kant, Fichte, Jacobi e Schelling. É claro que a perspectiva a partir da qual essa narrativa foi escrita é o estágio final ausente nessa sequência — aquele representado pelo próprio Hegel. Hegel conclui as palestras com a afirmação de que ele
tentou mostrar sua (essa série de configurações espirituais) procissão necessária de uma para a outra, de modo que cada filosofia pressupõe necessariamente a que a precede. Nosso ponto de vista é a cognição do espírito, o conhecimento da idéia como espírito, como espírito absoluto, que, como absoluto, se opõe a outro espírito, ao espírito finito. Reconhecer que o espírito absoluto pode ser, pois ele é o princípio e a vocação desse espírito finito. (LHP 1825-6, III: 212)
Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: di**********************@***il.com

Bibliografia
German Works
- Gesammelte Werke. Edited by the Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1968–.
- Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Edited by Pierre Garniron and Walter Jaeschke. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983–.
- Werke in zwanzig Bänden. Edited by Eva Moldenhauer and Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1971.
English Translations of Key Texts
- [ETW], Early Theological Writings, translated by T.M. Knox, Chicago: Chicago University Press, 1948.
- The Difference Between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy, translated by H.S. Harris and W. Cerf, Albany: State University of New York Press, 1977.
- [Phen], Phenomenology of Spirit, translated by Terry Pinkard, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [SL], The Science of Logic, translated by George di Giovanni, New York: Cambridge University Press, 2010.
- Encyclopaedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline. Part 1: Logic, translated and edited by Klaus Brinkmann and Daniel O. Dahlstrom, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [PN], Hegel’s Philosophy of Nature. 3 volumes, translated and with an introduction by Michael John Petry, London: George Allen and Unwin, 1970.
- [PM], Hegel’s Philosophy of Mind, translated from the 1830 Edition, together with the Zusätze by William Wallace and A.V. Miller, with Revisions and Commentary by M. J Inwood, Oxford: Clarendon Press, 2007.
- Lectures on the Philosophy of Spirit, 1827–8, translated with an Introduction by Robert R. Williams, Oxford: Oxford University Press. (Translation of G.W.F. Hegel: Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, vol. 13.)
- [PR], Elements of the Philosophy of Right, edited by Allen W. Wood, translated by H.B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- [PWH], The Philosophy of World History, edited and translated by John Sibree, New York: Dover, 1956. (First published 1857.)
- [LHP 1822–3], Lectures on the Philosophy of World History. Volume 1: Manuscripts of the Introduction and the Lectures of 1822–3, edited and translated by Robert F. Brown and Peter C. Hodgson with the assistance of William G. Geuss, Oxford: Oxford University Press, 2011. (Translation of G.W.F. Hegel: Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, vol. 12.)
- [Aes], Aesthetics: Lectures on Fine Art, 2 volumes, translated by T.M. Knox, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Lectures on the Philosophy of Religion, 3 Volumes, edited by Peter C. Hodgson, translated by R.F. Brown, P.C. Hodgson, and J. M Stewart with the assistance of H.S. Harris, Oxford: Oxford University Press, 2007–8. (Translation of G.W.F. Hegel: Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, vols. 3–5.)
- [LHP], Lectures on the History of Philosophy. 3 volumes, translated by E.S. Haldane and F.H. Simson, with introduction by F.C. Beiser, Lincoln: University of Nebraska Press, 1995. (This translation first published 1892–6 is of the second edition of Hegel’s Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in 3 volumes, edited by Karl Ludwig Michelet. Berlin: Duncker und Humblot, 1840–44.)
- [LHP 1825–6], Lectures on the History of Philosophy: 1825–6, 3 volumes, edited by Robert F. Brown, translated by R.F. Brown and J.M. Stewart with the assistance of H.S. Harris, Oxford: Oxford University Press, 2006–9. (Translation of G.W.F. Hegel: Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, vols. 6–9.)
- Political Writings, ed. Laurence Dickey and H.B. Nisbet, trans. H. B Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Secondary Literature
General Works and Anthologies
- Baur, Michael (ed.), 2014, G.W.F. Hegel: Key Concepts, Abingdon: Routledge.
- Beiser, Frederick C., 1993, The Cambridge Companion to Hegel, Cambridge: Cambridge University Press.
- –––, 2002, German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- –––, 2005, Hegel, New York and London: Routledge.
- –––, 2008, The Cambridge Companion to Hegel & Nineteenth Century Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
- –––, 2014, After Hegel: German Philosophy, 1840–1900, Princeton: Princeton University Press.
- Bykova, Marina F. and Kenneth R. Westphal, 2020, The Palgrave Hegel Handbook, London: Palgrave.
- Burbidge, John, 2013, Historical Dictionary of Hegelian Philosophy, second edition, Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
- DeLaurentiis, Allegra and Jeffrey Edwards (eds), 2013, The Bloomsbury Companion to Hegel, London: Continuum Press.
- Deligiorgi, Katerina, 2006, Hegel: New Direction, Bucks, UK: Acumen.
- Houlgate, Stephen and Michael Baur (eds), 2011, A Companion to Hegel, Oxford: Blackwell.
- Inwood, Michael., 1992, A Hegel Dictionary, Oxford: Blackwell.
- Jaeschke, Walter, 2010, Hegel Handbuch: Leben-Werk-Schule, second edition, Stuttgart: Verlag J.B. Melzler.
- Moyar, Dean, 2017, The Oxford Handbook to Hegel, Oxford: Oxford University Press.
- Stern, Robert (ed.), 1993, G.W.F. Hegel: Critical Assessments, 4 volumes, London: Routledge.
- Taylor, Charles, 1975, Hegel, Cambridge: Cambridge University Press.
Life, Work, and Influence
- Althaus, Horst, 2000, Hegel: An Intellectual Biography, translated by Michael Tarsh, Cambridge: Polity Press.
- Harris, H.S., 1972, Hegel’s Development: Toward the Sunlight 1770–1801, Oxford: Clarendon Press.
- –––, 1983, Hegel’s Development II: Night Thoughts (Jena 1801–6), Oxford: Oxford University Press.
- Lukács, Georg, 1975, The Young Hegel, translated by R. Livingston, London: Merlin Press.
- Moggach, Douglas (ed.), 2006, The New Hegelians: Politics and Philosophy in the Hegelian School, Cambridge University Press, Cambridge.
- Pinkard, Terry, 2000, Hegel: A Biography, Cambridge: Cambridge University Press.
- Toews, John, 1985, Hegelianism: The Path toward Dialectical Humanism, 1805–1841, Cambridge: Cambridge University Press.
Phenomenology of Spirit
- Brandom, Robert, 2019, A Spirit of Trust: A Reading of Hegel’s Phenomenology, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Forster, Michael N., 1998, Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit, Chicago: University of Chicago Press.
- Harris, H.S., 1997, Hegel’s Ladder, 2 volumes, Indianapolis: Hackett.
- Kojève, Alexandre, 1969, Introduction to the Reading of Hegel, edited by Allan Bloom and translated by J.H. Nichols, Jr., New York: Basic Books.
- McDowell, John. H., 2006, “The Apperceptive I and the Empirical Self: Towards a Heterodox Reading of ‘Lordship and Bondage’ in Hegel’s Phenomenology”, in Hegel: New Directions, edited by Katerina Deligiorgi, Chesham: Acumen, 33–48.
- McDowell, John. H., 2018, “What is the Phenomenology About?”, in McDowell and Hegel: Perceptual Experience, Thought and Action, edited by Federico Sanguinetti and Andre J. Abath, Cham: Springer.
- Moyar, Dean and Michael Quante (eds), 2008, Hegel’s Phenomenology of Spirit: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pinkard, Terry, 1994, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pippin, Robert R., 2010, Hegel on Self-Consciousness: Desire and Death in the Phenomenology of Spirit, Princeton: Princeton University Press.
- Pöggeler, Otto, 1973, Hegels Idee einer Phänomenologies des Geistes, Freiburg: Karl Alber.
- Siep, Ludwig, 2014, Hegel’s Phenomenology of Spirit, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stern, Robert, 2002, Routledge Philosophy Guidebook to Hegel and the Phenomenology of Spirit, London: Routledge.
- Westphal, Kenneth R., 2003, Hegel’s Epistemology: A Philosophical Introduction to the Phenomenology of Spirit, Indianapolis: Hackett.
- Westphal, Kenneth R. (ed.), 2009, The Blackwell Guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit, Oxford: Blackwell.
- Westphal, Merold, 1998, History and Truth in Hegel’s Phenomenology. Bloomington: Indiana University Press.
Logic and Metaphysics
- Bowman, Brady, 2013, Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity, Cambridge: Cambridge University Press.
- Brandom, Robert B., 2002, Tales of the Mighty Dead: Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- –––, 2014, “Some Hegelian Ideas of Note for Contemporary Analytic Philosophy”, Hegel Bulletin, 35(1): 1–15.
- Brinkmann, Klaus, 2011, Idealism without Limits: Hegel and the Problem of Objectivity. Dordrecht: Springer.
- Bristow, William F., 2007, Hegel and the Transformation of Philosophical Critique, New York: Oxford University Press.
- Carlson, David Gray (ed.), 2005, Hegel’s Theory of The Subject, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Di Giovanni, George, 2010, “Introduction” to G.W.F. Hegel, The Science of Logic, translated by George di Giovanni, New York: Cambridge University Press.
- Doz, Andre, 1987, La logique de Hegel et les problèmes traditionnels de l’ontologie, Paris: Vrin.
- Fulda, Hans Friedrich, 1965, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik, Frankfurt am Main: Klostermann.
- Gadamer, Hans-Georg, 1976b, Hegel’s Dialectic: Five Hermeneutical Studies, translated by P. Christopher Smith, New Haven: Yale University Press.
- Hartmann, Klaus, 1972, “Hegel: A Non-Metaphysical View”, in A. MacIntyre (ed.) Hegel: A Collection of Critical Essays, New York: Anchor Books, 101–24.
- Horstmann, Rolf-Peter, 1984, Ontologie und Relationen, Königstein/Tannus: Athenäum-Hain.
- –––, 2006, “Substance, Subject and Infinity: A Case Study of the Role of Logic in Hegel’s System”, in Katerina Deligiorgi (ed.), Hegel: New Directions, Chesham: Acumen, 69–84.
- Hösle, Vittorio, 1987, Hegels System: Der Idealismus der Subjectivität und das Problem der Intersubjectivität, 2 volumes, Hamburg: Meiner Verlag.
- Houlgate, Stephen, 2005b, The Opening of Hegel’s Logic: From Being to Infinity, Purdue University Press.
- Kreines, James, 2006, “Hegel’s Metaphysics: Changing the Debate”, Philosophy Compass, 1(5): 466–80.
- Longuenesse, Béatrice, 2007, Hegel’s Critique of Metaphysics, translated by Nicole J. Simek, New York: Cambridge University Press.
- Ng, Karen, 2020. Hegel’s Concept of Life: Self-Consciousness, Freedom, Logic, Oxford: Oxford University Press.
- Pinkard, Terry, 2012, Hegel’s Naturalism: Mind, Nature, and the Final Ends of Life, New York: Oxford University Press.
- Pippin, Robert B., 1989, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pippin, Robert B., 2019, Hegel’s Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in the Science of Logic, Chicago: University of Chicago Press.
- Redding, Paul, 2017. “Findlay’s Hegel: Idealism as Modal Actualism”, in Critical Horizons, 18(2): 359–377.
- Rosen, Michael, 1984, Hegel’s Dialectic and Its Criticism, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosen, Stanley, 2013, The Idea of Hegel’s “Science of Logic”, Chicago: University of Chicago Press.
- Stern, Robert, 2009, Hegelian Metaphysics. Oxford: Oxford University Press.
Philosophy of Nature/Science
- Ferrini, Cinzia, 2011, “The Transition to Organics: Hegel’s Idea of Life”, in A Companion to Hegel, edited by Stephen Houlgate and Michael Baur, Chichester: Wiley-Blackwell, 203–224.
- Houlgate, Stephen (ed.), 1998, Hegel and the Philosophy of Nature. Albany: State University of New York Press.
- Kreines, James, 2008, “The Logic of Life: Hegel’s Philosophical Defense of Teleological Explanation of Living Beings”, In Hegel and Nineteenth Century Philosophy, edited by Frederic C. Beiser, New York: Cambridge University Press, 344–77.
- Petry, Michael John (ed.), 1993, Hegel and Newtonianism. Dordrecht: Kluwer.
- Posch, Thomas, 2011, “Hegel and the Sciences”, in A Companion to Hegel, edited by Stephen Houlgate and Michael Baur, Chichester: Wiley-Blackwell, 177–202.
- Stone, Alison, 2005, Petrified Intelligence: Nature in Hegel’s Philosophy, Albany: State University of New York Press.
- Westphal, Kenneth, 2008, “Philosophizing about Nature: Hegel’s Philosophical Project”, in The Cambridge Companion to Hegel & Nineteenth Century Philosophy, edited by Frederick C. Beiser, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 281–310.
Philosophy of Subjective Spirit
- DeVries, Willem, 1988, Hegel’s Theory of Mental Activity: An Introduction to Theoretical Spirit, Ithaca: Cornell University Press.
- Nuzzo, Angelica, 2013a, “Anthropology, Geist, and the Soul-Body Relation: The Systematic Beginning of Hegel’s Philosophy of Spirit,” in Essays on Hegel’s Philosophy of Subjective Spirit: Imaginative Transformation and Ethical Action in Literature, edited by David Stern, Albany: State University of New York Press, 1–18.
- Stern, David, 2013, Essays on Hegel’s Philosophy of Subjective Spirit: Imaginative Transformation and Ethical Action in Literature, Albany: State University of New York Press.
- Williams, Robert R., 1992, Recognition: Fichte and Hegel on the Other, Albany: State University of New York Press.
- –––, 2007, “Translator’s Introduction”, to G.W.F. Hegel, Lectures on the Philosophy of Spirit, 1827–8, translated with an Introduction by Robert R. Williams. Oxford: Oxford University Press.
Philosophy of Objective Spirit/Practical and Political Philosophy/Philosophy of History
- Avineri, Shlomo, 1972, Hegel’s Theory of the Modern State, Cambridge: Cambridge University Press.
- Comay, Rebecca, 2010, Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution, Stanford: Stanford University Press.
- Dickey, Laurence, 1987, Hegel: Religion, Economics, and Politics of Spirit, 1770–1807, Cambridge: Cambridge University Press.
- Franco, Paul, 1999, Hegel’s Philosophy of Freedom, New Haven: Yale University Press.
- Honneth, Axel, 1995, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, translated by J. Anderson, Cambridge, MA: MIT Press.
- –––, 2010, The Pathologies of Individual Freedom: Hegel’s Social Theory, translated by. L. Lob, Princeton: Princeton University Press.
- Ikäheimo, Heikki and Arto Laitinen (eds) 2011, Recognition and Social Ontology, Leiden and Boston: Brill.
- Moyar, Dean, 2011, Hegel’s Conscience, Oxford: Oxford University Press.
- Neuhouser, Frederick, 2000, Foundations of Hegel’s Social Theory: Actualizing Freedom, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Pelczynski, Z.A. (ed.), 1984, The State and Civil Society: Studies in Hegel’s Political Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pinkard, Terry, 2017, Does History Make Sense? Hegel on the Historical Shapes of Justice, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Pippin, Robert B., 2008, Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life, Cambridge: Cambridge University Press.
- Popper, Karl, 1945, The Open Society and Its Enemies, Vol. 2: Hegel, Marx, and the Aftermath, London: Routledge, 1945.
- Quante. Michael, 2004, Hegel’s Concept of Action, translated by Dean Moyar, New York: Cambridge University Press.
- Siep, Ludwig, 1979, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie: Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg: Karl Alber Verlag.
- Tunick, Mark, 1992, Hegel’s Political Philosophy, Princeton University Press.
- Williams, Robert R., 1997, Hegel’s Ethics of Recognition, Berkeley: University of California Press.
- Wood, Allen W., 1990, Hegel’s Ethical Thought, Cambridge: Cambridge University Press.
- Yeomans, Christopher, 2012, Freedom and Reflection: Hegel and the Logic of Agency, New York: Oxford University Press.
Aesthetics
- James, David, 2009, Art, Myth and Society in Hegel’s Aesthetics, London: Continuum.
- Moland, Lydia L., Hegel’s Aesthetics: The Art of Idealism, Oxford: Oxford University Press.
- Moggach, Douglas (ed.), 2011, Politics, Religion, and Art: Hegelian Debates, Evanston IL.: Northwestern University Press.
- Peters, Julia, 2014, Hegel on Beauty, London: Routledge.
- Pippin, Robert B., 2013, After the Beautiful: Hegel and the Philosophy of Pictorial Modernism, Chicago: University of Chicago Press.
- Reid, Jeffrey, 2014, The Anti Romantic: Hegel Against Ironic Romanticism, London: Bloomsbury.
- Rutter, Benjamin, 2010, Hegel on the Modern Arts, Cambridge: Cambridge University Press.
Religion
- Bubbio, Paolo Diego, 2017, God and the Self in Hegel: Beyond Subjectivism, Albany: State University of New York Press.
- Burbidge, John. W., 1992, Hegel on Logic and Religion: The Reasonableness of Christianity, Albany: State University of New York Press.
- Farneth, Molly. 2017. Hegel’s Social Ethics: Religion, Conflict, and Rituals of Reconciliation, Princeton: Princeton University Press.
- Crites, Stephen, 1998, Dialectic and Gospel in the Development of Hegel’s Thinking, University Park: Pennsylvania State University Press.
- Dorian, Gary, 2012, Kantian Reason and Hegelian Spirit: The Idealistic Logic of Modern Theology, Chichester: Wiley Blackwell.
- Hodgson, Peter C., 2005, Hegel and Christian Theology: A Reading of the Lectures on the Philosophy of Religion, New York: Oxford University Press.
- Jaeschke, Walter, 1990, Reason in Religion: The Foundations of Hegel’s Philosophy of Religion, translated by J.M. Stewart and Peter Hodgson, Berkeley: University of California Press.
- Kolb, David (ed.), 1992, New Perspectives on Hegel’s Philosophy of Religion, Albany: State University of New York Press.
- Lewis, Thomas A., 2011, Religion, Modernity and Politics in Hegel, New York: Oxford University Press.
- Nuzzo, Angelica (ed.), 2013b, Hegel on Religion and Politics, Albany: State University of New York Press.
- Wallace, Robert M., 2005, Hegel’s Philosophy of Reality, Freedom, and God, Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams, Robert R., 2012, Tragedy, Recognition, and the Death of God: Studies in Hegel & Nietzsche, New York: Oxford University Press.
History of Philosophy
- De Laurentiis, Allegra, 2005, Subjects in the Ancient and Modern World: On Hegel’s Theory of Subjectivity, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ferrarin, Alfredo, 2001, Hegel and Aristotle, Cambridge: Cambridge University Press.
- Forster, Michael N., 1989, Hegel and Skepticism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Gadamer, Hans-Georg, 1976a, “Hegel and the Dialectic of the Ancient Philosophers”, in Hegel’s Dialectic: Five Hermeneutical Studies, translated and with an Introduction by P. Christopher Smith, New Haven: Yale University Press, 5–34.
- Halper, Edward C., 2003, “Positive and Negative Dialectics: Hegel’s Wissenschaft der Logik and Plato’s Parmenides”, in Platonismus im Idealismus: Die platonische Tradition in der klassischen deutschen Philosophie, edited by Burkhard Mojsisch and Orrin F. Summerell, Munich: K.G. Saur Verlag, 211–45.
- McCumber, John, 2014, Hegel’s Mature Critique of Kant, Stanford: Stanford University Press.
- Melamed, Yitzhak Y., 2010, “Acosmism or Weak Individuals? Hegel, Spinoza, and the Reality of the Finite”, Journal of the History of Philosophy, 48(1): 77–92.
- Moyar, Dean, 2012, “Thought and Metaphysics: Hegel’s Critical Reception of Spinoza”, in Spinoza and German Idealism, edited by Eckart Förster and Yitzhak Y. Melamed, Cambridge UK: Cambridge University Press, 197–213.
- Sedgwick, Sally, 2012, Hegel’s Critique of Kant: From Dichotomy to Identity, New York: Oxford University Press.
Academic Tools
- How to cite this entry.
- Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
- Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
- Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.
Other Internet Resources
- Hegel Society of America Home Page
- Extensive Bibliography by Andrew Chitty
Related Entries
Fichte, Johann Gottlieb | Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: aesthetics | Hölderlin, Johann Christian Friedrich | Jacobi, Friedrich Heinrich | Kant, Immanuel | Marx, Karl | Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von
Acknowledgments
I am grateful to the section editor Allen Wood for very helpful suggestions and corrections in relation to an earlier draft of this entry.
Este artigo foi publicado originalmente no site Plato Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/hegel/